Download E-Book (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SC Braga Gil Vicente FC
JORNADA 20 SC Braga Gil Vicente FC Sábado, 08 de Fevereiro 2020 - 18:00 Estádio Municipal de Braga, Braga ORGANIZADOR POWERED BY Jornada 20 SC Braga X Gil Vicente FC 2 Confronto histórico Ver mais detalhes SC Braga 36 15 11 Gil Vicente FC GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 109 golos marcados, uma média de 1,76 golos/jogo 58% 24% 18% 55 golos marcados, uma média de 0,89 golos/jogo TOTAL SC BRAGA (CASA) GIL VICENTE FC (CASA) CAMPO NEUTRO J SCB E GVFC GOLOS SCB E GVFC GOLOS SCB E GVFC GOLOS SCB E GVFC GOLOS Total 62 36 15 11 109 55 24 6 2 69 24 12 9 9 40 31 0 0 0 0 0 Liga NOS 37 18 11 8 57 34 11 5 2 34 14 7 6 6 23 20 0 0 0 0 0 Taça de Portugal 6 5 1 0 15 4 5 0 0 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 II Divisão 18 13 2 3 35 15 8 1 0 20 6 5 1 3 15 9 0 0 0 0 0 Allianz Cup 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, SCB=SC Braga, GVFC=Gil Vicente FC FACTOS SC BRAGA FACTOS GIL VICENTE FC TOTAIS TOTAIS 58% derrotas 82% em que marcou 68% em que marcou 68% em que sofreu golos 82% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 9 Jogos a vencer 1944-02-06 -> 0000-00-00 1 Jogos a vencer 3 Jogos sem vencer 1997-02-16 -> 2000-05-07 9 Jogos sem vencer 1944-02-06 -> 0000-00-00 1 Jogos a perder 9 Jogos a perder 1944-02-06 -> 0000-00-00 9 Jogos sem perder 1944-02-06 -> 0000-00-00 3 Jogos sem perder 1997-02-16 -> 2000-05-07 RECORDES SC BRAGA: MAIOR VITÓRIA EM CASA Liga Portuguesa 1993/94 SC Braga 4-0 Gil Vicente FC Camp Nac II Div GA S4 46/47 SC Braga 5-1 Gil Vicente FC SC BRAGA: MAIOR VITÓRIA FORA Camp Nac II Div GA S4 46/47 Gil Vicente FC 1-5 -

June 2020 the International Journal Dedicated to Football
The international journal dedicated to football law # 13 - June 2020 Football Legal # 1 - June 2014 Special Report: Third Party Ownership (TPO) Football Legal # 2 - December 2014 Special Report: Financial Controls of Football Clubs Football Legal # 3 - June 2015 Special Report: The new Regulations on Working with Intermediaries Football Legal # 4 - December 2015 Special Report: International Football Justice Football Legal # 5 - June 2016 Special Report: TPO/TPI: an update Football Legal # 6 - November 2016 Special Report: Broadcasting & Media Rights in Football Leagues Football Legal # 7 - June 2017 Special Report: Minors in Football Football Legal # 8 - December 2017 Special Report: Data in Football Football Legal # 9 - June 2018 Special Report: Termination of Players’/Coaches’ Contracts Football Legal # 10 - December 2018 Special Report: Integrity in Football Football Legal # 11 - June 2019 Special Report: Major Football Competitions: Key Legal Challenges & Ongoing Reforms Football Legal # 12 - December 2019 Special Report: Private Football Academies Football Legal # 13 - June 2020 Special Report: Challenges in Football Facing COVID-19 Subscriptions: www.football-legal.com © Football Legal 2020 - All rights reserved worldwide ISSN: 2497-1219 EDITORIAL BOARD Saleh ALOBEIDLI Eugene KRECHETOV Lawyer, Saleh Alobeidli Advocates Lawyer, Eksports Law Dubai - UNITED ARAB EMIRATES Moscow - RUSSIA José Luis ANDRADE Andrew MERCER ECA General Counsel Acting General Counsel & Legal Director, AFC Nyon - SWITZERLAND Kuala Lumpur - MALAYSIA Nasr El -

Under-21 Championship
UNDER-21 CHAMPIONSHIP - 2013/15 SEASON MATCH PRESS KITS Ander Stadium - Olomouc Saturday 27 June 2015 18.00CET (18.00 local time) Portugal Matchday 4 - Semi-finals Germany Last updated 14/06/2019 12:26CET UEFA UNDER 21 OFFICIAL SPONSORS Previous meetings 2 Match background 3 Squad list 6 Match officials 8 Competition facts 9 Match-by-match lineups 12 Team facts 16 Legend 19 1 Portugal - Germany Saturday 27 June 2015 - 18.00CET (18.00 local time) Match press kit Ander Stadium, Olomouc Previous meetings Head to Head UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 28/05/2006 GS-FT Germany - Portugal 0-1 Guimaraes João Moutinho 90+4 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Schweinsteiger 41; 02/06/2004 GS-FT Germany - Portugal 1-2 Mainz Hugo Almeida 24, Lourenço 78 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 05/09/1997 QR (GS) Germany - Portugal 1-1 Frankfurt (Oder) Schroth 1; Carlitos 57 Caires 74; Michalke 13/12/1996 QR (GS) Portugal - Germany 1-2 Leiria 52, 55 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 15/10/1985 QR (GS) West Germany - Portugal 2-0 Karlsruhe Thon 50, Eckstein 85 Jorge Silva 17, 80; 23/02/1985 QR (GS) Portugal - West Germany 2-1 Lisbon Foda 78 (P) Final Qualifying Total tournament Home Away Pld W D L Pld W D L Pld W D L Pld W D L GF GA Total Portugal 2 1 0 1 2 0 1 1 2 2 0 0 6 3 1 2 7 7 Germany 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 2 6 2 1 3 7 7 2 Portugal - Germany Saturday 27 June 2015 - 18.00CET (18.00 local time) Match press kit Ander Stadium, Olomouc Match background Group B winners Portugal meet Group A runners-up Germany in the first of Saturday's two semi-finals at the 2015 UEFA European Under-21 Championship. -
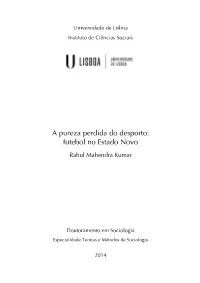
Tese Final Rahul
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais A pureza perdida do desporto: futebol no Estado Novo Rahul Mahendra Kumar Doutoramento em Sociologia Especialidade Teorias e Métodos de Sociologia 2014 Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais A pureza perdida do desporto: futebol no Estado Novo Rahul Mahendra Kumar Tese orientada pelo Professor Doutor José Manuel Sobral Doutoramento em Sociologia Especialidade Teorias e Métodos de Sociologia Tese apoiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia Bolsa de Doutoramento SFRH/BD/44577/2008 2014 Índice Agradecimentos i Resumo iv Abstract v Introdução 1 I. Sociogénese do campo desportivo português _ Introdução 21 _ Os primórdios do desporto em Portugal: uma prática distintiva 22 _ Comité Olímpico Português e o modelo aristocrático-militar 31 _ Alargamento e popularização do campo desportivo: o ciclismo e o boxe 38 _ A difusão do futebol e o crescimento da sociedade civil 48 _ Associativismo e ecletismo: dois traços fundamentais das organizações desportivas nacionais 52 _ A formação dos quadros competitivos e a popularização do jogo 55 _ O futebol no Algarve e o desenvolvimento do sector conserveiro: um estudo de caso 59 _ Olhanense campeão: a vitória do futebol popular 65 _ Os primeiros passos do semi-profissionalismo: o início e o fim do amor à camisola 71 _ A imprensa e a produção de uma narrativa desportiva 79 _ A selecção nacional nos Jogos Olímpicos de 1928: Cândido de Oliveira e António Ferro 83 _ Conclusão 94 II. Estado Novo e o desporto: ideologias e instituições _ Introdução -

BP722 Final.Pmd
Quinta-feira Director: José Santos Alves 0.70¤ 29 Agosto 2013 Ano XXXVII n.º 722 III Série Sub-director: Francisco Fonseca www.barcelos-popular.pt Portugal 4750 Barcelos Porte Pago Taxa Paga QR Code Entre no nosso site com o seu smartphone Semanário Regional, Democrático e Independente AUTÁRQUICAS INFOMAIL PROVOCA INDIGNAÇÃO GENERALIZADA ELEIÇÕES Candidatos do PSD/CDS/PPM, PS e MIB à UF de Câmara acusada de fazer Freguesia de Bar- celos, V. F. S. Mar- tinho/S. Pedro e campanha eleitoral Vila Boa. P.2,3 Executivo municipal gasta milhares de euros Oposição de esquerda compara PS a PSD e ARCOZELO fala em campanha descarada. P. 7 Centro Escolar muda em folhetos de propaganda. de local sem qualquer explicação. P.6 ASSEMBLEIA Assembleia Municipal para isentar Intermar- ché de taxas. P. 6 VILACOVA Estrada da Rua da Serra ainda não foi pavimentada. P.9 EUROPEU TIRO Adelino Rocha e João Faria conquistam me- dalha de bronze. P.21 Sete incêndios FESTAS Romarias a Santa Jus- ta em Negreiros e Se- nhora das Águas em em quatro dias Rio Covo de Santa Eulália. P.13 P.10 Barcelos Popular www.barcelos-popular.pt 2 29 Agosto 2013 AUTÁRQUICAS 2013 Carlos Gomes, candidato da coligação PSD/CDS/PPM à UF Barcelos, VFS Martinho, S. Pedro e Vila Boa “Quero fazer da Junta uma Câmara em ponto pequeno” Pedro Granja da, que se o PS o tivesse 3 funcionários, todos os menta que o interior da Texto e foto convidado “não tinha dias na sede, até à meia- freguesia seja “só bura- problema nenhum” em noite. -

Download Publico Lisboa 22.08.2021
Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A. Abrirbrir poportasrtas onondede se eerguemrguem murosmuros Director: Manuel Carvalho Domingo, 22 de AAgostogosto de 22021020 1 • Ano XXXII • n.º 11.440 • EdiçãoEdiç Lisboa • Assinaturas 808 200 095 • 1,80€ AfeganistãoA Cultura RedeR ligada à A pandemia Al-QaedaA garante da covid-19 seguranças em Cabul não matou o cante Mundo,M 16/17 Cultura, 24/25 JOANA F. BASTOS Só foram pedidos 1696 cartões do adepto e o FC Porto Ɗcou com 60% Nas últimas semanas, tem subido de o intuito de reforçar a segurança, mas tom a polémica em redor do cartão tem motivado contestação da parte do adepto, documento do qual dos adeptos e de alguns clubes. Espe- depende o acesso a zonas especíÆcas cialistas afastam suspeitas de incons- dos estádios. A medida avançou com titucionalidade Destaque, 2 a 4 Carta aberta de Vascoo Lourenço a Paulo Rangelngel Opinião Coronel escreve sobre o papel doss capitães de Abril e ainda de Otelo Política,, 11 Comboios Ligação Lisboa-Sevilha pode durar três horas e meia Associação espanhola diz que basta electriÆcar 200 quilómetros de via férrea já existente para aproximar Sevilha de Lisboa Economia, 20 Ensino superior Futebol Houve 63 mil Sporting e Testemunho candidatos. Mais Benfica firmes A violência invisível 1203 do que no na frente do das mães narcisistas ano anterior campeonato P2 Mais de 63 mil estudantes candida- Campeão bateu a Belenenses SAD, taram-se à primeira fase do concurso enquanto os “encarnados” ganharam ao ensino superior público, o maior em Barcelos e somam três vitórias em número desde 1996 Sociedade, 14 três jogos Desporto, 27 a 29 ISNN-0872-1548 e14a97b4-0df9-4766-8624-79d9d71e3bc7 Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. -

Prospecto FC Porto SAD 2011-2014 06052011 Versão Clean
FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD Sociedade Aberta Capital Social: € 75.000.000 Capital Próprio: € 21.769.423 (aprovado em Assembleia Geral de 25 de Novembro de 2010) Sede Social: Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente, Piso 3, 4350-451 Porto Matriculada na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal 504 076 574 PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO AO EURONEXT LISBON DA EURONEXT LISBON SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A., DE UM MONTANTE MÁXIMO DE 2.000.000 OBRIGAÇÕES NOMINATIVAS, ESCRITURAIS DE VALOR NOMINAL DE 5 EUROS CADA, REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA “FC PORTO SAD 20112014” ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E LIDERANÇA CONJUNTA 6 DE MAIO DE 2011 1 ÍNDICE CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO 7 1.1. Responsáveis pelo Prospecto 7 1.2. Dados Quantitativos e Calendário previsto para a Oferta 9 1.3. Dados Financeiros Seleccionados, Motivos da Oferta, Afectação de Receitas e Factores de Risco 9 1.3.1. Dados Financeiros Seleccionados ..................................................................................................................... 9 1.3.2. Motivos da Oferta e Afectação das Receitas ..................................................................................................10 1.3.3. Factores de Risco ...........................................................................................................................................10 1.3.4 Advertências complementares ..........................................................................................................................12 -

Quando Acordou Já Era Tarde Para O Galo Cantar
Publicidade BRAGA PARQUES INFANTIS Violações à interdição estão a deixar autarcas preocupados Págs. 4 e 5 VIEIRA DO MINHO Oferta turística esgotada Correio nos meses de Págs.Julho 6 e 7e Agosto Pág. 10 VIANA DO CASTELO Avança recuperação ecológica do Minho.pt de cinco monumentos naturais Pág. 11 QUINTA 2 JULHO 2020 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXI Série VI N.º 11494 DIÁRIO € 1,00 IVA Inc. REABRIRAM AS FRONTEIRAS TERRESTRES ENTRE PORTUGAL E ESPANHA VOLTARAM A TOCAR-SE Págs. 12 a 14 Publicidade SC BRAGA CUSTÓDIO DEIXOU COMANDO SPORTING CP 2 ARTUR JORGE LIDERA GUERREIROS GIL VICENTE 1 Pág. 17 DE TERÇA A SEGUNDA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA DDE 3300 DEE JUNHOJUNH A 0606 DEDO DE JULHOJ6 ULHO BRAGA PARQUE PPAARQUE I LIGA ,99 Quando acordou € 6 kg % já era tarde para MAISMAAIIS DE 200 o galo cantar Pág. 15 Publicidade 2 Publicidade 2 de Julho 2020 correiodominho.pt correiodominho.pt 2 de Julho 2020 3 Destaque Covid-19 COVID-19 Portugal com mais três MORTES mortos e 313 infectados 42,454 1,579 (+3) NÚMERO de pessoas em Unidade de Cuidados Intensivos aumentou, sendo Casos Confirmados RECUPERADOS agora mais seis. Internadas estão 503 (mais doze do que no dia anterior). 27,798 (+293) PORTUGAL CASOS SUSPEITOS + 313 NOVOS CASOS 382,818 (+2,000) Portugal Foco de infeção 17585 confirmado em fábrica NORTE de conservas de Vila do Conde Um foco de covid-19 foi detecta- 4121 do numa fábrica de conservas CENTRO em Vila do Conde, após algumas trabalhadoras terem testado po- sitivo ao novo coronavirus. 19383 LISBOA O número total trabalhadoras in- E VALE DO fectadas não foi divulgado pela TEJO Administração Regional de Saú- 491 de, que apenas confirmou “a ALENTEJO existência de casos” e garantiu que “já está em marcha um pla- no de ação para lidar com a si- 632 tuação”. -

Take Away Tentar Sobreviver À Pior Das Crises
Publicidade Correio Publicidade do Minho.pt QUINTA 21 JANEIRO 2021 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXII Série VI N.º 11690 DIÁRIO € 1,00 IVA Inc. TAÇA DE LIGA SC BRAGA 2 - BENFICA 1 GUERREIROS DEFRONTAM SPORTING NA FINAL JÁ ESTÁ! Págs. 14 a 17 CARLOS CARVALHAL “Queremos muito ganhar este troféu em ano de centenário” PAULO CUNHA/LUSA ESPECIALISTAS DEBATERAM NA UMINHO MERCADO MUNICIPAL DE BRAGA PÓVOA DE LANHOSO Covid-19: “Todos os dias está Há dias que não entra um tostão Executivo camarário reduz dívida a cair um Airbus em Portugal” no bolso dos comerciantes em cerca de 7 milhões de euros Pág. 5 Pág. 8 Pág. 9 Publicidade RESTAURAÇÃO Leite fresco Pingo Doce O primeiro TAKE AWAY EOMEGRěKĂECkiO TENTAR FGDGMGSěCRCNKMCĚ SOBREVIVER 677€ 0, Unid. À PIOR DAS CRISES Págs. 2 e 3 POUPE BEM VIVA MELHOR correiodominho.pt2 1 de Setembro 2016 21 de Janeiro 2021 correiodominho.pt13 Braga Take way e entregas ao domicílio ajudam restaurante a sobreviver à pior das crises SÃO MUITOS os restaurantes que estão a servir refeições em take away e com entregas ao domicílio. É a única ‘bóia de salvação’ de um sector que procura resistir às inúmeras restrições, mas os empresários assumem que é claramente insuficiente. RESTAURAÇÃO | Paula Maia | “Comecei do zero, trabalhei de dia e de noite. Vou lutar até ao fim”. A voz de Ascensão Quin- tas, gerente e proprietária de um dos mais conceituados restau- rantes dos concelho, o Flor de Sal, espelha o desânimo que se vive no sector, mas também o sentimento de resiliência dos empresários da restauração que desde Março de 2020 enfrentam fortes restrições do desempenho da sua actividade. -

CD Feirense Vilafranquense
JORNADA 19 CD Feirense Vilafranquense Sábado, 06 de Fevereiro 2021 - 11:00 Estádio Marcolino Castro, Santa Maria da Feira POWERED BY Jornada 19 CD Feirense X Vilafranquense 2 Confronto histórico Ver mais detalhes CD Feirense 8 3 2 Vilafranquense GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 20 golos marcados, uma média de 1,54 golos/jogo 62% 23% 15% 12 golos marcados, uma média de 0,92 golos/jogo TOTAL CD FEIRENSE (CASA) VILAFRANQUENSE (CASA) CAMPO NEUTRO J CDF E UDV GOLOS CDF E UDV GOLOS CDF E UDV GOLOS CDF E UDV GOLOS Total 13 8 3 2 20 12 5 1 0 11 4 3 2 2 9 8 0 0 0 0 0 Liga Portugal SABSEG 3 2 1 0 7 1 1 0 0 2 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 II Divisão 2 2 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 II Divisão B 8 4 2 2 10 10 3 1 0 7 3 1 1 2 3 7 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, CDF=CD Feirense, UDV=Vilafranquense FACTOS CD FEIRENSE FACTOS VILAFRANQUENSE TOTAIS TOTAIS 85% em que marcou 62% derrotas 46% em que sofreu golos 46% em que marcou MÁXIMO 85% em que sofreu golos 3 Jogos a vencer 1987-09-06 -> 2000-02-06 MÁXIMO 2 Jogos sem vencer 2002-05-05 -> 2002-11-10 2 Jogos a vencer 2002-05-05 -> 2002-11-10 2 Jogos a perder 2002-05-05 -> 2002-11-10 7 Jogos sem vencer 1987-09-06 -> 2002-01-06 7 Jogos sem perder 1987-09-06 -> 2002-01-06 3 Jogos a perder 1987-09-06 -> 2000-02-06 2 Jogos sem perder 2002-05-05 -> 2002-11-10 RECORDES CD FEIRENSE: MAIOR VITÓRIA EM CASA LigaPro 19/20 CD Feirense 2-0 Vilafranquense II B Centro 02/03 CD Feirense 3-1 Vilafranquense CD FEIRENSE: MAIOR VITÓRIA FORA SABSEG 20/21 Vilafranquense 0-4 CD Feirense VILAFRANQUENSE: MAIOR -

Gil Vicente FC SC Braga
JORNADA 3 Gil Vicente FC SC Braga Domingo, 25 de Agosto 2019 - 20:30 Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos ORGANIZADOR POWERED BY Jornada 3 Gil Vicente FC X SC Braga 2 Confronto histórico Ver mais detalhes Gil Vicente FC 11 14 35 SC Braga GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 54 golos marcados, uma média de 0,9 golos/jogo 18% 23% 58% 107 golos marcados, uma média de 1,78 golos/jogo TOTAL GIL VICENTE FC (CASA) SC BRAGA (CASA) CAMPO NEUTRO J GVFC E SCB GOLOS GVFC E SCB GOLOS GVFC E SCB GOLOS GVFC E SCB GOLOS Total 60 11 14 35 54 107 9 8 12 30 39 2 6 23 24 68 0 0 0 0 0 Liga NOS 36 8 10 18 33 56 6 5 7 19 22 2 5 11 14 34 0 0 0 0 0 Taça de Portugal 5 0 1 4 4 14 0 1 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 II Divisão 18 3 2 13 15 35 3 1 5 9 15 0 1 8 6 20 0 0 0 0 0 Allianz Cup 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, GVFC=Gil Vicente FC, SCB=SC Braga FACTOS GIL VICENTE FC FACTOS SC BRAGA TOTAIS TOTAIS 82% em que marcou 58% derrotas 68% em que sofreu golos 68% em que marcou MÁXIMO 82% em que sofreu golos 9 Jogos a vencer 1944-02-06 -> 0000-00-00 MÁXIMO 3 Jogos sem vencer 1997-02-16 -> 2000-05-07 1 Jogos a vencer 1 Jogos a perder 9 Jogos sem vencer 1944-02-06 -> 0000-00-00 9 Jogos sem perder 1944-02-06 -> 0000-00-00 9 Jogos a perder 1944-02-06 -> 0000-00-00 3 Jogos sem perder 1997-02-16 -> 2000-05-07 RECORDES GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA EM CASA II Divisão ZN 71/72 Gil Vicente FC 3-0 SC Braga SuperLiga 2002/2003 Gil Vicente FC 3-0 SC Braga GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA FORA Liga Portuguesa 1992/93 SC Braga 0-1 Gil Vicente -

SL Benfica Gil Vicente FC
JORNADA 5 SL Benfica Gil Vicente FC Sábado, 14 de Setembro 2019 - 19:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Luz), Lisboa ORGANIZADOR POWERED BY Jornada 5 SL Benfica X Gil Vicente FC 2 Confronto histórico Ver mais detalhes SL Benfica 30 7 4 Gil Vicente FC GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 83 golos marcados, uma média de 2,02 golos/jogo 73% 17% 10% 24 golos marcados, uma média de 0,59 golos/jogo TOTAL SL BENFICA (CASA) GIL VICENTE FC (CASA) CAMPO NEUTRO J SLB E GVFC GOLOS SLB E GVFC GOLOS SLB E GVFC GOLOS SLB E GVFC GOLOS Total 41 30 7 4 83 24 17 2 2 44 8 12 5 2 37 15 1 0 0 2 1 Liga NOS 36 26 6 4 73 22 14 2 2 37 8 12 4 2 36 14 0 0 0 0 0 Taça de Portugal 3 2 1 0 7 1 2 0 0 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Allianz Cup 2 2 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 J=Jogos, E=Empates, SLB=SL Benfica, GVFC=Gil Vicente FC FACTOS SL BENFICA FACTOS GIL VICENTE FC TOTAIS TOTAIS 73% derrotas 73% vitórias 46% em que marcou 85% em que marcou 85% em que sofreu golos 46% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 2 Jogos a vencer 1994-10-15 -> 1995-03-11 7 Jogos a vencer 2012-01-22 -> 2014-01-25 7 Jogos a perder 2012-01-22 -> 2014-01-25 2 Jogos sem vencer 2000-12-17 -> 2001-05-13 2 Jogos sem perder 2000-12-17 -> 2001-05-13 2 Jogos a perder 1994-10-15 -> 1995-03-11 RECORDES SL BENFICA: MAIOR VITÓRIA EM CASA Taça Portugal 13/14 SL Benfica 5-0 Gil Vicente FC I Divisão 1991/92 SL Benfica 5-0 Gil Vicente FC Liga ZON Sagres 12/13 SL Benfica 5-0 Gil Vicente FC SL BENFICA: MAIOR VITÓRIA FORA Liga NOS 14/15 Gil Vicente FC 0-5 SL Benfica GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA