LARA CARRARO VARGAS.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Universidade Estadual Do Maranhão Programa De Pós-Graduação Em Agroecologia Curso De Mestrado Em Agroecologia
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA CURSO DE MESTRADO EM AGROECOLOGIA LEONARDO DE JESUS MACHADO GOIS DE OLIVEIRA ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA MICOTECA “PROF.° GILSON SOARES DA SILVA” DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. São Luís – MA 2016 LEONARDO DE JESUS MACHADO GOIS DE OLIVEIRA Engenheiro Agrônomo ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA MICOTECA “PROF.° GILSON SOARES DA SILVA” DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da Universidade Estadual do Maranhão, como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Agroecologia. Orientador(a): Prof.ª Dr.ª Antonia Alice Costa Rodrigues São Luís – MA 2016 ii LEONARDO DE JESUS MACHADO GOIS DE OLIVEIRA Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da Universidade Estadual do Maranhão, como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Agroecologia. Orientador: Prof. Dr.ª Antonia Alice Costa Rodrigues. Aprovada em: 07 / 10 / 2016 Comissão Julgadora: ____________________________________________________ Profa. Dr.ª Antonia Alice Costa Rodrigues - Universidade Estadual do Maranhão (Orientadora) ________________________________________________ Prof. Dr. Gilson Soares da Silva - Universidade Estadual do Maranhão ____________________________________________________ Profa. Dr.ª Maria Claudene Barros - Universidade Estadual do Maranhão São Luís 2016 iii Ao Senhor Deus, alicerce de minhas atitudes aqui na Terra, Aos meus pais, Iris e Manoel pelo amor e esforço a mim dedicados, Aos meus irmãos Leonam, Débora e Diego e as irmãs de coração Bruna e Adriana. DEDICO! iv AGRADECIMENTOS Á Deus, por ter me guiado e removido todos os obstáculos do meu caminho. Á Profª Dra. Antonia Alice Costa Rodrigues, pelos ensinamentos, incentivos e amizade, nesse processo tão importante da minha vida que foi o Mestrado. -

Consistent Association of Fungus Fusarium Mangiferae Britz with Mango Malformation Disease in Pakistan
African Journal of Biotechnology Vol. 10(27), pp. 5286-5290, 15 June, 2011 Available online at http://www.academicjournals.org/AJB DOI: 10.5897/AJB11.313 ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals Full Length Research Paper Consistent association of fungus Fusarium mangiferae Britz with mango malformation disease in Pakistan Zafar Iqbal1*, Sohail Hameed2, Naeem Akhtar1, Muhammad Aslam Pervez3, Salman Ahmad1, Muhammad Yasin1, Muhammad Asif1, Altaf Ahmad Dasti4 and Ahmad Saleem5 1University College of Agriculture, University of Sargodha, Sargodha, Pakistan. 2National Institute of Biotechnology and Genetic Engineering (NIBGE), Faisalabad, Pakistan. 3Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan 4Department of Botany, Bahauddin Zakaria University, Multan, Pakistan. 5Punjab Agricultural Research Board (PARB), Lahore, Pakistan. Accepted 25 April, 2011 Mango malformation disease (MMD) deforms the natural shape of panicles and shoots. The disease incitant is of great concern due to its complexity and mode of infection. Recently, a new species Fusarium mangiferae Britz was confirmed as the etiological agent of MMD in African and Asian clade. There was a need to confirm the fungus in other Asian countries. We investigated the association of F. mangiferae with malformed branches of five exotic and five indigenous cultivars of Mangifera indica L. in Pakistan. F. mangiferae proved to be the dominant fungus hosting majority of the malformed tissues. Among the indigenous cultivars, maximum tissue infection of 96.66% was found in cultivar Anwar Rataul and minimum was found in cultivar Late Chaunsa (48.33%). In exotic ones, maximum and minimum infections of 97.33 and 70.67% were noted in the cultivars Sensation and Pop, respectively. -

Endophytes in Maize (Zea Mays) in New Zealand
Lincoln University Digital Thesis Copyright Statement The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). This thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of the Act and the following conditions of use: you will use the copy only for the purposes of research or private study you will recognise the author's right to be identified as the author of the thesis and due acknowledgement will be made to the author where appropriate you will obtain the author's permission before publishing any material from the thesis. Endophytes in Maize (Zea mays) in New Zealand A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science at Lincoln University by Jennifer Joy Brookes Lincoln University 2017 Abstract of a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science. Abstract Endophytes in Maize (Zea mays) in New Zealand by Jennifer Joy Brookes The aim of this study was to isolate fungal endophytes from maize in New Zealand (NZ) and to select endophytes with potential to reduce insect pests and/or plant diseases. Culture methods were used to isolate 322 isolates of fungi belonging to four phyla from maize (Zea mays L.) plants. Plants were sampled over two growing seasons (2014 and 2015) in two regions of NZ. Morphological and molecular (ITS rDNA sequencing) techniques were used to identify the fungi. The most common genera recovered were Fusarium, followed by Alternaria, Trichoderma, Epicoccum, Mucor, Penicillium and Cladosoprium spp. Of the Acomycota isolates, 33 genera from 6 classes were recovered. -

A Worldwide List of Endophytic Fungi with Notes on Ecology and Diversity
Mycosphere 10(1): 798–1079 (2019) www.mycosphere.org ISSN 2077 7019 Article Doi 10.5943/mycosphere/10/1/19 A worldwide list of endophytic fungi with notes on ecology and diversity Rashmi M, Kushveer JS and Sarma VV* Fungal Biotechnology Lab, Department of Biotechnology, School of Life Sciences, Pondicherry University, Kalapet, Pondicherry 605014, Puducherry, India Rashmi M, Kushveer JS, Sarma VV 2019 – A worldwide list of endophytic fungi with notes on ecology and diversity. Mycosphere 10(1), 798–1079, Doi 10.5943/mycosphere/10/1/19 Abstract Endophytic fungi are symptomless internal inhabits of plant tissues. They are implicated in the production of antibiotic and other compounds of therapeutic importance. Ecologically they provide several benefits to plants, including protection from plant pathogens. There have been numerous studies on the biodiversity and ecology of endophytic fungi. Some taxa dominate and occur frequently when compared to others due to adaptations or capabilities to produce different primary and secondary metabolites. It is therefore of interest to examine different fungal species and major taxonomic groups to which these fungi belong for bioactive compound production. In the present paper a list of endophytes based on the available literature is reported. More than 800 genera have been reported worldwide. Dominant genera are Alternaria, Aspergillus, Colletotrichum, Fusarium, Penicillium, and Phoma. Most endophyte studies have been on angiosperms followed by gymnosperms. Among the different substrates, leaf endophytes have been studied and analyzed in more detail when compared to other parts. Most investigations are from Asian countries such as China, India, European countries such as Germany, Spain and the UK in addition to major contributions from Brazil and the USA. -

Taxonomy and Population Genetics of Fusarium Subglutinans Sensu La to on Pine and Mango
TAXONOMY AND POPULATION GENETICS OF FUSARIUM SUBGLUTINANS SENSU LA TO ON PINE AND MANGO Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Philosophiae Doctor in the Faculty of Natural and Agricultural Science University of Pretoria Pretoria Supervisor: Prof. M. J. Wingfield Co-supervisors: Prof. T. A. Coutinho Prof. B. D. Wingfield Prof. W. F. O. Marasas © University of Pretoria Fusarium subglutinans sensu lata is a complex of fungi, which are the causal agents of important diseases on a wide variety of plants. Two important diseases caused by F. subglutinans sensu lata are pitch canker and mango malformation. F. subglutinans sensu lata isolates causing pitch canker on pine trees have been described as a separate species, F. circinatum, whereas F. subglutinans sensu lata isolates associated with mango malformation have not been formally described. The objective of study was to clarify the taxonomy and population genetics of the pitch canker and mango malformation fungi residing in the Gibberella fujikuroi complex. The introductory chapter of this thesis provides a reVlew of the taxonomic classifications used for Fusarium spp. in the G. fujikuroi complex. In addition, the current knowledge pertaining to the population structure of the pitch canker and mango malformation fungi is discussed. In the second chapter the occurrence of F. circinatum was investigated in Mexico. Fusarium isolates were collected from pine trees in Mexico and identified as F. circinatum. Morphology, sexual compatibility studies, pathogenicity tests and histone H3-RFLPs were used to identify and characterize this fungus. The pitch canker fungus, F. circinatum and its teleomorph, G. circinata has been recently described. -

Taxonomy of Species Within the Gibberella Fujikuroi Complex by ADRIAANA JACOBS Submitted in Partial Fulfilment of the Requiremen
Taxonomy of species within the Gibberella fujikuroi complex BY ADRIAANA JACOBS Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of PHILOSOPHIAE DOCTOR In the Faculty of Natural and Agricultural Sciences University of Pretoria Pretoria May 2010 Study leaders: Prof. T.A. Coutinho Prof. M. J. Wingfield Prof. B. D. Wingfield Prof. W.F.O. Marasas 0 © University of Pretoria I, Adriaana Jacobs declare that the thesis, which I hereby submit for the degree of Philosophiae Doctor at the University of Pretoria, is my own work and has not previously been submitted by me for a degree at this or any other tertiary institution. Signature: Date: May 2010. Dedicated to Adriaan Albertus Koen, The man who inspired me to follow my dream 1 © University of Pretoria Table of contents Acknowledgements 6 Publications and presentations resulting from this study 8 Preface 10 Chapter 1: Species concepts in Fusarium with specific reference to species in Fusarium subglutinans sensu lato 1. Introduction 13 2. Species concepts used in the demarcation of Fusarium species 13 2.1. Taxonomic history 14 2.2. Morphological species concept in Fusarium 16 2.2.1. The influence of culture media on the morphology of Fusarium species 16 2.2.2. Conidial morphology and its use in Fusarium taxonomy 18 2.2.3. Biochemical and phenotypic characters 19 2.2.4. Toxins produced by species of Fusarium 20 2.3. The Biological species concept 21 2.3.1. Aspects pertaining to the implementation of the Biological species concept in Fusarium 22 2.3.2. Biological species in Fusarium 23 2.4. -

Two New Species of Fusarium Section Liseola Associated with Mango Malformation
Mycologia, 94(4), 2002, pp. 722±730. q 2002 by The Mycological Society of America, Lawrence, KS 66044-8897 Two new species of Fusarium section Liseola associated with mango malformation Henriette Britz1 two new taxa in the section Liseola that we have Emma T. Steenkamp named F. mangiferae and F. sterilihyphosum. Fusarium Teresa A. Coutinho2 mangiferae is conspeci®c with strains that were pre- Department of Microbiology and Plant Pathology, viously identi®ed as F. subglutinans and reported to Forestry and Agricultural Biotechnology Institute be the causal agent of malformation in mango grow- (FABI), University of Pretoria, Pretoria 0002, ing areas throughout the world. Fusarium sterilihy- South Africa phosum, on the other hand, has been isolated only Brenda D. Wing®eld from malformed mango tissue in South Africa. Department of Genetics, Forestry and Agricultural Key Words: Gibberella fujikuroi complex, mango, Biotechnology Institute (FABI), University of Pretoria, taxonomy Pretoria 0002, South Africa Walter F. O. Marasas Programme on Mycotoxins and Experimental INTRODUCTION Carcinogenesis (PROMEC), Medical Research Council (MRC), P.O. Box 19070, Tygerberg, South Africa Mango (Mangifera indica L.) malformation is an eco- nomically important disease in mango-growing areas Michael J. Wing®eld of the world including India, Pakistan, Egypt, South Forestry and Agricultural Biotechnology Institute Africa, Brazil, Israel, Florida, and Mexico (Kumar et (FABI), University of Pretoria, Pretoria 0002, South Africa al 1993, Freeman et al 1999). This disease causes ab- normal development of vegetative shoots and in¯o- rescences (Kumar et al 1993). Floral malformation is Abstract: Mango malformation is an economically the most prominent symptom and is characterized by important disease of Mangifera indica globally. -

Tropical Fruit Crops and the Diseases That Affect Their Production - R.C
TROPICAL BIOLOGY AND CONSERVATION MANAGEMENT – Vol. III - Tropical Fruit Crops and the Diseases that Affect Their Production - R.C. Ploetz TROPICAL FRUIT CROPS AND THE DISEASES THAT AFFECT THEIR PRODUCTION R.C. Ploetz Department of Plant Pathology, University of Florida, Homestead, FL USA Keywords: banana, citrus, coconut, mango, pineapple, papaya, avocado, tropical fruit pathogens, Eubacteria, Eukaryota, Phytomonas, Oomycota, Pythium, Phytophthora, Botryosphaeria, Ceratocystis, Fusarium, Glomerella, Mycosphaerella, Nematoda, Candidatus Phytoplasma, Xanthomonas, viroid, virus, disease management Contents 1. Introduction 2. Significance of Diseases 3. General Categories of Plant Pathogens 4. Tropical Fruit Pathogens and the Diseases that they Cause 4.1. Eukayota 4.1.1. Kinetoplastida 4.1.2. Chromalveolata 4.1.3. Plantae 4.1.4. Fungi 4.1.5. Metazoa (the Animal Kingdom) 4.2. Eubacteria 4.2.1. Firmicutes (bacteria with Gram positive or no cell walls) 4.2.2. Proteobacteria (Gram negative bacteria) 4.3. Nucleic Acid-Based Pathogens 4.3.1. Viruses 4.3.2. Viroids 5. Interactions 6. Disease Epidemiology and Management 6.1. Epidemiological Principles 6.2. Avoidance 6.3. Exclusion 6.4. EradicationUNESCO – EOLSS 6.5. Protection 6.6. Resistance 6.7. Treatment of Diseased Plants 7. Conclusions SAMPLE CHAPTERS Glossary Bibliography Biographical Sketch Summary Tropical fruits are important components of natural ecosystems. A limited number of the thousands of species that exist are important to humans, and only 50 or so are significant commercial products. Diseases affect all of these crops. The pathogens are ©Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) TROPICAL BIOLOGY AND CONSERVATION MANAGEMENT – Vol. III - Tropical Fruit Crops and the Diseases that Affect Their Production - R.C. -
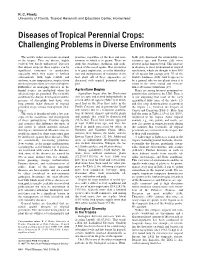
Diseases of Tropical Perennial Crops: Challenging Problems in Diverse Environments
R. C. Ploetz University of Florida, Tropical Research and Education Center, Homestead Diseases of Tropical Perennial Crops: Challenging Problems in Diverse Environments The world’s oldest ecosystems are found practices, regardless of the host and envi- boldt (63) discussed the relationship two in the tropics. They are diverse, highly ronment in which it is grown. These in- centuries ago, and Darwin (26) wrote evolved, but barely understood. Diseases clude the avoidance, exclusion, and eradi- about it in his famous book. This increase that impact crops in these regions can be cation of the causal agents. Host protection in diversity is most pronounced in tropical significant contraints to production, is of great importance, as is the identifica- rain forests, which are thought to host 50% especially when they occur in lowland tion and incorporation of resistance in the of all species but occupy only 7% of the environments with high rainfall and host plant. All of these approaches are world’s landmass (162). And it appears to uniform, warm temperatures; respites from discussed with tropical perennial exam- be a general rule on our planet since it is disease pressure there are often infrequent. ples. found in the fossil record and re-estab- Difficulties in managing diseases in the lishes after mass extinctions (67). humid tropics are multiplied when the Agriculture Begins Plants are among the most prominent or- affected crops are perennial. The favorable Agriculture began after the Pleistocene ganisms that conform to the LDG. Thus, it conditions for disease development and the (last ice age) and started independently in is not surprising that most of the early presence of susceptible host tissue over several different regions (Table 1). -

Importation of Fresh Mango (Mangifera Indica L.) Fruit for Consumption from Egypt Into the United States and Territories
Importation of fresh mango (Mangifera indica L.) fruit for consumption from Egypt into the United States and Territories A Qualitative, Pathway-Initiated Pest Risk Assessment June 28, 2021 Version 2 Agency Contact Plant Pest Risk Analysis (PPRA) Science and Technology Plant Protection and Quarantine (PPQ) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) United States Department of Agriculture (USDA) 1730 Varsity Drive, Suite 300 Raleigh, NC 27606 Pest Risk Assessment for mango from Egypt Executive Summary The purpose of this report is to assess the pest risks associated with importing commercially produced mango fruit, Mangifera indica L. (Anacardiaceae), from Egypt into the United States and territories for consumption. Based on the market access request submitted by Egypt, we considered the pathway to include the following processes and conditions involving post-harvest washing. The pest risk ratings depend on the application of all conditions of the pathway as described. Mango fruits produced under different conditions were not evaluated and may pose a different pest risk. We used scientific literature, port-of-entry pest interception data, and information from the government of Egypt to develop a list of pests with quarantine significance for the United States and territories. These are pests that occur in Egypt on any host and are associated with the commodity plant species (anywhere in the world). The following organisms are candidates for pest risk management because they have met the threshold for unacceptable consequences of introduction. Pest type Taxonomy Scientific name Likelihood of Introduction rating Arthropod Diptera: Tephritidae Bactrocera zonata Saunders High Ceratitis capitata (Wiedemann) High Dacus ciliatus Loew Medium Hemiptera: Coccidae Saissetia privigna De Lotto Low Hemiptera: Icerya seychellarum (Westwood) Low Monophlebidae Hemiptera: Maconellicoccus hirsutus (Green) Low Pseudococcidae Nipaecoccus viridis (Newstead) Low (Action only when destined to American Samoa, Puerto Rico, and the U.S. -

Endophytic Mycobiota of Medicinal Plant Butea Monosperma
Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2013) 2(12): 615-627 ISSN: 2319-7706 Volume 2 Number 12 (2013) pp. 615-627 http://www.ijcmas.com Original Research Article Endophytic mycobiota of medicinal plant Butea monosperma Darshan S. Tuppad and S. Shishupala* Department of Microbiology, Kuvempu University (Davangere University), Shivagangotri, Davangere-577002, Karnataka, India *Corresponding author A B S T R A C T First complete information on occurrence, distribution and diversity of endophytic K e y w o r d s fungi associated with organs of Butea monosperma is presented. Seventy three endophytic fungal isolates belonging to genera Aspergillus, Cladosporium, Endophytes; Curvularia, Fusarium, Pithomyces, Scopulariopsis, Colletotrichum, Chaetomium, Butea Papulaspora, Sclerotium and three different morphotypes were found in different monosperma; tissues. Colletotrichum sp. was dominant in most of the plant parts with relative fungal frequency of 21.9%. Isolates belonging to Sclerotium sp. had relative frequency of diversity; 13.6%. Endophytic fungal diversity appeared maximum in stem and lamina species samples. Frequency of occurrence of endophytic fungi differed greatly in different distribution plant parts. Extent of similarity in endophytic fungal colonization was maximum index. between stem and lamina as indicated by Jaccard s coefficient. Differential distribution of fungi in various tissues of B. monosperma was evident. Introduction Endophytic fungi are an important group Suryanarayanan et al., 2003; Ganley et al., of microorganisms associated with many 2004; Li et al., 2007; Marquez et al., of the plant species (Hyde and Soytong, 2008; Bezerra et al., 2012; Sun et al., 2008; Rodriguez et al., 2009). 2012). Little is known about diversity and Understanding the extent of diversity in abundance of endophytic fungi in tropical this group of unique fungi is essential to and subtropical trees (Arnold et al., 2001; assess fungal diversity. -

Postentry Quarantine Manual Some Processes, Equipment, and Materials Described in This Manual May Be Patented
Postentry Quarantine Manual Some processes, equipment, and materials described in this manual may be patented. Inclusion in this manual does not constitute permission for use from the patent owner. The use of any patented invention in the performance of the processes described in this manual is solely the responsibility of the user. APHIS does not indemnify the user against liability for patent infringement and will not be liable to the user or to any third party for patent infringement. The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, age, disability, and where applicable, sex, marital status, familial status, parental status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, reprisal, or because all or part of any individual’s income is derived from any public assistance program. (Not all prohibited bases apply to all programs). Persons with disabilities who require alternative means for communication of program information (Braille, large print, audiotape, etc.) should contact USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TDD). To file a complaint of discrimination, write to USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20250-9410, or call (800) 795-3272 (voice) or (202) 720-6382 (TDD). USDA is an equal opportunity provider and employer. When using pesticides, read and follow all label instructions. First Edition Issued 2010 Contents Postentry Quarantine Figures LOF-1 Tables