A Grande Guerra De Afonso Costa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Responsáveis Políticos Pelo Império Colonial Português
Série Documentos de Trabalho Working Papers Series Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Nuno Valério DT/WP nº 72 ISSN 2183-1807 Apoio: Estudos de história colonial Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Nuno Valério (GHES — CSG — ISEG) Resumo Este documento de trabalho apresenta listas dos responsáveis políticos pelo Império Colonial Português: Reis, Regentes e Presidentes da República de Portugal, membros do Governo e governadores dos domínios, províncias, colónias e estados. Abstract This working paper presents lists of the political officials that were responsible for the Portuguese Colonial Empire: kings, regents and Presidents of Republic of Portugal, members of the government and governors of possessions, provinces, colonies and states. Palavras-chave Portugal — responsáveis políticos — Império Colonial Keywords Portugal — political officials — Colonial Empire Classificação JEL / JEL classification N4 governo, direito e regulação — government, law and regulation 1 Estudos de história colonial Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Plano Reis e Regentes de Portugal 1143-1910 Presidentes da República de Portugal desde 1910 Secretários de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos 1736-1834 Secretários de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos da regência constitucional 1830- 1834 Governos e Ministros e Secretários de Estado encarregados dos assuntos ultramarinos 1834-1976 Governadores do Estado da Índia 1505-1961 Governadores -

The Effect of the Establishment of the Portuguese Republic on the Revenue of Secular Brotherhoods—The Case of “Bom Jesus De Braga”1
The Effect of the Establishment of the Portuguese Republic on the Revenue of Secular 1 Brotherhoods—the Case of “Bom Jesus de Braga” Paulo Mourão2 Abstract Following its establishment in 1910, the First Portuguese Republic adopted a markedly anticlerical profile during its early years. Consequently, we hypothesize that the revenue of Portuguese religious institutions should reflect a clear structural break in 1910. However, one of Portugal’s most important historical pilgrimage sites (“Bom Jesus de Braga”) does not seem to have experienced a very significant break. Relying on time series econometrics (consisting primarily of recurring tests for multiple structural breaks), we studied the series of the Bom Jesus revenue between 1863 and 1952 (i.e., between the confiscation of church property by the constitutional monarchy and the stabilization of the Second Republic). It was concluded that 1910 does not represent a significant date for identifying a structural break in this series. However, the last quarter of the nineteenth century cannot be neglected in terms of the structural changes occurring in the Bom Jesus revenue. Keywords Portuguese economic history; anticlericalism; Bom Jesus de Braga; structural breaks Resumo Após o estabelecimento, em 1910, a Primeira República Portuguesa assumiu um perfil anticlerical durante os seus primeiros anos. Consequentemente, poderíamos supor que as receitas das instituições religiosas portuguesas refletiram quebras estruturais em 1910. No entanto, um dos mais importantes centros históricos de peregrinação de Portugal (o "Bom Jesus de Braga") parece ter passado esses anos sem quebras significativas. Baseando-nos em análises econométricas de séries temporais (principalmente testes sobre quebras estruturais), estudámos com detalhe a série de receitas de Bom Jesus entre 1863 e 1952 (ou seja, entre o confisco da propriedade da igreja pela monarquia constitucional e a estabilização da Segunda República). -

Complexo Mítico Da Nova Identidade Portuguesa De Matriz Republicana
ROGÉRIO ALVES DE FREITAS COMPLEXO MÍTICO DA NOVA IDENTIDADE PORTUGUESA DE MATRIZ REPUBLICANA: REFUNDAÇÃO DE PORTUGAL/RECONVERSÃO MÍTICA Orientador: Prof. Doutor Nuno Estêvão Ferreira Co orientador: Prof. Doutor José Eduardo Franco Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração Lisboa 2013 ROGÉRIO ALVES DE FREITAS COMPLEXO MÍTICO DA NOVA IDENTIDADE PORTUGUESA DE MATRIZ REPUBLICANA: REFUNDAÇÃO DE PORTUGAL/RECONVERSÃO MÍTICA Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre em Ciências das Religiões no curso de Mestrado em Ciências das Religiões conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologi as. Orientador: Prof. Doutor Nuno Estêvão Ferreira Co orientador: Prof. Doutor José Eduardo Franco Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração Lisboa 2013 EPÍGRAFE A secularização arrasta consigo uma certa reinvenção religiosa. Marcel Gauchet A religião civil atua como religião política quando se assiste à socialização de uma ideologia e de um movimento político. Gentile 2 DEDICATÓRIA Curvo-me perante quem me gerou, sou grato a quem me formou e presto homenagem a quem me apoiou. Minha mulher Helena e meus filhos Marcelo e Denise foram um apoio incondicional. A eles dedico especialmente este trabalho. Quero também, com este trabalho, prestar uma homenagem sentida ao grande património humano e material responsável pelos principais momentos da realização de minha vida, a cidade do Porto. 3 AGRADECIMENTOS Ter amigos como Alice Matos, Fátima Lourenço, Leonor Nunes e Isabel Clemente ajuda muito quando queremos avançar num projeto destes. Agradeço-vos do fundo do meu coração. A todos os professores, pela forma como me ensinaram ao longo deste percurso, um muito obrigado. -
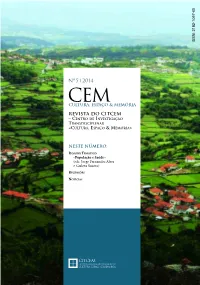
C U L T U R a , E S P a Ç O & M E M Ó R Ia
5 0 - 7 9 5 0 1 - 2 8 1 2 : N S S I a N.º 5 | 2014 i r ó m CEM e cultura, espaço & memória m Revista do CITCEM & – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TRANSDISCIPLINAR o CULTURA, ESPAÇO & MEMÓRIA ç « » a p s e Neste Número: , a DOSSIER TEMÁTICO r «População e Saúde» u (eds. Jorge Fernandes Alves t e Carlota Santos) l u RECENSÕES c NOTÍCIAS M E C CITCEM centro de investigação transdisciplinar CITCEM cultura, espaço e memória CEM N.º 5 cultura, espaço & memória CEM N.º 5 CULTURA, ESPAÇO & MEMÓRIA Edição: CITCEM – Centro de Investigação Transdisci- plinar «Cultura, Espaço & Memória» (Faculdade de Letras da Universidade do Porto/Universidade do Minho)/Edições Afrontamento Directora: Maria Cristina Almeida e Cunha Editores do dossier temático: Jorge Fernandes Alves | Carlota Santos Foto da capa: Paisagem minhota, 2013. Foto de Arlindo Alves. Colecção particular.. Design gráfico: www.hldesign.pt Composição, impressão e acabamento: Rainho & Neves, Lda. Distribuição: Companhia das Artes N.º de edição: 1604 Tiragem: 500 exemplares Depósito Legal: 321463/11 ISSN: 2182-1097-05 Periodicidade: Anual Esta revista tem edição online que respeita os critérios do OA (open access). Outubro de 2014 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projecto PEst-OE/HIS/UI4059/2014 EDITORIAL pág. 5 «EM PROL DO BEM COMUM»: O VARIA CONTRIBUTO DA LIGA PORTUGUESA DE SOB O OLHAR DA CONSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO PROFILAXIA SOCIAL PARA A EDUCAÇÃO MEMÓRIA:RICARDO JORGE NA TRIBUNA HIGIÉNICA NO PORTO (1924-1960) DA HISTÓRIA POPULAÇÃO E SAÚDE I Ismael Cerqueira Vieira pág. -

Governments, Parliaments and Parties (Portugal) | International
Version 1.0 | Last updated 08 December 2014 Governments, Parliaments and Parties (Portugal) By Filipe Ribeiro de Meneses Founded in October 1910, the Portuguese Republic was soon mired in turmoil. The victorious Portuguese Republican Party, in reality a broad ideological coalition united only by the desire to topple the monarchy, soon fragmented acrimoniously, first into a variety of factions, and later into separate parties. The hope that the war might lead, if not to a reunification of the original party, then at least to a dignified truce that would enhance the regime’s prestige (an important objective among interventionists), soon showed itself to be vain. Conflict between and within the parties increased until, exhausted, the regime as it had existed succumbed in December 1917. Table of Contents 1 Introduction 2 Background: From 5 October 1910 until the German Declaration of War (March 1916) 2.1 Republican Politics after 1910 2.2 The War Begins 2.3 Interventionists and Their Rivals 2.4 The Pimenta de Castro Interlude 2.5 The Democrats in Control 3 The First Sacred Union Government 3.1 The Sacred Union is Formed 3.2 Initial Difficulties 3.3 The Machado Santos Rising and Its Consequences 3.4 The End of the First Sacred Union Government 4 The Second Sacred Union Government 4.1 A Wounded Leader 4.2 The Secret Sessions of Parliament and Their Aftermath 5 Conclusion Notes Selected Bibliography Citation Introduction Three political parties dominated parliamentary life in the recently created Portuguese Republic. Up until the October 1910 Revolution that toppled the centuries-old monarchy (by then a constitutional monarchy), the parties had been united under the banner of the Portuguese Republican Party. -

201222154934.Pdf
1 A HISTORY of MANUEL DE ARRIAGA MANUEL José DE ARRIAGA Brum da Silveira — lawyer, teacher, poet, congressman —, became part of history as one of the most notorious Portuguese politicians of the 19th - 20th century transition and from the monarchy to the republic, assuming the purest profile of a republican who was honest, selfless and completely devoted to the public cause. He was the first President of the Portuguese Republic. According to the available documental information, Manuel de Arriaga was born in Horta on July 8th 1840. However, some defend that he might have been born in the Arriagas manor, on Pico Island, where his family used to spend the summer months and was later baptized and registered in Horta, his parents’ legal residence at the time. Born into a wealthy family with traditions in politics and military life — his father was the family primogeniture, his grandfather on his father’s side was a general who had distinguished in the Peninsular War, and a great-uncle had been a congressman to the Constituent Courts from 1821-22 —, Manuel de Arriaga had his elementary schooling in his hometown and, in 1861, moved to Coimbra to attend Law School. In University, where he was an honor student, he soon proved to be a speaker of note and actively intervened in student strug- gles, being a subscriber of University of Coimbra Students’ Manifesto to the Country’s Illustrated Opinion, written and published by Antero de Quental. His adhesion to philosophical positivism and the defense of democratic republican ideals got him rejected by his family having been disowned by his father, who banned him from coming home. -

Making Sense of the War (Portugal) | International Encyclopedia of The
Version 1.0 | Last updated 12 October 2017 Making Sense of the War (Portugal) By Filipe Ribeiro de Meneses A latecomer to the war, Portugal underwent a long and divisive debate about whether to participate in the conflict. This debate was essentially carried out within its relatively small literate minority; for the greater part of the population, the war only hit home as a result of military mobilization or mounting economic difficulties. It is not an easy task to reconstruct how this largely silent segment of the Portuguese population made sense of the war, since its support was claimed by both contending factions, those who either favoured or opposed intervention in the conflict. Table of Contents 1 Introduction 2 Explaining the war 2.1 The Official Explanation for the War 2.2 Political and Cultural Elites 3 Public Opinion 3.1 The Army 3.2 The Population at Large 4 Crisis point: December 1917 5 Postwar Settlement Notes Selected Bibliography Citation Introduction Making Sense of the War (Portugal) - 1914-1918-Online 1/10 Portugal went to war in March 1916, after a long and acrimonious debate agitated public opinion. The decision to seize the German merchant vessels at anchor in Portuguese waters since 1914, which provoked Germany’s declaration of war, was initially presented by Prime Minister Afonso Costa (1871-1937) as arising out of economic necessity. Soon afterwards, however, Portugal’s belligerence began to be ascribed to the obligations arising out of the country’s ancient alliance with Great Britain, a more consensual explanation. This article examines the ways in which different factions attempted to explain the war and Portugal’s participation in it, and what effect, if any, such explanations had on wider public opinion, be it among civilians or within the army. -

A Primeira República Portuguesa Entre a Instituição Estado E a Ordem Povo the First Portuguese Republica Between the State Institution and the People Estate
A PRIMEIRA REPÚBLICA PORTUGUESA ENTRE A INSTITUIÇÃO ESTADO E A ORDEM POVO THE FIRST PORTUGUESE REPUBLICA BETWEEN THE STATE INSTITUTION AND THE PEOPLE ESTATE Luís Salgado de Matos Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa SUMÁRIO: I. A REPÚBLICA PORTUGUESA HIPERSENSÍVEL À ORGANIZAÇÃO POLÍTICA ESTRANGEIRA.- 1.1. A Sensibilidade à Questão Internacional.- 1.2. A Antecipação Republicana da Primeira Guerrra Mundial.- 1.3. O Prestígio Internacional de Portugal.- II. O FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO REPUBLICANO.- 2.1. A Generalização dos Golpes Militares.- 2.2. A Eficácia da Administração Pública Civil e Militar.- 2.3. O Aumento dos Efectivos de Funcionários Públicos.- 2.4. A Crescente Especialização da Administração Pública: variação 1925/1910.- 2.5. As Colónias : Ameaças Percepcionadas, Críticas Monárquicas e Melhoria da Administração.- III. O ESTADO REPUBLICANO E A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA PORTUGUESA: A REPÚBLICA UM ESTADO ENÉRGICO QUE NÃO QUIS SER FORTE.- 3.1. O Estado Poroso à Organização Política.- 3.2. As Incipientes Associações Voluntárias.- 3.3. O Fomento: Os Republicanos Não Ultrapassam o Paradigma do Laissez-Faire.- 3.4. Uma Demografia Declinante e Sem Estímulo Estata.- 3.5. O Estado Nacionaliza os Cidadãos.- 3.6. Alguns Cidadãos Defendem-se do Estado com o Antisemitismo.- 3.7. O Estado Encarece, Contrariando Sem o Querer o Laissez Faire Republicano.- 3.8. O Estado e a Economia Colonial; Défice da Metrópole, Escassos Recursos, Táctica Errática.- IV. CONCLUSÕES O ESTADO REPUBLICANO FORTALECEU COMO INSTITUIÇÃO, MAS A ORDEM POVO APOIOU-O MENOS Resumo: O presente texto estuda a instituição Estado da Primeira República Portuguesa (Outubro de 1910 – Maio de 1926). Começamos por uma dimensão tantas vezes marginalizada: a relação entre a República portuguesa e as organizações políticas estrangeiras, em particular a Inglaterra. -

República Velha» (Ensaio De Interpretação Política)
Vasco Pulido Valente* Análise social, vol.. xxvii (115), 1992 (1.°), 7-63 Revoluções: A «República Velha» (ensaio de interpretação política) I. A REPÚBLICA E O PAÍS Pouco depois do 5 de Outubro António José de Almeida perguntou, melo- dramaticamente, se 300 000 republicanos chegavam para manter em respeito 5 milhões de portugueses. A pergunta era boa, sobretudo porque, na melhor das hipóteses, os republicanos não passavam de 100 000. Em 1910 o PRP não tinha qualquer organização na maioria dos concelhos do país e onde a tinha no papel quase sempre não a tinha na realidade: comissões e agre- miações com nomes heróicos, que na prática se reduziam à mesma meia dúzia de amigos, associados sob diversos nomes e pretextos. Não havia acidente nesta situação. O republicanismo era um movimento urbano, insusceptível de penetrar no mundo rural. Os grandes proprietários, os camponeses grandes e pequenos, os rendeiros e até, excepto no Alentejo, os trabalhadores não queriam, nem podiam, ser igualitários e laicos. A sua veneração pela hierarquia social e a sua obediência à Igreja Católica serviam interesses e necessidades materiais. A redistribuição do imposto, insistente- mente prometida pelo PRP, não bastava para ganhar o apoio da classe média da província, se fosse feita em nome da impiedade e da democracia. Quanto aos «pobres», que não pagavam, ou quase não pagavam, impostos direc- tos, não se moveriam por menos do que a supressão da renda fundiária e, em certas áreas, a distribuição da terra, excessos que, evidentemente, esta- vam fora dos propósitos da República. A este considerável embaraço juntava-se um outro. -

1927 Da Revolta De Sousa Dias Ao Falhanço De Sinel De Cordes 1927
1927 1927 Foi substituído Portugal pelo nacionalismo que é uma maneira de acabar com os partidos (Almada Negreiros) Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi (Napoleão Bonaparte) Quando se apanhavam de cima malhavam nos que ficavam em baixo como se fossem inimigos ou estrangeiros… (Costa Brochado) Eu sou um admirador sincero do Fascismo e do seu chefe Óscar Carmona (António Ferro) Da revolta de Sousa Dias ao falhanço de Sinel de Cordes ●De Régio a Nemésio – É publicado, em 10 de Março, o primeiro número da folha de arte e crítica , Presença , fundada em Coimbra por José Régio (1901-1969), João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e Edmundo Bettencourt, com o primeiro número emitido em 10 de Março. Dura até Novembro de 1938, passando a ser dirigida, a partir de finais de 1931, por Adolfo Casais Monteiro. Já Vitorino Nemésio é eleito, em Dezembro, presidente do Centro Republicano Académico de Coimbra, sucedendo a Carlos Cal Brandão (n. 1906). O grupo, fundado em 9 de Abril, assenta na loja maçónica A Revolta tem como principais militantes Fernando Vale, Sílvio de Lima e Paulo Quintela. Mas perdem as eleições para a Associação Académica desse ano, onde vence uma lista afecta aos integralistas. ●Primado do espiritual e traição dos clérigos – Quando Nikolai Berdiaev publica Une Nouvelle Mayen Age e Julien Benda denuncia La Trahison des Clercs , Desiré de Mercier coordena a edição do Côde de Malines , onde se recolhem os princípios das semanas sociais católicas inspiradas nas teorias da Universidade de Lovaina, modelos bem diversos da essência da política, então teorizada por Carl Schmitt, ou da chamada defesa do Ocidente do maurrasiano Henri Massis. -

Dom Manuel II of Portugal. Russell Earl Benton Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1975 The oD wnfall of a King: Dom Manuel II of Portugal. Russell Earl Benton Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Benton, Russell Earl, "The oD wnfall of a King: Dom Manuel II of Portugal." (1975). LSU Historical Dissertations and Theses. 2818. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2818 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that die photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -

A British Military Officer's View of Portugal's Revolution of 1917
WAR ABROAD AND WAR WITHIN: A BRITISH MILITARY OFFICER’S VIEW OF PORTUGAL’S REVOLUTION OF 1917 António Lopes Universidade do Algarve CETAPS General Nathaniel Walter Barnardiston (1858-1919), who first set foot in Lisbon in August 1916 as the Chief of the British military mission to Portugal, became a privileged witness to some of the most important events that marked that which Fernando Rosas (2007) called “the intermittent civil war”, triggered by the regicide on 1 February 1908 and which characterized the whole period of the First Republic. In the end of July 1916, he was appointed Chief of the British Military Mission to Portugal, where he was commissioned to supervise the training of the Portuguese troops for the war on the Western Front. He wrote reports on the political and military situation of the country and kept a diary where he recorded events and his impressions of the people he met and the parts of the country he visited. This article aims to contextualize Barnardiston’s mission and to present not only his views on Sidónio Pais’s coup in December 1917, but also the opinion that he entertained of the Portuguese in general. 1. On the verge of ungovernability: the first period of the First Republic (1910- 1917) If, shortly after the revolution of October 1910, people could still harbour some hope in the country's political regeneration, the fact is that, after the adoption of the Constitution of 1911, the glow of the Republican promise gradually gave way to a feeling of disappointment and dismay. The country was permanently embroiled in political disputes and plots, some of them culminating in bloody armed uprisings.