Rio P?Sdocsega.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Como Citar Este Artigo Número Completo Mais Informações Do
Revista de Contabilidade e Organizações ISSN: 1982-6486 Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto Medeiros, Cintia Rodrigues de Oliveira; Freitas, Luiz Romeu de Padrões discursivos sobre corrupção Revista de Contabilidade e Organizações, vol. 13, 2019, pp. 1-13 Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto DOI: https://doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2019.152220 Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235260267008 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Redalyc Mais informações do artigo Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal Site da revista em redalyc.org Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa acesso aberto 1 C. R. de O.Revista Medeiros; de ContabilidadeL. R. de Freitas Júniore Organizações / Rev. Cont (2019), Org (2019), v.13:e152220 v. 13: e152220 Revista de Journal of Contabilidade e DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2019.152220 Accounting and Organizações Organizations www.rco.usp.br www.rco.usp.br Padrões discursivos sobre corrupção Discursive patterns on corruption Cintia Rodrigues de Oliveira Medeirosa; Luiz Romeu de Freitas Júniora a Universidade Federal de Uberlândia Palavras-chave Resumo Gestor Público. A subjetividade e a percepção que levam à interpretação de atos de corrupção são Regionalidade. pouco considerados nos estudos nacionais sobre o fenômeno. O objetivo desta Corrupção. pesquisa é explorar as interpretações de gestores públicos federais e estaduais sobre ‘corrupção’ para identificar possíveis de padrões regionais. Foram realizadas vinte entrevistas com gestores atuantes na gestão federal e estadual de Saúde e Educação no estado de Minas Gerais, lotados no município de Uberlândia. -

Getúlio Vargas E O Caudilhismo Getulio Vargas
Fronteiras: Revista de História Getúlio Vargas e o Caudilhismo – Rafael Augustus Sêga GETÚLIO VARGAS E O CAUDILHISMO GETULIO VARGAS AND CAUDILISM Rafael Augustus Sêga1 RESUMO: O objetivo principal do presente artigo é mostrar motivos pelos quais as possíveis origens “platinas” ou influências “caudilhescas” de Getúlio Dornelles Vargas não se sustentam como determinantes na sua formação política. Para tanto, iniciamos o artigo com uma discussão conceitual sobre “caudilhismo” nas Ciências Sociais; passamos ao tratamento do assunto por correntes historiográficas brasileiras e, principalmente, pela discussão acadêmica sobre a ocorrência ou não desse fenômeno político em solo nacional. Os procedimentos posteriores percorreram uma breve exposição sobre a formação da região de nascimento de Getúlio Vargas, suas origens familiares e uma resumida trajetória pessoal. A partir dessa explanação, passamos à uma análise de fontes primárias (discursos oficiais) emitidas por Getúlio Vargas sobre esse assunto, com intuito de verificar a importância do assunto do caudilhismo em sua atuação pública. Palavras-Chave: Brasil Império; Caudilhismo; Coronelismo; Castilhismo-borgismo; História do Rio Grande do Sul; Getúlio Vargas; Partido Republicano Rio-Grandense. ABSTRACT: The main objective of this article is to show why the possible “Platine” origins or “caudillo” (warlord) influences of Getulio Dornelles Vargas are not hold as determining factors in his political formation. Therefore, we started the article with a conceptual discussion about “caudillism” in the Social Sciences, after that, we passed to the treatment of the subject by the Brazilian historiographical currents and, mainly, by academic discussion about the presence or absence of this political phenomenon in Brazil. The subsequent procedures passed by a brief exhibit of Getulio Vargas’s birth region formation, his family origins and a short personal history. -

And Michel Temer(2017)
The role of the media in the processes of impeachment of Volume 37 Dilma Rousseff (2016) and issue 2 / 2018 Michel Temer (2017) Contracampo e-ISSN 2238-2577 Niterói (RJ), 37 (2) aug/2018-nov/2018 Contracampo – Brazilian Journal of Communication is a quarterly publication of the Graduate Programme in Communication THEÓFILO MACHADO RODRIGUES PhD in Social Science from Pontifical Catholic University of Rio de Studies (PPGCOM) at Fluminense Federal University (UFF). It aims Janeiro (PUC-RJ). Professor at Political Science Department of UFRJ, Rio to contribute to critical reflection de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. E-mail: within the field of Media Studies, [email protected]. ORCID: 0000-0003-1709-1546 being a space for dissemination of research and scientific thought. TO REFERENCE THIS ARTICLE, PLEASE USE THE FOLLOWING CITATION: Rodrigues, T. M. (2018). The Role of the Media in the Processes of Impeachment of Dilma Rousseff(2016) and Michel Temer(2017). Contracampo - Brazilian Journal of Communication, 37 (2), pp. 36-57. Submitted on March 05th 2018 / Accepted on: July 31st 2018. DOI – http://dx.doi.org/10.22409/contracampo.v37i2.1108 Abstract The tense relationship between media and politics in Brazil is well known by specialized literature. Getúlio Vargas, João Goulart and Fernando Collor are examples of presidents who did not finish their mandates and who suffered resistance from the press. This article argues that this history of the media in destabilization processes remains current. The hypothesis was tested from the observation of 34 editorials of Brazil's main print newspapers, during Dilma Rousseff's impeachment in 2016 and the opening of Michel Temer's investigation in 2017. -

Thesis-Alexander-Myhre.Pdf (1004.Kb)
A struggle for land Reclaiming or invading land in Mato Grosso do Sul Alexander Myhre Master thesis in Culture, Environment and Sustainability Centre for Development and Environment UNIVERSITY OF OSLO January, 2018 II © Alexander Myhre 2018 A struggle for land - Reclaiming or invading land in Mato Grosso do Sul http://www.duo.uio.no/ Print: Reprosentralen, University of Oslo III Abstract There is currently a struggle about land between indigenous people and farmers in the Brazilian state of Mato Grosso do Sul. The conflict has already caused deaths, and both sides point to the other as the instigator. This thesis attempts to study this conflict both from the point of view of the farmers and the indigenous people utilizing interviews and participant observations. By adopting an analytical framework of moral economy and structural violence I try to gain an understanding of how each side justifies their claim to the land and point to the other as the aggressor. The indigenous see themselves as legitimately reclaiming, retomando, land that is theirs, while the farmers see them as invaders that do not respect legally acquired land. IV V Acknowledgements Then I am done. I have many times during this thesis period thought about how I would go about when writing this acknowledgement chapter, and I have had nearly every idea in the book. What I have struggled the most with however has been how to express my gratitude to those having participated in this thesis: I hope most of you will read it and say “He got it right.” If it did not turn out like you wanted it to be then know that I did my best. -

Aspetos Históricos Do Processo De Criação Da Justiça Eleitoral No Brasil: Republicanismo, Tenentismo E Coronelismo
Aspetos históricos do processo de criação da Justiça Eleitoral no Brasil: Republicanismo, Tenentismo e Coronelismo Historical aspects of the process of creating Electoral Justice in Brazil: Republicanism, Tenentism and Coronelism João Paulo Ramos Jacob 1 Universidade de São Paulo (São Paulo, São Paulo, Brasil) https://orcid.org/0000-0001-6337-3945 [email protected] Maíra Silva Marques da Fonseca 2 Universidade de São Paulo (São Paulo, São Paulo, Brasil) https://orcid.org/0000-0001-8439-7284 [email protected] Recebido em: 15.10.2020 Aprovado em: 28.11.2020 Resumo: Faz considerações sobre o processo de evolução da Justiça Eleitoral Brasileira. Retrata a instabilidade da história política brasileira, marcada por momentos de tensão entre as políticas democracias e o autoritárias. Essa oscilação certamente colaborou para o atraso do desenvolvimento e da necessidade da Justiça Eleitoral. Descreve o movimento chamado de republicanismo, tenentismo e coronelismo. Características marcantes da história política do Brasil. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é analisar o desenvolvimento inicial da Justiça Eleitoral, evidenciando como o órgão partiu de uma posição de passividade frente aos desmandos e arbítrios das autoridades, para uma Como citar: JACOB, João Paulo Ramos; FONSECA, Maíra Silva Marques da. Aspetos históricos do processo de criação da Justiça Eleitoral no Brasil: Republicanismo, Tenentismo e Coronelismo. Revista Brasileira de Pesquisa Jurídica, Avaré, v.2, n.1, p. 143-173, jan./abr. 2021. doi: 10.51284/RBPJ.2.jacob 1 Doutorando e Mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo (USP), onde atualmente cursa seu doutoramento. -
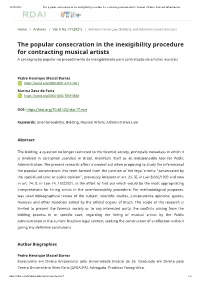
The Popular Consecration in the Inexigibility Procedure for Contracting Musical Artists | Journal of Public Law and Infrastructure
12/08/2021 The popular consecration in the inexigibility procedure for contracting musical artists | Journal of Public Law and Infrastructure Home / Archives / Vol. 5 No. 17 (2021) / Administrative Law: Bidding and Administrative Contracts The popular consecration in the inexigibility procedure for contracting musical artists A consagração popular no procedimento de inexigibilidade para contratação de artistas musicais Pedro Henrique Maciel Barros https://orcid.org/0000-0001-6313-3431 Marina Zava de Faria https://orcid.org/0000-0002-7818-5848 DOI: https://doi.org/10.48143/rdai.17.mzf Keywords: Unenforceability, Bidding, Musical Artists, Administrative Law Abstract The bidding, a question no longer restricted to the forensic society, principally nowadays in which it is involved in corruption scandals in Brazil, manifests itself as an indispensable tool for Public Administration. The present research offers a modest cut when proposing to study the inferencesof the popular consecration: this term formed from the junction of the legal criteria "consecrated by the specialized critic or public opinion", previously foreseen in art. 25, IlI, in Law 8,666/1993 and now in art. 74, lI, in Law 14, 133/2021, in the effort to find out which would be the most appropriating interpretations for hiring artists in the unenforceability procedure. For methodological purposes, was used bibliographical review of the subject, scientific studies, jurisprudence opinions, guides, manuais and other materiais edited by the official organs of Brazil. The scope of the research is limited to present the forensic society or to any interested party, the conflicts arising from the bidding process in or specific case, regarding the hiring of musical artists by the Public Administration in the current Brazilian legal context, seeking the construction of a reflection without giving any definitive conclusions. -

Redalyc.GETÚLIO VARGAS E O CAUDILHISMO
Fronteiras: Revista de História E-ISSN: 2175-0742 [email protected] Universidade Federal da Grande Dourados Brasil Augustus Sêga, Rafael GETÚLIO VARGAS E O CAUDILHISMO Fronteiras: Revista de História, vol. 18, núm. 32, julio-diciembre, 2016, pp. 307-324 Universidade Federal da Grande Dourados Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=588266487016 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Fronteiras: Revista de História Getúlio Vargas e o Caudilhismo – Rafael Augustus Sêga GETÚLIO VARGAS E O CAUDILHISMO GETULIO VARGAS AND CAUDILISM Rafael Augustus Sêga1 RESUMO: O objetivo principal do presente artigo é mostrar motivos pelos quais as possíveis origens “platinas” ou influências “caudilhescas” de Getúlio Dornelles Vargas não se sustentam como determinantes na sua formação política. Para tanto, iniciamos o artigo com uma discussão conceitual sobre “caudilhismo” nas Ciências Sociais; passamos ao tratamento do assunto por correntes historiográficas brasileiras e, principalmente, pela discussão acadêmica sobre a ocorrência ou não desse fenômeno político em solo nacional. Os procedimentos posteriores percorreram uma breve exposição sobre a formação da região de nascimento de Getúlio Vargas, suas origens familiares e uma resumida trajetória pessoal. A partir dessa explanação, passamos à uma análise de fontes primárias (discursos oficiais) emitidas por Getúlio Vargas sobre esse assunto, com intuito de verificar a importância do assunto do caudilhismo em sua atuação pública. Palavras-Chave: Brasil Império; Caudilhismo; Coronelismo; Castilhismo-borgismo; História do Rio Grande do Sul; Getúlio Vargas; Partido Republicano Rio-Grandense. -

A Study of Brazilian Cultural Issues and Servant Leadership Model for The
ABSTRACT A STUDY OF BRAZILIAN CULTURAL ISSUES AND SERVANT LEADERSHIP MODEL FOR THE FEMALE PASTORS IN THE FIRST CONFERENCE OF THE METHODIST CHURCH IN BRAZIL by Miriam Isabel Gallo de Do Amaral The purpose of this research was to learn how cultural issues related to women in Brazil might enhance or hinder their potentiality and hold them back from acquiring the highest leadership positions within the Methodist Church in the First Conference of Rio de Janeiro. This study also explored the level of understanding of female pastors about the concept of the servant leadership model, learning if this model could apply to them more than the classical leadership model in their style of leadership. The study suggested that within the First Conference of the Methodist Church in Brazil the leadership style is changing from the classical model to the one more servant - oriented model. The findings provided a positive insight for further studies into female leadership as well as their vision for the church. DISSERTATION APPROVAL This is to certify that the dissertation entitled A STUDY OF BRAZILIAN CULTURAL ISSUES AND SERVANT LEADERSHIP MODEL FOR THE FEMALE PASTORS IN THE FIRST CONFERENCE OF THE METHODIST CHURCH IN BRAZIL presented by Miriam Isabel Gallo de Do Amaral has been accepted towards fulfillment of the requirements for the DOCTOR OF MINISTRY degree at Asbury Theological Seminary Mentor April 24, 2009 Date Internal Reader April 24, 2009 Date Representative, Doctor of Ministry Program April 24, 2009 Date Executive Director April 24, 2009 Date -

Trabalho Final
unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” Faculdade de Ciências e Letras Campus de Araraquara - SP Eder Carlos Zuccolotto HOMENS DE NEGÓCIO E PODER LOCAL NO OESTE PAULISTA ARARAQUARA – SP 2018 Eder Carlos Zuccolotto HOMENS DE NEGÓCIO E PODER LOCAL NO OESTE PAULISTA Tese de Doutorado, apresentado ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Ciências e Letras – Unesp/Araraquara, como requisito para obtenção do título de Doutor em Ciências Sociais. Exemplar apresentado para exame de defesa Linha de pesquisa: Cultura, Democracia e Pensamento Social. Orientador: José Antonio Segatto Bolsa: CNPq ARARAQUARA – SP 2018 EDER CARLOS ZUCCOLOTTO HHOOMMEENNSS DDEE NNEEGGÓÓCCIIOO EE PPOODDEERR LLOOCCAALL NNOO OOEESSTTEE PPAAUULLIISSTTAA Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras – UNESP/Araraquara, como requisito para obtenção do título de Doutor em Ciências Sociais. Linha de pesquisa: Cultura, Democracia e Pensamento Social Orientador: Prof. Dr. José Antonio Segatto Bolsa: CNPq Data da defesa: 10/04/2018 MEMBROS COMPONENTES DA BANCA EXAMINADORA: Presidente e Orientador: Prof. Dr. José Antonio Segatto UNESP / FCLAr Membro Titular: Profª Drª Maria Tereza Miceli Kerbauy UNESP / FCLAr Membro Titular: Prof. Dr. Milton Lahuerta UNESP / FCLAr Membro Titular: Prof. Dr. Agnaldo de Sousa Barbosa UNESP / FCHS / FRANCA Membro Titular: Prof. Dr. Fransérgio Follis UNICEP / SÃO CARLOS Local: Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências e Letras UNESP – Campus de Araraquara A minha amada esposa Daniela e a minha querida filha Sarah AGRADECIMENTOS Ao CNPq, que financiou este trabalho, obrigado por todo o apoio. Os recursos garantiram maior tranquilidade para a pesquisa; Ao meu orientador Prof. -

Daniel Fonsêca Jonas Valente Allan
Author Daniel Fonsêca Review and edition Jonas Valente Translation Allan Santos Brazil, October 2017 REGULATORY FRAMEWORK OF THE BRAZILIAN MEDIA SYSTEM Study for the Media Ownership Monitor, MOM - Brasil 2017 Author Daniel Fonsêca Review and edition Jonas Valente Translation Allan Santos 2 INDEX INTRODUCTION 4 1. METHODOLOGY 6 2. INSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF THE BRAZILIAN MEDIA SYSTEM 8 3. OVERVIEW OF THE BRAZILIAN MEDIA SYSTEM 13 4. REGULATORY FRAMEWORK OF THE BRAZILIAN MEDIA SYSTEM 34 CONCLUSIONS 72 REFERENCES 74 3 INTRODUCTION The present analysis of the regulatory framework of the Brazilian media was produced within the Media Ownership Monitor (MOM)’s project, promoted by the organization Reporters Without Borders (Germany) and executed, in Brazil, in partnership with Intervozes – Collective Brazil of Social Communication. This legal reading of the sector aims to provide to the information collected among the companies and the governments the due historical and political contextualization, revealing legal environments and the way how regulation has been implemented as a structuring element of the property of these vehicles. The Brazilian legislative framework is fragmented and dispersed. Principles, guidelines, specific rules and regulations combine themselves in a little consistent way and expressing a legal production from punctual political disputes at certain historical moments. The mechanisms intended on curbing the concentration and ensuring transparency are little robust. This scenario is complexified by an absence of a more effective implementation and supervision stance by the Brazilian State. The emerging themes are related to the update of norms, the control of information and the monitoring of the effective fulfillment of the legal order of the area. -
Brazilian History
Brazilian History Brazilian History: Culture, Society, Politics 1500- 2010 By Roberto Pinheiro Machado Brazilian History: Culture, Society, Politics 1500-2010 By Roberto Pinheiro Machado This book first published 2017 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2017 by Roberto Pinheiro Machado All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-0349-6 ISBN (13): 978-1-5275-0349-6 To Cláudia Mendonça Scheeren CONTENTS Introduction ................................................................................................. 1 Chapter One ................................................................................................. 9 The Colonial Period (1500–1822) 1.1 From the Discovery to the Colonization 1.2 The French Invasions (1555–1560 and 1594–1615) 1.3 The Dutch Invasions (1624–1625 and 1630–1654) 1.4 The Iberian Union and the Portuguese Territorial Expansion 1.5 The Discovery of Gold and the Minas Gerais 1.6 The Conspiracy of Minas Gerais and Brazilian Neoclassicism 1.7 The Conspiracy of Bahia and the Emergence of the Notion of Citizenship 1.8 A European Monarchy in the Tropics and the End of Colonial Rule Chapter Two .............................................................................................. 49 The Brazilian Empire (1822–1889) 2.1 The Costly Independence 2.2 The First Empire (1822–1831) 2.3 The Regency (1831–1840) 2.4 The Second Empire (1840–1889) 2.5 Culture and Society in the Brazilian Empire Chapter Three ......................................................................................... -

CORONELISMO ELETRÔNICO E MEDIA OPEN Em Busca De Evidências E Associações12
CORONELISMO ELETRÔNICO E MEDIA OPEN em busca de evidências e associações12 ELECTRONIC CORONELISM AND MEDIA OPEN in search of evidence and associations André Kron Marques Zapani3 Resumo: O presente artigo visa buscar analisar possíveis pontos de evidências ou associações entre o conceito do coronelismo eletrônico (SANTOS, CAPPARELLI ,2005; AIRES, SANTOS, 2017), sistema marcante e estruturante do atual cenário midiático brasileiro, com o media opening, conceito que está inserida na interface entre mídia e qualidade da democracia (LAWSON, 2002; HUGHES, 2006; PORTO, 2012), mas que ainda tem discreto destaque nas pesquisas acadêmicas nacionais. Nesse estudo comparativo tomou-se como de referência os indicadores de risco à pluralidade na mídia: controle político sobre o financiamento da mídia, pouca transparência no controle da mídia e concentração de audiência (MEDIA OWNERSHIP MONITOR, 2019). Por fim, observa-se que os conceitos teoricamente não se sustentam em concorrência, são binários assimétricos de caminhos epistemológicos díspares, são concorrentes e contraditórios, o primeiro rompe com os pressupostos fundantes e democráticos do último, mas que se sustentam mediante um jogo de tensões políticas e econômicas. Palavras-Chave: Media opening. Coronelismo eletrônico. Associações. Abstract: This article aims to analyze possible evidences or associations between the concept of electronic coronelism SANTOS, CAPPARELLI (2005); SANTOS (2008); Ares, Santos (2017), a striking and structuring system of the current Brazilian media scenario, with media opening, a concept that is embedded in the interface between media and the quality of democracy (LAWSON, 2002; HUGHES, 2006; PORTO , 2012), but that still has discreet prominence in the national academic researches. In this comparative study, risk indicators for plurality in the media will be taken as a reference base: political control over media financing, poor transparency in media control and audience concentration (Media Ownership Monitor, 2019).