TCC Lucas Rosa 2017.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mythic Collection, LLC Form 253G1 Filed 2021-06-09
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 253G1 Filing Date: 2021-06-09 SEC Accession No. 0001477932-21-003906 (HTML Version on secdatabase.com) FILER Mythic Collection, LLC Mailing Address Business Address 16 LAGOON CT. 16 LAGOON CT. CIK:1773026| IRS No.: 833427237 | State of Incorp.:DE | Fiscal Year End: 1231 SAN RAFAEL CA 94903 SAN RAFAEL CA 94903 Type: 253G1 | Act: 33 | File No.: 024-10983 | Film No.: 211003855 415-335-6370 SIC: 5900 Miscellaneous retail Copyright © 2021 www.secdatabase.com. All Rights Reserved. Please Consider the Environment Before Printing This Document Filed pursuant to Rule 253(g)(1) File No. 024-10983 OFFERING CIRCULAR DATED MAY 24, 2021 MYTHIC COLLECTION, LLC 16 LAGOON CT, SAN RAFAEL, CA 94903 (415-335-6370) Telephone Number www.mythicmarkets.com Best Efforts Offering of Series Membership interests Mythic Collection, LLC (“we,” “us,” “our,” “Mythic Collection” or the “Company”) is a Delaware series limited liability company whose core business is the identification, acquisition, marketing and management of vintage comic books, collectible cards and fantasy art. The Company is offering, on a best efforts basis, membership interests in each of the series of the Company listed in the “Series Offering Table” beginning on page 1 of this offering circular. All of the series of our company being offered may collectively be referred to in this offering circular as the “series” and each, individually, as a “series.” The interests of all series may collectively be referred to in this offering circular as the “interests” and each, individually, as an “interest” and the offerings of the interests may collectively be referred to in this offering circular as the “offerings” and each, individually, as an “offering.” See “Securities Being Offered” for additional information regarding the interests. -

2 the Assyrian Empire, the Conquest of Israel, and the Colonization of Judah 37 I
ISRAEL AND EMPIRE ii ISRAEL AND EMPIRE A Postcolonial History of Israel and Early Judaism Leo G. Perdue and Warren Carter Edited by Coleman A. Baker LONDON • NEW DELHI • NEW YORK • SYDNEY 1 Bloomsbury T&T Clark An imprint of Bloomsbury Publishing Plc Imprint previously known as T&T Clark 50 Bedford Square 1385 Broadway London New York WC1B 3DP NY 10018 UK USA www.bloomsbury.com Bloomsbury, T&T Clark and the Diana logo are trademarks of Bloomsbury Publishing Plc First published 2015 © Leo G. Perdue, Warren Carter and Coleman A. Baker, 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers. Leo G. Perdue, Warren Carter and Coleman A. Baker have asserted their rights under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as Authors of this work. No responsibility for loss caused to any individual or organization acting on or refraining from action as a result of the material in this publication can be accepted by Bloomsbury or the authors. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN: HB: 978-0-56705-409-8 PB: 978-0-56724-328-7 ePDF: 978-0-56728-051-0 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. Typeset by Forthcoming Publications (www.forthpub.com) 1 Contents Abbreviations vii Preface ix Introduction: Empires, Colonies, and Postcolonial Interpretation 1 I. -

Burgs & Bailiffs
Burgs & Bailiffs The Grimdark Crew or all those Burgers & Bailiffs that put their words on paper: Paolo Greco, Mike Monaco, Shorty Monster, Steve Sigety, Jeremy Whalen, Rich Wilson Additional Censorship & Grammatical Orthodoxy: Tim Snider Humble Digital Typesetter: Paolo Greco Laid out on Dæmonic Automatic Machines with LATEX January 2013 Whence Burgs & Bailiffs? Burgs & Bailiffs was conceived as a joke. My friend Michela and I were faffing around the interwebs when she joked how: Life in the Middle Ages was some kind of extremely hard-core RPG that went on for 24 hours a day What happened next is entirely my fault. It all started with a mocked cover, which is very close to what ended up being the cover. Then people asked \is this a real thing?" and, since I'm not able to answer \no" to such a question, it became a real thing with the help of a few good souls that contributed. Without Shorty Monster, Steve Sigety, Jeremy Whalen, Rich Wilson, Tim Snider and Mike Monaco (which could not stop sending me articles) B&B would be much smaller or worse than it it now. Thanks guys. Really. So, here it is, in all its non-peer-reviewed, no concerns for academic accuracy glory. Half of the articles don't even have sources. No pretences, it's just for fun and games. Just some material that we hope will help you grim up your games, mix gravel in PCs' food, stab them in the face and pierce them with arrows, bloodlet and mutilate them, besiege their city, arrest, torture, hang and quarter them. -
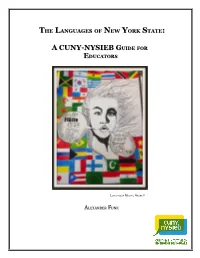
Languages of New York State Is Designed As a Resource for All Education Professionals, but with Particular Consideration to Those Who Work with Bilingual1 Students
TTHE LLANGUAGES OF NNEW YYORK SSTATE:: A CUNY-NYSIEB GUIDE FOR EDUCATORS LUISANGELYN MOLINA, GRADE 9 ALEXANDER FFUNK This guide was developed by CUNY-NYSIEB, a collaborative project of the Research Institute for the Study of Language in Urban Society (RISLUS) and the Ph.D. Program in Urban Education at the Graduate Center, The City University of New York, and funded by the New York State Education Department. The guide was written under the direction of CUNY-NYSIEB's Project Director, Nelson Flores, and the Principal Investigators of the project: Ricardo Otheguy, Ofelia García and Kate Menken. For more information about CUNY-NYSIEB, visit www.cuny-nysieb.org. Published in 2012 by CUNY-NYSIEB, The Graduate Center, The City University of New York, 365 Fifth Avenue, NY, NY 10016. [email protected]. ABOUT THE AUTHOR Alexander Funk has a Bachelor of Arts in music and English from Yale University, and is a doctoral student in linguistics at the CUNY Graduate Center, where his theoretical research focuses on the semantics and syntax of a phenomenon known as ‘non-intersective modification.’ He has taught for several years in the Department of English at Hunter College and the Department of Linguistics and Communications Disorders at Queens College, and has served on the research staff for the Long-Term English Language Learner Project headed by Kate Menken, as well as on the development team for CUNY’s nascent Institute for Language Education in Transcultural Context. Prior to his graduate studies, Mr. Funk worked for nearly a decade in education: as an ESL instructor and teacher trainer in New York City, and as a gym, math and English teacher in Barcelona. -

Nightmare Magazine, Issue 93 (June 2020)
TABLE OF CONTENTS Issue 93, June 2020 FROM THE EDITOR Editorial Announcement for 2021 Editorial: June 2020 FICTION We, the Folk G.V. Anderson Girls Without Their Faces On Laird Barron Dégustation Ashley Deng That Tiny Flutter of the Heart I Used to Call Love Robert Shearman NONFICTION The H Word: Formative Frights Ian McDowell Book Reviews: June 2020 Terence Taylor AUTHOR SPOTLIGHTS G.V. Anderson Ashley Deng MISCELLANY Coming Attractions Stay Connected Subscriptions and Ebooks Support Us on Patreon, or How to Become a Dragonrider or Space Wizard About the Nightmare Team Also Edited by John Joseph Adams © 2020 Nightmare Magazine Cover by Grandfailure / Fotolia www.nightmare-magazine.com Editorial Announcement for 2021 John Joseph Adams and Wendy N. Wagner | 976 words We here at Nightmare are very much looking forward to celebrating our 100th issue in January 2021, and we hope you are too; it’s hard to imagine we’ve been publishing the magazine for that long! While that big milestone looms large, that’s got your humble editor thinking about the future. and change—and thinking about how maybe it’s time for some. Don’t worry—Nightmare’s not going anywhere. You’ll still be able to get your weekly and/or monthly scares on the same schedule you’ve come to expect. It’s just that soon yours truly will be passing the editorial torch. Neither is that a reason for worry, because although she will be newly minted in title, the editor has a name and face you already know: Our long-time managing/senior editor, Wendy N. -

LUCIO FONTANA: SPATIAL ENVIRONMENT (Ambiente Spaziale)
LUCIO FONTANA: SPATIAL ENVIRONMENT (Ambiente Spaziale) On View from January 23 to April 21, 2019 Educator Resource Guide Grades 1 – 12 1 Dear Educator, Ambiente Spaziale (Spatial Environment) is a collaboration between El Museo del Barrio and The Metropolitan Museum of Art’s exhibition Lucio Fontana: On the Threshold [on view at the Met Breuer and curated by Estrellita B. Brodsky and Iria Candela]. Ambiente Spaziale merges the characteristics of painting, sculpture and architecture in order to go beyond the very notion of these artistic languages and create a space where visitors can walk through and experience. The installation highlights the universal themes of space [dialectics], dimensions and sculpture. Works of photography, prints, sculpture, and ceramics accompany paintings in this multi-media exhibition that highlights the iconic presence of the human form in various ways. We hope you will use the educational materials provided in this guide as a resource to support the different areas of study in your classroom and to help prepare your students for a visit to the museum. To help you plan your lessons and units, we have included contextual information and a classroom project guide with discussion questions and prompts. We look forward to having you join us for a visit to El Museo del Barrio this season! The Education Department of El Museo del Barrio 2 Table of Contents Page Number About the Artist: Lucio Fontana……………………………………………………………………………………….……………4 About the Exhibition: Ambiente Spaziale (1968)…………………………..……………………………………..…..6 -
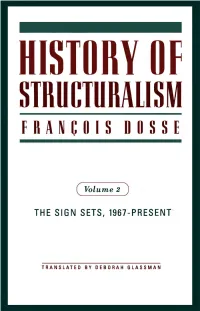
History of Structuralism Volume 2 This Page Intentionally Left Blank History of Structuralism
DJFHKJSD History of Structuralism Volume 2 This page intentionally left blank History of Structuralism Volume 2: The Sign Sets, 1967-Present Francois Dosse Translated by Deborah Glassman University of Minnesota Press Minneapolis London The University of Minnesota Press gratefully acknowledges financial assistance provided by the French Ministry of Culture for the translation of this book. Copyright 1997 by the Regents of the University of Minnesota Originally published as Histoire du structuralisme, 11. Le chant du cygne, de 1967 anos jour«; Copyright Editions La Decouverte, Paris, 1992. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Published by the University of Minnesota Press III Third Avenue South, Suite 290, Minneapolis, MN 554°1-2520 Printed in the United States of America on acid-free paper http://www.upress.umn.edu First paperback edition, 1998 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Dosse, Francois, 1950- [Histoire du structuralisme. English] History of structuralism I Francois Dosse ; translated by Deborah Glassman. p. cm. Includes bibliographical references and index. Contents: v. 1. The rising sign, 1945-1966-v. 2. The sign sets, 1967-present. ISBN 0-8166-2239-6 (v. I: he: alk. paper}.-ISBN 0-8166-2241-8 (v. I: pbk. : alk. paper}.-ISBN 0-8166-2370-8 (v. 2: hc: alk. paper}.-ISBN 0-8166-2371-6 (v. 2: pbk. : alk. paper}.-ISBN 0-8166-2240-X (set: hc: alk. paper}.-ISBN 0-8166-2254-X (set: pbk. -

The Metacomics of Alan Moore, Neil Gaiman, and Warren Ellis
University of Alberta Telling Stories About Storytelling: The Metacomics of Alan Moore, Neil Gaiman, and Warren Ellis by Orion Ussner Kidder A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in English Department of English and Film Studies ©Orion Ussner Kidder Spring 2010 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-60022-1 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-60022-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. -

Volumen XCVIII Nº 203
BOL 203_11.qxp_Layout 1 6/11/20 10:15 Página 494 BOL 203_11.qxp_Layout 1 5/11/20 16:27 Página 3 BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Volumen XCVIII Nº 203 Enero-junio 2020 Quito–Ecuador BOL 203_11.qxp_Layout 1 12/11/20 10:14 Página 4 ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Director Dr. Franklin Barriga Lopéz Subdirector Dr. Cesar Alarcón Costta Secretario Ac. Diego Moscoso Peñaherrera Tesorero Dr. Eduardo Muñoz Borrero, H.C. Bibliotecaria archivera Mtra. Jenny Londoño López Jefa de Publicaciones Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc. Relacionador Institucional Dr. Claudio Creamer Guillén COMITÉ EDITORIAL Dr. Manuel Espinosa Apolo Universidad Central del Ecuador Dr. Kléver Bravo Calle Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Dra. Libertad Regalado Espinoza Universidad Laica Eloy Alfaro-Manabí Dr. Rogelio de la Mora Valencia Universidad Veracruzana-México Dra. Maria Luisa Laviana Cuetos Consejo Superior Investigaciones Científicas-España Dr. Jorge Ortiz Sotelo Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú EDITORA Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc. Universidad Internacional del Ecuador COMITÉ CIENTÍFICO Dra. Katarzyna Dembicz Universidad de Varsovia-Polonia Dr. Silvano Benito Moya Universidad Nacional de Córdoba/CONICET- Argentina Dra. Elissa Rashkin Universidad Veracruzana-México Dr. Hugo Cancino Universidad de Aalborg-Dinamarca Dr. Ekkehart Keeding Humboldt-Universitat, Berlín-Alemania Dra. Cristina Retta Sivolella Instituto Cervantes, Berlín- Alemania Dr. Claudio Tapia Figueroa Universidad Técnica Federico Santa María – Chile Dra. Emmanuelle Sinardet -

Performing Arts Annual 1987. INSTITUTION Library of Congress, Washington, D.C
DOCUMENT RESUME ED 301 906 C3 506 492 AUTHOR Newsom, Iris, Ed. TITLE Performing Arts Annual 1987. INSTITUTION Library of Congress, Washington, D.C. REPORT NO ISBN-0-8444-0570-1; ISBN-0887-8234 PUB DATE 87 NOTE 189p. AVAILABLE FROMSuperintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402 (Ztock No. 030-001-00120-2, $21.00). PUB TYPE Collected Works - General (020) EDRS PRICE MF01/PC08 Plus Postage. DESCRIPTORS Cultural Activities; *Dance; *Film Industry; *Films; Music; *Television; *Theater Arts IDENTIFIERS *Library of Congress; *Screenwriters ABSTRACT Liberally illustrated with photographs and drawings, this book is comprised of articles on the history of the performing arts at the Library of Congress. The articles, listed with their authors, are (1) "Stranger in Paradise: The Writer in Hollywood" (Virginia M. Clark); (2) "Live Television Is Alive and Well at the Library of Congress" (Robert Saudek); (3) "Color and Music and Movement: The Federal Theatre Project Lives on in the Pages of Its Production Bulletins" (Ruth B. Kerns);(4) "A Gift of Love through Music: The Legacy of Elizabeth Sprague Coolidge" (Elise K. Kirk); (5) "Ballet for Martha: The Commissioning of 'Appalachian Spring" (Wayne D. Shirley); (6) "With Villa North of the Border--On Location" (Aurelio de los Reyes); and (7) "All the Presidents' Movies" (Karen Jaehne). Performances at the library during the 1986-87season, research facilities, and performing arts publications of the library are also covered. (MS) * Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made * from the original document. 1 U $ DEPARTMENT OP EDUCATION Office of Educational Research and Improvement 411.111.... -

Mythic Collection, LLC Form 1-A POS Filed 2021-05
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 1-A POS Filing Date: 2021-05-10 SEC Accession No. 0001477932-21-002961 (HTML Version on secdatabase.com) FILER Mythic Collection, LLC Mailing Address Business Address 16 LAGOON CT. 16 LAGOON CT. CIK:1773026| IRS No.: 833427237 | State of Incorp.:DE | Fiscal Year End: 1231 SAN RAFAEL CA 94903 SAN RAFAEL CA 94903 Type: 1-A POS | Act: 33 | File No.: 024-10983 | Film No.: 21905554 415-335-6370 SIC: 5900 Miscellaneous retail Copyright © 2021 www.secdatabase.com. All Rights Reserved. Please Consider the Environment Before Printing This Document POST QUALIFICATION AMENDMENT TO OFFERING STATEMENT EXPLANATORY NOTE This is a post-qualification amendment no. 4 to an offering statement on Form 1-A originally filed by Mythic Collection, LLC (the “Company”) with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on July 31, 2019 and qualified by the SEC on August 5, 2019. The original offering statement was amended by post-qualification amendment no. 1, filed with the SEC on December 13, 2019 and qualified on April 28, 2020, post-qualification amendment no. 2, filed with the SEC on June 30, 2020 and qualified on July 20, 2020, and post-qualification amendment no. 3, initially filed with the SEC on January 7, 2021 and qualified on January 14, 2021. The purpose of this post-qualification amendment is to add to the offering circular contained within the offering statement, as amended and qualified, the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2020, and to amend, update and/or replace certain information contained in the offering circular. -
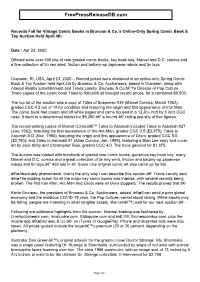
Freepressreleasedb.Com
FreePressReleaseDB.com Records Fall for Vintage Comic Books in Bruneau & Co.'s Online-Only Spring Comic Book & Toy Auction Held April 4th Date : Apr 23, 2020 Offered were over 400 lots of rare graded comic books, key book lots, Marvel and D.C. comics and a fine collection of tin key wind, friction and battery-op Japanese robots and tin toys. Cranston, RI, USA, April 23, 2020 -- Record prices were shattered in an online-only Spring Comic Book & Toy Auction held April 4th by Bruneau & Co. Auctioneers, based in Cranston, along with Altered Reality Entertainment and Travis Landry, Bruneau & Co.’s Director of Pop Culture. Three copies of the comic book Tales to Astonish all brought record prices, for a combined $9,500. The top lot of the auction was a copy of Tales of Suspense #39 (Marvel Comics, March 1963), graded CGC 4.5 out of 10 for condition and featuring the origin and first appearance of Iron Man. The comic book had cream and off-white pages and came housed in a 12 ¾ inch by 8 inch CGC case. It went to a determined bidder for $9,250 – a record – falling just shy of five figures. The record-setting copies of Marvel Comics’ Tales to Astonish included Tales to Astonish #27 (Jan. 1962), featuring the first appearance of the Ant-Man, graded CGC 3.5 ($3,875); Tales to Astonish #13 (Nov. 1960), featuring the origin and first appearance of Groot, graded CGC 5.0 ($3,750); and Tales to Astonish #1 (Atlas Comics, Jan.