Volume 6 N. 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Franquicia Televisiva En Formato Talent Show Infantil Y La Gestualidad En La Performance Del Canto1
Correspondencias & Análisis, 10, julio-diciembre 2019 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional ISSN 2304-2265 (CC BY-NC-SA 4.0). Franquicia televisiva en formato talent show infantil y la gestualidad en la performance del canto1 Recibido: 07/08/2019 Maria Thaís Firmino da Silva Aceptado: 29/10/2019 [email protected] Publicado: 05/12/2019 Universidade Federal do Ceará (Brasil) Maria Érica de Oliveira Lima [email protected] Universidade Federal do Ceará (Brasil) Resumen: Considerando la proliferación de formatos televisivos globales, esta investigación analizó la relación específica entre los medios de comuni- cación y la música en el programa “The Voice Brasil Kids 2018”. El propó- sito fue entender cómo la gestualidad evidenciada genera una brecha entre las características infantiles del talent show y los significados implementa- dos en performances previamente determinadas. Este estudio cualitativo (con investigación bibliográfica, análisis de contenido, análisis estructural) pre- senta argumentos sobre aspectos que implican producciones en formatos y se establece por el sesgo de análisis que reconoce el gesto como elemento de comunicación con significativo impacto en la performance mediatizada técnicamente. Por último, esta investigación señala que la brecha entre la es- pecificidad infantil del programa y la gestualidad (implementada en actuacio- nes previamente determinadas) se apoya en el uso de gestos con significados orientados a la esfera adulta y que el repertorio también puede reforzar esta perspectiva. 1. Este artículo forma parte del resultado presentado en la tesis de maestría en comunicación, titulada “Franquia televisiva em formato talent show infantil e a gestualidade na performance do canto”, defendida por Firmino da Silva (2019) en la Universidade Federal de Ceará (Brasil). -

Volta Ao Ar Nesta Segunda, Veja Como Está O Elenco Da Novela
“Malhação Sonhos” volta ao ar nesta segunda, veja como está o elenco da novela Reprodução Veja como está o elenco de “Malhação Sonhos” Em 2014, “Malhação Sonhos” fez o maior sucesso entre o público jovem. Os fãs da novela enlouqueceram até saber com quem Bianca (Bruna Hamú) iria ficar e fizeram campanhas nas redes sociais para os autores não acabarem com o namoro de Karina ( Isabella Santoni ) e Pedro ( Rafael Vitti ). Nesta segunda- feira (25), a trama adolescente volta ao ar enquanto não há uma nova temporada. Passados cerca de seis anos desde o fim da novela, confira como estão os atores de “Malhação Sonhos”. Leia também Globo ou Globe? Autora de meme explica a verdade sobre vídeo que viralizou Receita Federal acusa Globo de fazer “associação criminosa” com atores Globo fará mudanças no Jornalismo e Maju Coutinho pode apresentar o “Fantástico” Bruna Hamú Reprodução Bruna Hamú viveu Bianca em “Malhação Sonhos” O papel de mocinha em “Malhação Sonhos” ficou por conta de Bruna Hamú. A atriz viveu Bianca, uma jovem que sonha em ser atriz, para o desgosto do pai. O trabalho na novela adolescente foi o primeiro papel de destaque de Bruna e depois disso ela atuou em “A Lei do Amor” e seu último personagem na televisão foi em “A Dona do Pedaço”. Arthur Aguiar Reprodução Arthur Aguiar viveu Duca em “Malhação Sonhos” O protagonista masculino de “Malhação Sonhos” ficou por conta de Arthur Aguiar. Ele interpretou Duca, um jovem que sonhava em ser lutador e era apaixonado por Bianca. Depois desse trabalho, o ator atuou em “Êta Mundo Bom!” e “O Outro Lado do Paraíso”. -

Por Uma Teoria De Fãs Da Ficção Televisiva Brasileira
Por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira Por uma teoria de fãs da fi cção televisiva brasileira Maria Immacolata Vassallo de Lopes (org.) Ana Paula Goulart Ribeiro João Carlos Massarolo Maria Aparecida Baccega Maria Carmem Jacob de Souza Maria Cristina Brandão de Faria Maria Cristina Palma Mungioli Maria Immacolata Vassallo de Lopes Nilda Jacks Renato Luiz Pucci Jr. Veneza Ronsini Yvana Fechine COLEÇÃO TELEDRAMATURGIA VOLUME 4 © Globo Comunicação e Participações S.A., 2015 Capa: Letícia Lampert Projeto gráfico e editoração: Niura Fernanda Souza Preparação de originais e revisão: Felícia Xavier Volkweis Editores: Luis Antônio Paim Gomes e Juan Manuel Guadelis Crisafulli Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Bibliotecária Responsável: Denise Mari de Andrade Souza – CRB 10/960 P832 Por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira / organi- zado por Maria Immacolata Vassallo de Lopes. Porto Alegre: Sulina, 2015. 455 p.; (Coleção Teledramaturgia) ISNB: 978-85-205-0743-8 1. Televisão – Programas. 2. Meios de Informação. 3. Mídia. 4. Produção Televisiva. 5. Comunicação de Massa. I. Lopes, Maria Immacolata Vassallo de. CDD: 070.415 CDU: 316.774 654.19 659.3 Direitos desta edição adquiridos por Globo Comunicação e Participações S.A. Editora Meridional Ltda. Av. Osvaldo Aranha, 440 cj. 101 – Bom Fim Cep: 90035-190 – Porto Alegre/RS Fone: (0xx51) 3311.4082 Fax: (0xx51) 2364.4194 www.editorasulina.com.br e-mail: [email protected] Setembro/2015 Sumário APRESENTAÇÃO Por uma teoria de fãs da ficção televisiva -
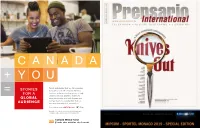
Stories for a Global Audience
T:225 mm C A N A D A T:290 mm + Y O U STORIES Talent and stories that are far reaching. = Canada has a wealth of talent, stunning FOR A locations and many funding options to help create stories that appeal to audiences GLOBAL around the world. Work with Canada and leverage business opportunities that can AUDIENCE take your next project to a new place. Discover more at CMF-FMC.CA Brought to you by the Government of Canada and Canada’s cable, satellite and IPTV distributors. WWW.PRENSARIO.TV WWW.PRENSARIO.TV CMF_20128_Prensario_FP_SEPT13_Ad_FNL.indd 1 2019-09-11 4:34 PM Job # CMF_20128 File Name CMF_20128_Prensario_FP_SEPT13_Ad_FNL.indd Modified 9-11-2019 4:34 PM Created 9-11-2019 4:34 PM Station SOS Daniel iMac Client Contact Emmanuelle Publication Prensario CMYK Helvetica Neue LT Std Designer Shravan Insertion Date September 13, 2019 Production Sarah Ad Due Date September 13, 2019 INKS Account Manager Sarah Bleed 235 mm x 300 mm FONTS PERSONNEL Production Artist Daniel SPECIFICATIONS Trim 225 mm x 290 mm Comments None Safety 205 mm x 270 mm 64x60 WWW.PRENSARIO.TV WWW.PRENSARIO.TV Live: 205 Trim: 225 Bleed: 235 //// COMMENTARY NICOLÁS SMIRNOFF Mipcom: Truth or Dare Prensario International ©2018 EDITORIAL PRENSARIO SRL PAYMENTS TO THE ORDER OF EDITORIAL PRENSARIO SRL OR BY CREDIT CARD. REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Nº 10878 Mipcom 2018 is again the main content event Also through this print issue, you will see ‘the Argentina: Lavalle 1569, Of. 405 of the year, with about 13,000 participants, newest of the newest’ about trends: strategies, C1048 AAK 4,000 buyers and almost 2000 digital buyers. -

A Vozibilidade E a Emergência De Um Sujeito Midiático No the Voice Brasil: O Caso Deena Love
A Vozibilidade e a emergência de um sujeito midiático no The Voice Brasil: o caso Deena Love A Vozibilidade e a emergência de um sujeito midiático no The Voice Brasil: o caso Deena Love Henrique Codato Doutor; Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil [email protected] Leonardo Gomes Pereira Mestre; Universidade do Estado de Minas Gerais, Divinópolis, MG, Brasil [email protected] Resumo O artigo busca refletir sobre o programa The Voice Brasil 3, analisando um de seus candidatos, Pedro Novas/Deena Love, em sua figura ambígua – o que serve de modelo para pensarmos na própria estrutura do programa: que permite, condiciona e é dependente de corpo e voz do candidato em performance. Assim, defende-se que tal estrutura possibilita a emergência de um sujeito midiático por um processo que aqui chamamos vozibilidade, tensionando as complexas relações entre imagem, voz e corpo nessa dinâmica televisiva. Palavras-chave Televisão. Narrativa midiática. Reality show. Sujeito Midiático. Vozibilidade. 1 Introdução O que se relata foi experimentado no dia 18 de setembro de 2014, ao assistirmos ao primeiro episódio da terceira temporada do programa “The Voice Brasil” (TVB3), veiculado pela Rede Globo (THE VOICE, 2014). O programa promete encontrar e premiar1, entre 1 Premiação: 500 mil reais, contrato com gravadora e gerenciamento de carreira. 80 Intexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 38, p. 80-97, jan./abr. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.19132/1807-8583201738.80-97 A Vozibilidade e a emergência de um sujeito midiático no The Voice Brasil: o caso Deena Love diversos candidatos pré-selecionados2, a melhor “voz”. Esta passa pela avaliação de reconhecidos artistas – Lulu Santos, Cláudia Leitte, Daniel e Carlinhos Brown – bem como do público, que, nas fases finais do programa, escolhe o vencedor. -

AUDIÊNCIA Novembro/2016 Ranking Comparativo De Participação Dados Domiciliares Por Períodos, Dados Domiciliares
PESQUISA DE AUDIÊNCIA Novembro/2016 Ranking Comparativo de Participação Dados domiciliares Por períodos, dados domiciliares As maiores audiências da TV aberta regional Das 7h às 24h, de cada 100 domicílios com aparelhos são da TV Fronteira de TV ligados, 53 estão sintonizados na TV Fronteira. A nossa participação é 3,8 vezes maior que a segunda Programa Audiência Participação colocada (B). 1. Futebol Quarta 37 60 2. Novela IlI 35 57 TV Fronteira Emissora B Emissora C Emissora D Outras 3. Jornal Nacional 33 56 4. Globo Repórter 31 59 Matutino Vespertino 5. Show de Terca-Feira I 31 53 7h às 12h 12h às 18h 6. Novela II 30 53 7. SPTV 2ª Edição 28 54 15 18 8. Fantástico 26 55 10 9 9. Tela Quente 26 59 54 50 8 10. Novela I 25 52 11 11. Domingão do Faustão 24 50 13 12 12. SPTV 1ª Edição 24 63 13. The Voice Brasil 24 56 14. Globo Esporte 23 63 Noturno Média Geral 15. Show de Sexta-Feira II 22 55 18h às 24h 7h às 24h 16. Malhação 22 51 9 12 17. Futebol Domingo 22 47 7 18. Jornal Hoje 21 62 9 19. Profissão Repórter 21 62 14 54 12 53 20. Zorra 21 53 21. Show de Terça-Feira II 20 48 16 14 22. Bom Dia Fronteira 17 61 23. Mais Você 16 54 24. Vale a Pena Ver de Novo 16 46 25. Encontro 16 52 Comparativo de Audiência 26. Bom Dia Brasil 16 54 Dados domiciliares, das 7h às 24h 27. -
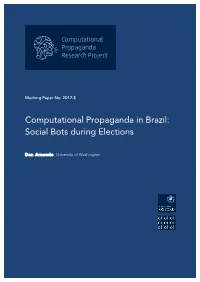
Computational Propaganda in Brazil: Social Bots During Elections
Working Paper No. 2017.8 Computational Propaganda in Brazil: Social Bots during Elections Dan Arnaudo, University of Washington 1 Table of Contents Abstract ............................................................................................................................ 3 Introduction ...................................................................................................................... 3 Setting the scene: A turbulent but vibrant political system reflected online ................... 7 Bots enter a presidential debate .................................................................................... 12 Impeachment and the electronic campaign that never ended ...................................... 16 The 2016 Rio de Janeiro municipal elections ................................................................ 19 Conclusion: Responses and emerging trends ................................................................ 26 References ...................................................................................................................... 27 Citation ........................................................................................................................... 38 Series Acknowledgements ............................................................................................. 38 Table of Tables Table 1: Bot created by UFMG ................................................................................. 21 Table 2: Hashtags collected from February 27 to March 27, 2017 .......................... -

Universidade Federal Do Ceará Instituto De Cultura E Arte Programa De Pós-Graduação Em Comunicação
28/02/2019 Capa_sem assinaturas - Documentos Google UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO MARIA THAÍS FIRMINO DA SILVA FRANQUIA TELEVISIVA EM FORMATO TALENT SHOW INFANTIL E A GESTUALIDADE NA PERFORMANCE DO CANTO FORTALEZA 2019 https://docs.google.com/document/d/1_B8dpJQ_-IPlP5zPChOLvsXiw_oAlyMLIaNzF7kHGpY/edit# 1/14 28/02/2019 Capa_sem assinaturas - Documentos Google MARIA THAÍS FIRMINO DA SILVA FRANQUIA TELEVISIVA EM FORMATO TALENT SHOW INFANTIL E A GESTUALIDADE NA PERFORMANCE DO CANTO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, como requisito à obtenção do título de Mestre em Comunicação. Área de concentração: Mídias e Práticas Socioculturais. Orientadora: Profª. Drª. Maria Érica de Oliveira Lima Co-orientadora: Profª Drª Heloísa de Araújo Duarte Valente FORTALEZA 2019 https://docs.google.com/document/d/1_B8dpJQ_-IPlP5zPChOLvsXiw_oAlyMLIaNzF7kHGpY/edit# 2/14 28/02/2019 Capa_sem assinaturas - Documentos Google https://docs.google.com/document/d/1_B8dpJQ_-IPlP5zPChOLvsXiw_oAlyMLIaNzF7kHGpY/edit# 3/14 28/02/2019 Capa_sem assinaturas - Documentos Google MARIA THAÍS FIRMINO DA SILVA FRANQUIA TELEVISIVA EM FORMATO TALENT SHOW INF ANTIL E A GESTUALIDADE NA PERFORMANCE DO CANTO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, como requisito à obtenção do título de Mestre em Comunicação. Área de concentração: Mídias e Práticas Socioculturais. Orientadora: Profª. Drª. Maria -

Redalyc.Dispositivo Midiático De Participação Nas Interações Transmídias: Explorando O Conceito a Partir Das Ações Da Re
Galáxia E-ISSN: 1982-2553 [email protected] Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Brasil Fechine, Yvana; Gouveia Moreira, Diego Dispositivo midiático de participação nas interações transmídias: explorando o conceito a partir das ações da Rede Globo no seriado Malhação Galáxia, núm. 32, agosto, 2016, pp. 26-37 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo São Paulo, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=399646423003 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto 26 FECHINE, Y; MOREIRA, D. G. Dispositivo midiático de participação nas interações transmídias: explorando o conceito a partir das ações da Rede Globo no seriado Malhação. Galaxia (São Paulo, Online), n. 32, p. 26-37, ago. 2016. http://dx.doi.org/10.1590/1982-25542016223618 Dispositivo midiático de participação nas interações transmídias: explorando o conceito a partir das ações da Rede Globo no seriado Malhação1 Yvana Fechine Diego Gouveia Moreira Resumo: A transmidiação é um modelo de produção orientado pela distribuição em distintas mídias e plataformas tecnológicas de conteúdos associados entre si e cuja articulação depende do engajamento proposto ao consumidor. As ações transmídias dependem da disposição do público para, de um lado, buscar e correlacionar os conteúdos midiáticos e, de outro, comentar, compartilhar e intervir diretamente nos produtos ofertados em diferentes plataformas. A participação proposta pelo projeto transmídia precisa, no entanto, estar alinhada com determinados objetivos comunicativos e corporativos. Para que suas estratégias tenham êxito, os produtores transmídias buscam influenciar o público e manter algum tipo de controle sobre o universo interacional acionado pelo projeto. -

Vencedor Do the Voice Lança Ep Israel & Rodolffo Na
movimento Divulgação ARTISTAS QUEREM MELHOR Divulgação BETE FERREIRA REATIVA BF COMUNICAÇÃO A JORNALISTA BETE FERREIRA começou sua trajetória no mundo artístico em 1998, ao REMUNERAÇÃO NO AMBIENTE ONLINE ingressar na Rádio Cidade, na época líder de audiência, onde deu seus primeiros passos EM JULHO, A UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES realizou em São Paulo o encontro Direito Autoral na Era Digital. Na ocasião, diretores apresentaram aos em assessoria de imprensa, inserindo na extinta emissora esse tipo de trabalho, até então Divulgação inexistente. Hoje, com sua “maioridade” profissional, acumulou a experiência e a credibi- presentes um panorama sobre o trabalho e as lutas da associação, em especial no lidade para estar no mercado à frente da BF Comunicação. que se refere à questão dos direitos autorais pagos por empresas que utilizam Responsável pela divulgação de grandes artistas e eventos de destaque, Bete Ferreira música de forma digital. Aloysio Reis, da Sony ATV e do Board da UBC, destacou construiu sua carreira – que inclui duas turnês internacionais – montando equipes que a que no âmbito digital apenas players como Apple e Spotify vem recolhendo os direitos autorais conforme estabelecido em ajudaram a ter êxito por onde passou. Ainda na época da faculdade, após sair da rádio, convenções internacionais. Lembrou que as demais plataformas de streaming e sites de compartilhamento de vídeos, como seus primeiros clientes foram os artistas Rodrigo Faro e Tiririca, entre outros. Foi nessa Vevo e YouTube, mantém-se inadimplentes por não concordar com as regras de recohimento. “No primeiro semestre, foram época que criou a BF Comunicação. Bete foi a primeira assessora de comunicação de arrecadados no Brasil R$ 12 milhões em direitos digitais pelas editoras associadas à UBEM. -

Anderson Eslie Leite De Oliveira a Construção Do
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ANDERSON ESLIE LEITE DE OLIVEIRA A CONSTRUÇÃO DO ÍDOLO POP EM PROGRAMAS DE REALITY SHOW MUSICAL: SOBRE O THE VOICE BRASIL CAMPINAS 2019 ANDERSON ESLIE LEITE DE OLIVEIRA A CONSTRUÇÃO DO ÍDOLO POP EM PROGRAMAS DE REALITY SHOW MUSICAL: SOBRE O THE VOICE BRASIL Tese apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Doutor em Ciências Sociais. Orientador: José Eduardo Ribeiro de Paiva ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA TESE DEFENDIDA PELO ALUNO ANDERSON ESLIE LEITE DE OLIVEIRA, E ORIENTADO PELO PROF. DR. JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA. CAMPINAS 2019 Ficha catalográfica Universidade Estadual de Campinas Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Cecília Maria Jorge Nicolau - CRB 8/3387 Oliveira, Anderson Eslie Leite de, 1984- OL4c A construção do ídolo pop em programas de reality show musical : sobre o The Voice Brasil / Anderson Eslie Leite de Oliveira. – Campinas, SP : [s.n.], 2019. Orientador: José Eduardo Ribeiro de Paiva. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 1. The Voice Brasil (Programa de televisão). 2. Indústria cultural. 3. Indústria fonográfica. 4. Música popular. 5. Reality shows (Programas de televisão). I. Paiva, José Eduardo Ribeiro de, 1959-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. Informações para Biblioteca Digital -

Another Record Year on the Horizon for Tourism Industry
Q3 2018 Another Record Year on the Horizon for Tourism Industry Through the first nine months of 2018, our destination is on pace to set records in several key areas, including hotel demand, average daily room rate, tourist development tax revenue and air passenger traffic. In addition, hotel occupancy continues to be very strong and the Orange County Convention Center will likely experience its second- or third-best year ever for attendance. While we are monitoring some economic headwinds that indicate performance may slow during the fourth quarter, signs still point to 2018 being another record year overall. To increase awareness in our top domestic markets, while driving visitation during the traditionally slower fall season, Visit Orlando launched an integrated campaign that encourages consumers to “Make Every Day a Holiday.” Supplementing these efforts, international highlights included “Uniquely Orlando” campaigns built around key booking periods in Canada and the UK. In Brazil, where our brand health survey confirmed Orlando remains the preferred vacation destination for families, our messaging centered on visitors exploring the Theme Park Capital of the World®. In August, a record number of members attended Visit Orlando’s Business Insights Luncheon & Economic Forum, and in September Visit Orlando’s Magical Dining Month wrapped up a successful 13th year, with more than 100 restaurants supporting two local charities: Best Buddies and the Down Syndrome Association of Central Florida. (The final donation amount will be announced Dec. 13 at our Annual Meeting & Luncheon.) To coincide with Magical Dining, our public relations team secured several stories promoting Orlando’s array of quality dining options, generating twice as much publicity as last year.