Otto Maria Carpeaux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

INDICE (Con Appendice Delle Fonti)
INDICE (con appendice delle fonti) Walter Veltroni Sindaco di Roma . XLIII Francesco Storace Presidente della Regione Lazio . XLV Gianni Borgna Assessore alla Cultura del Comune di Roma . XLVII PRESENTAZIONI Armando Gnisci . XLVIII Roberto Piperno . L Jolanda Capotondi . LI INTRODUZIONE Filippo Bettini . LIII CAPITOLO I - IL PERIODO CLASSICO I. LE ORIGINI E L'ETÀ ARCAICA Licófrone Alessandria . 3 Ennio Annali . 3 Gaio Lucilio Satire . 4 APPENDICE RISERVATA ALLA PROSA Polibio Le Storie . 5 II. L'ETÀ DI CESARE Lucrezio De rerum natura . 10 Catullo I carmi . 10 APPENDICE RISERVATA ALLA PROSA Sallustio La congiura di Catilina . 11 III. L'ETÀ DI AUGUSTO Publio Virgilio Marone Eneide, Bucoliche, Georgiche . 14 Quinto Orazio Flacco Satire, Odi, Epodi, Carme secolare, Epistole . 20 Properzio Elegie . 30 Publio Ovidio Nasone Rimedi contro l'amore, L'arte di amare, I Fasti, Tristezze . 31 Manilio Il poema degli astri - Astronomica . 38 APPENDICE RISERVATA ALLA PROSA Tito Livio Storia di Roma . 42 Strabone Geografia - L'Italia . 43 IV. L'ETÀ GIULIO CLAUDIA San Giovanni Evangelista Apocalisse . 45 Lucio Anneo Seneca La zucca «divinizzata» Apoteosi del divo Claudio . 47 Aulio Persio Flacco Satire . 47 M. Anneo Lucano Farsaglia . 48 VII APPENDICE RISERVATA ALLA PROSA Lucio Anneo Seneca L'ozio e la serenità . 53 Petronio Satiricon . 53 V. L'ETÀ DEI FLAVI Marco Valerio Marziale Il libro degli spettacoli, Epigrammi . 54 Publio Papinio Stazio Le selve . 75 Decimo Giunio Giovenale Satire . 78 Iscrizione funeraria di Urso . 90 APPENDICE RISERVATA ALLA PROSA Plinio il Vecchio Storia naturale . 91 Flavio Giuseppe La guerra giudaica . 93 Plutarco Vita di Alessandro Magno - Vita di Cesare . -

Literatura Portuguesa
LITERATURA PORTUGUESA III - LITERATURA PORTUGUESA E HISTÓRIA NO LONGO SÉCULO XIX Helder Garmes - 1º semestre de 2019 - Segunda-feira - Noturno Proposta: O curso propõe discutir a relação entre literatura e história em Portugal no decorrer do chamado longo século XIX, que adentra ao início do século XX. Serão tratados os seguintes escritores: Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Camilo Pessanha e Fernando Pessoa. Ainda que de forma panorâmica, por tratar de diversos autores, o curso mantém o foco na relação entre literatura e história, tema crucial para o estudo da literatura portuguesa desse período. FEVEREIRO 18 – Apresentação do programa – O século XIX em Portugal – Literatura Comparada 25 - Debate Literatura e História – Roger Chartier e João Adolfo Hansen MARÇO 04 – Carnaval 11 – Almeida Garrett – Frei Luís de Sousa SANDMANN, Marcelo Corrêa. “Frei Luís de Sousa: um clássico romântico”. Letras, Curitiba, n. 51, p. 93-130, jan./jun. 1999. Editora da UFPR. 18 – Alexandre Herculano – “A morte do Lidador”, do livro Lendas e narrativas OLIVEIRA, Rodrigo Santos de. “A construção do imaginário do guerreiro lusitano romântico em A morte do lidador de Alexandre Herculano”. Historiæ, Rio Grande, 8 (1): 93-107, 2017. 25 – Semana Santa ABRIL 01 – Alexandre Herculano – “A dama do pé de cabra”, do livro Lendas e Narrativas ALVES, Carla Carvalho. “A dama do pé de cabra”: entre o histórico e o fantástico, Desassossego, n. 11, 2014, p.48-59 8 – Camilo Castelo Branco – O senhor do Paço de Ninães 15 – Semana Santa 22 – Camilo Castelo Branco – O senhor do Paço de Ninães PAVANELO, Luciene Marie. -

Country School Name ALGERIA Faculte De Chirurgie-Dentaire
Country School Name ALGERIA Faculte De Chirurgie-Dentaire ALGERIA Institut De Sciences Medicales Oran Departement De Chirurgie Dentaire ALGERIA Institut Des Sciences Medicales ALGERIA Institut Des Sciences Medicales Annaba ARGENTINA Universidad De Buenos Aires Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De Cordoba Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De La Plata Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De Rosario Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De Tucuman Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional Del Nordeste Facultad De Odontologia ARMENIA Erevan Medical Institute Faculty of Stomatology AUSTRALIA School of Dentistry and Oral Health AUSTRALIA The University Of Melbourne School of Dental Science AUSTRALIA The University Of Queensland School of Dentistry AUSTRALIA University Of Adelaide Department Of Dental Science AUSTRALIA University Of Sydney Faculty of Dentistry AUSTRALIA Westmead Dental Clinical School AUSTRIA Universitaetsklinik fur ZMK Graz AUSTRIA Universitaetsklinik fur ZMK Innsbruck AUSTRIA Universitaetsklinik fur ZMK Wien AZERBAIJAN Azerbaijan Medical Institute Faculty of Stomatology BELARUS Belorussian State Medical University Faculty of Stomatology BELARUS Minsk Medical Institute Faculty of Stomatology BELARUS Vitebsk State Medical University Faculty of Stomatology BELGIUM Ecole de Medecine Dentaire et de Stomatologie BELGIUM Ecole de Medecine Dentaire Pathologie Buccale et Chirurgie Maxillo-Faciale BELGIUM Universite de Liege Institut de Dentisterie -
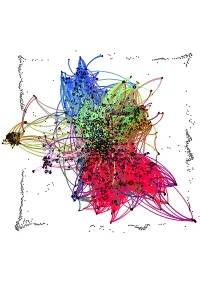
Network Map of Knowledge And
Humphry Davy George Grosz Patrick Galvin August Wilhelm von Hofmann Mervyn Gotsman Peter Blake Willa Cather Norman Vincent Peale Hans Holbein the Elder David Bomberg Hans Lewy Mark Ryden Juan Gris Ian Stevenson Charles Coleman (English painter) Mauritz de Haas David Drake Donald E. Westlake John Morton Blum Yehuda Amichai Stephen Smale Bernd and Hilla Becher Vitsentzos Kornaros Maxfield Parrish L. Sprague de Camp Derek Jarman Baron Carl von Rokitansky John LaFarge Richard Francis Burton Jamie Hewlett George Sterling Sergei Winogradsky Federico Halbherr Jean-Léon Gérôme William M. Bass Roy Lichtenstein Jacob Isaakszoon van Ruisdael Tony Cliff Julia Margaret Cameron Arnold Sommerfeld Adrian Willaert Olga Arsenievna Oleinik LeMoine Fitzgerald Christian Krohg Wilfred Thesiger Jean-Joseph Benjamin-Constant Eva Hesse `Abd Allah ibn `Abbas Him Mark Lai Clark Ashton Smith Clint Eastwood Therkel Mathiassen Bettie Page Frank DuMond Peter Whittle Salvador Espriu Gaetano Fichera William Cubley Jean Tinguely Amado Nervo Sarat Chandra Chattopadhyay Ferdinand Hodler Françoise Sagan Dave Meltzer Anton Julius Carlson Bela Cikoš Sesija John Cleese Kan Nyunt Charlotte Lamb Benjamin Silliman Howard Hendricks Jim Russell (cartoonist) Kate Chopin Gary Becker Harvey Kurtzman Michel Tapié John C. Maxwell Stan Pitt Henry Lawson Gustave Boulanger Wayne Shorter Irshad Kamil Joseph Greenberg Dungeons & Dragons Serbian epic poetry Adrian Ludwig Richter Eliseu Visconti Albert Maignan Syed Nazeer Husain Hakushu Kitahara Lim Cheng Hoe David Brin Bernard Ogilvie Dodge Star Wars Karel Capek Hudson River School Alfred Hitchcock Vladimir Colin Robert Kroetsch Shah Abdul Latif Bhittai Stephen Sondheim Robert Ludlum Frank Frazetta Walter Tevis Sax Rohmer Rafael Sabatini Ralph Nader Manon Gropius Aristide Maillol Ed Roth Jonathan Dordick Abdur Razzaq (Professor) John W. -
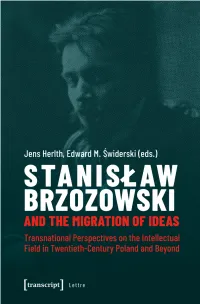
Stanislaw Brzozowski and the Migration of Ideas
Jens Herlth, Edward M. Świderski (eds.) Stanisław Brzozowski and the Migration of Ideas Lettre Jens Herlth, Edward M. Świderski (eds.) with assistance by Dorota Kozicka Stanisław Brzozowski and the Migration of Ideas Transnational Perspectives on the Intellectual Field in Twentieth-Century Poland and Beyond This volume is one of the outcomes of the research project »Standing in the Light of His Thought: Stanisław Brzozowski and Polish Intellectual Life in the 20th and 21st Centuries« funded by the Swiss National Science Foundation (project no. 146687). The publication of this book was made possible thanks to the generous support of the »Institut Littéraire Kultura«. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Na- tionalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommer- cial-NoDerivatives 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non-commercial purposes, provided credit is given to the author. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ To create an adaptation, translation, or derivative of the original work and for com- mercial use, further permission is required and can be obtained by contacting [email protected] Creative Commons license terms for re-use do not apply to any content (such as graphs, figures, photos, excerpts, etc.) not original to the Open Access publication and further permission may be required from the rights holder. The obligation to research and clear permission lies solely with the party re-using the material. -

A Ficção Camiliana: a Escrita Em Cena
i i i i i i i i i i i i 2 i i i i i i i i A ficção camiliana: a escrita em cena i i i i i i i i São Paulo e Lisboa, 2014 FICHA TÉCNICA Título: A ficção camiliana: a escrita em cena Autor: Moizeis Sobreira Coleção: Teses Capa, Composição & Paginação: Luís da Cunha Pinheiro Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa São Paulo e Lisboa, julho de 2014 ISBN – 978-989-8577-23-8 Esta publicação foi financiada por Fundos Nacionais através da FCT – Fun- dação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projecto Estratégico «PEst- -OE/ELT/UI0077/2014» i i i i i i i i Moizeis Sobreira A ficção camiliana: a escrita em cena CLEPUL São Paulo e Lisboa 2014 i i i i i i i i i i i i i i i i Índice Em cena. Camilo!........................9 I Introdução 13 1.1 – A ficção camiliana no âmbito dos estudos literários: uma dívida por saldar.......................... 15 1.2 – A crítica biográfica: origens e desdobramentos....... 18 1.3 – O fulcro da Novela Camiliana ............... 28 1.4 – Camilo sob a lente positivista de Teófilo Braga: um escritor sem projeto............................ 34 II 45 1.1 – Paralelo ao Amor de Perdição ................ 47 1.2 – O Narrador e o Leitor: Protagonistas de Amor de Perdição 71 1.3 – Um roteiro de leitura para Amor de Perdição ........ 91 III 107 1.1 – Onde Está a Felicidade? e os Bastidores da Escrita... -

Alexandre Herculano E a Construção Do Texto Histórico: Escrita, Fontes E Narrativa
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS MICHELLE FERNANDA TASCA Alexandre Herculano e a construção do texto histórico: escrita, fontes e narrativa CAMPINAS 2018 MICHELLE FERNANDA TASCA Alexandre Herculano e a construção do texto histórico: escrita, fontes e narrativa Tese apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Doutora em História na Área de Política Memória e Cidade. Supervisor/Orientador: Cristina Meneguello ESSE EXEMPLAR CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA TESE DEFENDIDA PELA ALUNA MICHELLE FERNANDA TASCA E ORIENTADA PELA PROFESSORA DOUTORA CRISTINA MENEGUELLO. ______________________________________ CAMPINAS 2018 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa de Tese de Doutorado, composta pelos Professores Doutores a seguir descritos, em sessão pública realizada em 12 de abril de 2018, considerou a candidata Michelle Fernanda Tasca aprovada. Profa. Dra. Cristina Meneguello Prof. Dr. Luiz Estevam de Oliveira Fernandes Prof. Dr. José Alves de Freitas Neto Profa. Dra. Iara Lís Franco Schiavinatto Prof. Dr. Julio Cesar Bentivoglio A Ata de Defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertações/Teses e na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Para meus pais... AGRADECIMETOS Escrever os agradecimentos de um trabalho é atestá-lo como concluído. É uma parte fácil se pensada em relação a tudo o que trabalhamos para chegar nesse momento. Mas é também a mais difícil, pois exige a consciência do fim. -

Authors, Translators & Other Masqueraders
Transgressing Authority – Authors, Translators and Other Masqueraders Alexandra Lopes The huge success of Walter Scott in Portugal in the first half of the 19th century was partially achieved by sacrificing the ironic take on authorship his Waverley Novels entailed. This article examines translations of his works within the context of 19th century Portugal with a focus on the translation(s) of Waverley. The briefest perusal of the Portuguese texts reveals plentiful instances of new textual authority, which naturally compose a sometimes very different author(ship) -- an authorship often mediated by French translations. Thus a complex web of authority emerges effectively, if deviously, (re)creating the polyphony of authorial voices and the displacement of the empirical author first staged by the source texts themselves. Keywords: authorship, literary translation, translation history, translatability L’immense succès connu par Walter Scott au Portugal dans la première moitié du XIXe siècle se doit en partie au sacrifice de la dimension ironique de la voix auctoriale dans sa série Waverley. Cet article examine les traductions des oeuvres de Scott dans le contexte du Portugal de l’époque en portant une attention particulière aux traductions de Waverley. Même un très bref aperçu des textes portuguais révèle de nombreux exemples d’instances nouvelles d’autorité narrative, lesquelles créent une voix auctoriale parfois très différente de celle du texte original à cause souvent du rôle médiateur des traductions françaises. Un tissu complexe de voix auctoriales émerge ainsi, bien que par le biais d’artifices, recréant la polyphonie des voix auctoriales et le déplacement de l’auteur empirique, mis en scène d’abord par les textes originaux. -

Anthology of Polish Poetry. Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad Program, 1998 (Hungary/Poland)
DOCUMENT RESUME ED 444 900 SO 031 309 AUTHOR Smith, Thomas A. TITLE Anthology of Polish Poetry. Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad Program, 1998 (Hungary/Poland). INSTITUTION Center for International Education (ED), Washington, DC. PUB DATE 1998-00-00 NOTE 206p. PUB TYPE Collected Works - General (020)-- Guides Classroom - Teacher (052) EDRS PRICE MF01/PC09 Plus Postage. DESCRIPTORS Anthologies; Cultural Context; *Cultural Enrichment; *Curriculum Development; Foreign Countries; High Schools; *Poetry; *Poets; Polish Americans; *Polish Literature; *World Literature IDENTIFIERS Fulbright Hays Seminars Abroad Program; *Poland; Polish People ABSTRACT This anthology, of more than 225 short poems by Polish authors, was created to be used in world literature classes in a high school with many first-generation Polish students. The following poets are represented in the anthology: Jan Kochanowski; Franciszek Dionizy Kniaznin; Elzbieta Druzbacka; Antoni Malczewski; Adam Mickiewicz; Juliusz Slowacki; Cyprian Norwid; Wladyslaw Syrokomla; Maria Konopnicka; Jan Kasprowicz; Antoni Lange; Leopold Staff; Boleslaw Lesmian; Julian Tuwim; Jaroslaw Iwaszkiewicz; Maria Pawlikowska; Kazimiera Illakowicz; Antoni Slonimski; Jan Lechon; Konstanty Ildefons Galczynski; Kazimierz Wierzynski; Aleksander Wat; Mieczyslaw Jastrun; Tymoteusz Karpowicz; Zbigniew Herbert; Bogdan Czaykowski; Stanislaw Baranczak; Anna Swirszczynska; Jerzy Ficowski; Janos Pilinsky; Adam Wazyk; Jan Twardowski; Anna Kamienska; Artur Miedzyrzecki; Wiktor Woroszlyski; Urszula Koziol; Ernest Bryll; Leszek A. Moczulski; Julian Kornhauser; Bronislaw Maj; Adam Zagajewskii Ferdous Shahbaz-Adel; Tadeusz Rozewicz; Ewa Lipska; Aleksander Jurewicz; Jan Polkowski; Ryszard Grzyb; Zbigniew Machej; Krzysztof Koehler; Jacek Podsiadlo; Marzena Broda; Czeslaw Milosz; and Wislawa Szymborska. (BT) Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. Anthology of Polish Poetry. Fulbright Hays Summer Seminar Abroad Program 1998 (Hungary/Poland) Smith, Thomas A. -

Zanikanie I Istnienie Niepełne
Zanikanie i istnienie niepełne W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości NR 3108 Zanikanie i istnienie niepełne W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości pod redakcją Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej Pawła Paszka Leszka Zwierzyńskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Studia o Kulturze Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Recenzent Jarosław Ławski Spis treści Wstęp (Leszek Zwierzyński, Paweł Paszek) . 7 ROMANTYCZNE ZAŁOŻENIE – W STRONĘ PODMIOTOWOŚCI NOWOCZESNEJ Leszek Zwierzyński „Ja” poetyckie Słowackiego – próba ujęcia konstelacyjnego . 15 Lucyna Nawarecka Ja – Duch. O podmiocie Króla-Ducha . 53 Agata Seweryn Słowacki i świerszcze . 65 Dariusz Seweryn Maria bez podmiotu. Powieść poetycka Antoniego Malczewskiego jako utwór epicki . 83 PODMIOTOWOŚĆ I EKSCES Włodzimierz Szturc Pisanie jest doszczętne – Antonin Artaud . 113 Kamila Gęsikowska Doświadczenie postrzegania pozazmysłowego – przypadek Agni Pilch . 129 Magdalena Bisz „Ja” psychotyczne – „ja” twórcze. O Aurelii Gerarda de Nervala . 145 6 Spis treści PRZEKROCZENIA: NOWOCZESNOŚĆ I PONOWOCZESNOŚĆ Magdalena Saganiak Bourne. Podmiotowość znaleziona na marginesie, czyli o meta- fizyce w sztuce masowej . 169 Tomasz Gruszczyk We wstecznym lusterku. Konstytuowanie podmiotu w prozie Zyg- munta Haupta . 191 Paweł Paszek Modlitwa i nieobecność. Poe-teo-logia Ryszarda Krynickiego . 211 Alina Świeściak Przygodne tożsamości Andrzeja Sosnowskiego . 235 Indeks nazw osobowych . 249 Wstęp Niniejsza książka stanowi próbę (cząstkową, ograniczoną) -

Why Did Cyprian Norwid Tear the Memorial Drawing from Egypt He Had Received from Juliusz Słowacki? on the Private Nature of Czarne Kwiaty (Black Flowers)
Colloquia Litteraria UKSW 4/2017 Ewa Szczeglacka-Pawłowska WHY DID CYPRian NORwiD teaR the memoRial DRawing FRom EGYpt he haD ReceiveD FRom Juliusz Słowacki? ON the PRivate NatuRE OF CZARNE KWiaTy (BLacK FLOWERS) Private life became an important part of art in the Romantic period. This is a general statement which includes various issues and problems of an aesthetic nature referring to the period of Romanticism and to the culture of the reception of works of art and readers’ expectations which existed at that time. The lives of artists, including their private lives, became more and more public in the sense of being subjected to the expectations and judgements of the public. Private and intimate lives had a powerful influence on the shaping of literary conventions and on the ways of development of lyric poetry. The unofficial sphere was quite important in Norwid’s aesthetics. It was dealt with, among others, in Czarne kwiaty (Black Flowers). It seems that Norwid pushed further the border of what was private and intimate in art, further than it had been established in the first half of the nineteenth century. I would like to start my explanations with a detail. Adam Mickiewicz, in his notebook for Dziady część III (Forefathers’ Eve Part III) in the stage directions for the prison scene wrote: A corridor—guardsmen with carbines stand nearby—a few young prisoners, [in dressing gowns—G.M.] with candles, leave their cells—midnight.1 1 Adam Mickiewicz, Forefathers’ Eve, transl. by Charles Kraszewski, Glagoslav Publications, London, 2016, 181. 289 COLLOQUIA LITTERARIA In the text which was published we find, however, the following words: A corridor—guardsmen with carbines stand nearby—a few young prisoners, with candles, leave their cells—midnight. -

Antoni Malczewski – Duch Romantyczny Zanurzony W Tradycji
Colloquia Litteraria UKSW 1/2016 BARBARA STELMASZCZYK ANTONI MALCZEWSKI – DUCH ROMANTYCZNY ZANURZONY W TRADYCJI. O MARII Gdy w 1825 roku trzydziestodwuletni Antoni Malczewski opubli- kował poemat Maria, to swym debiutem wpisywał się w trwający od pewnego czasu ferment dyskusji nad młodą poezją polską. Po- jawił się bowiem na warszawskiej scenie literackiej jako nieznany autor zaledwie w trzy lata po tym, jak sympatycy romantycznych tendencji powitali ze szczególną atencją innego barda romantycznej muzy, pochodzącego z Litwy Mickiewicza. W trwającym wówczas twórczym fermencie (choć noszącym charakterystyczne dla czasów przełomu cechy niepewności ustaleń, kontrowersyjnych sądów i pate- tycznych uogólnień) Mickiewicz wybijał się stopniowo na czołowego poetę romantycznego. Debiutując kilka lat przed Malczewskim to- mem Ballad i romansów (1822), poprzedzonym (co istotne) autorską przedmową teoretyczną O poezji romantycznej, otwierał nową epokę poezji polskiej. A przynajmniej składał w tej intencji interesujący projekt w postaci tomu poetyckiego o manifestacyjnie romantycz- nym charakterze w tematyce i w formie. Drugi tom Mickiewicza, o rok późniejszy, zawierający Grażynę oraz II i IV część Dziadów, ugruntowywał siłą rzeczy pierwszorzędną pozycję poety z Litwy na romantycznym parnasie. Warto dodać, iż także jego liczne poje- dyncze wiersze, jak prowokacyjna Oda do młodości, Pieśń Filaretów czy Żeglarz, stawały się stopniowo swoistym stemplem romantyzmu w wersji Mickiewiczowskiej. Słusznie zwrócił uwagę Bogusław Dopart, że w kontekście doko- nań młodego Mickiewicza rok 1825 nie był dla autora Marii szczęśliwą datą debiutu. Według Doparta był to debiut niefortunnie ulokowany 55 SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE w czasie, gdyż Maria okazywała się utworem przedwczesnym i osa- motnionym, pozostającym w cieniu szkoły litewskiej, podczas gdy głos tzw. szkoły ukraińskiej (Józef Bohdan Zaleski, Seweryn Gosz- czyński, Michał Grabowski) zauważono później i dołączono (Moch- nacki) do tej grupy twórców również Antoniego Malczewskiego z jego poematem.