Proc Nº Oo.5047-4 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Karl Von Den Steinen Os Encontrou Em 1887
CD £ AWYTYZA TriNGKU CO 03 Z3 CD CD d O >03 O 03 N "cd _Q £ 3 ~CD CD CD Q_ O > -V/4 INSTITUTO SOCIOAMBIÊNTAL www.socioamblental. org 0 Público alvo O Parque Indígena do Xingu (PIX) abriga, em seus 2.642.003 hectares no estado de Mato Grosso, uma surpreendente variedade de grupos indígenas, diferenciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e sociocultural. São quatorze povos, com uma popula ção estimada em 3.500 pessoas, distribuídas em 32 aldeias. Este livro será usado na Escola Aweti, na Escola do Posto Leonardo e em outras escolas do Alto Xingu onde residem pessoas falantes da língua Aweti, em razão dos casamentos com pessoas de outras etnias. Os Aweti A maioria dos povos do sul do Parque Indígena Xingu chegaram à região dos formadores do rio Xingu há alguns séculos, buscando um abrigo seguro diante da ocupação não-indígena sobre o território brasileiro. Esses povos, convivendo na mesma região, criaram uma coligação que inclui o compartilhamento de diversos elemen tos culturais, festas coletivas, intercâmbio econômico, muitos laços de amizade e casamento. Os Aweti fazem parte desta área cultural, conhecida como “Alto Xingu”. Cada povo tem uma participação particular neste complexo. Os Aweti são grandes fabricantes de sal, extraído do aguapé, trocando esse produto com os demais povos xinguanos. Os Aweti ocupam há muito tempo a região do baixo curso dos rios Tuatuari e Kurisevo, onde Karl Von den Steinen os encontrou em 1887. As epidemias de sarampo e gripe causaram uma catástrofe demográfica na metade do século XX, reduzindo os Aweti a duas dúzias de pessoas. -

Karl Von Den Steinen's Ethnography in the Context of the Brazilian Empire
http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752017v828 1 Campinas State University (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil [email protected] Erik PetscheliesI KARL VON DEN STEINEN’S ETHNOGRAPHY IN THE CONTEXT OF THE BRAZILIAN EMPIRE aug, 2018 aug, 569, may.– 569, – 1 Karl von den Steinen sociol. antropol. | rio de janeiro, v.08.02: 543 | rio de janeiro, antropol. sociol. karl von den steinen’s ethnography in the context of the brazilian empire 544 INTRODUCTION The Swedish ethnologist Erland Nordenskiöld (1877-1932) described his friend and professional colleague Karl von den Steinen (1855-1929) as the “doyen of ethnographic explorers of South America” in an obituary published in the Jour- nal de la Société des Américanistes (Nordenskiöld, 1930: 221).1 Von den Steinen undertook the first two exploratory trips to the Xingu River basin (in the Brazil- ian Amazon), formerly considered terra incognita: the first in 1884, the second between 1887 and 1888. In addition to this “extremely remarkable journey from a geographical point of view,” Karl von den Steinen, Nordenskiöld proceeded, was able to “discover a region of America, where the Indians had not yet abso- lutely suffered the influence of the civilization of the white men, and he was able to take full advantage of this discovery from a scientific point of view.” In short, “for his profound studies of the civilization of the Xingu tribes, Karl von den Steinen’s travels have been extraordinarily useful to exploration. If one flicks through any book on ethnography, history, religion, psychology or the history of cultivated plants, one always finds his name and often a few lines of this genius who inspired whole treatises about the other” (Nordenskiöld, 1930: 222). -

Ref: RES 7/SS/5 31 May 1968
Pan American Health Organization ADVISORY CCOMITTEE ON MEDICAL RESEARCH . Seventh Meeting Washington. D.C.. 24-28 June 1968 Special Session on: Biomedical Challenges Presented by the American Indian Item 5 MEDICAL PROBLEMS OF NEWLY-CONTACTED INDIAN GROUPS Ref: RES 7/SS/5 31 May 1968 Prepared by Dr. Noel Nutels, Servico Nacional de Tuberculose, Ministerio da Sadde, Rio de Janeiro, Brazil. RES 7/SS/5 MEDICAL PROBLEM OF NfWLY-CONTACTED INDIAN GROUPS 1. Before entering on the theme of this paper, we vould like to present a few questions on the meaning of"newly- contacted indian groupaS.. a) Ts ~iat period of time should this classific ation be objectively applied? 1b)Would not a group classified as newly - contacted have Bhad direct ou indirect con- tacts previously ignored?' c) How do we define a tribe that has had one and only one rapid contact, for example eighty years ago? d) How would we classify groups of indians who, living in isolation in their own primitive environment, have had during the last sixty years rare and intermittent contacts registae ed in brief encounters? 2. Our aim in this paper is to mention facts and to report on our personal experience. We do not intend nor desire to interpret these facts and this experience. 3. On considering the deficiencies of such a studwy it is necessary to take into account the difficulties -that prevail in this enormous and primitive region lacking in means of transportation and communication where a dispersed and almost extinct population still live as in the Stone Age. ~ 4. -

Relações Entre Grafemas E Segmentos Nos Vocabulários
Estudos da Língua(gem) Questões de Fonética e Fonologia: uma Homenagem a Luiz Carlos Cagliari Relações entre Grafemas e Segmentos nos Vocabulários Waurá e Mehináku de Steinen (1886[1940]) Relations between Graphemes and Segments in the Waurá and Mehináku Vocabularies of the Steinen (1886[1940]) Angel CORBERA MORI* UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) RESUMO O livro Entre os aborígenes do Brasil Central (STEINEN, 1886 [1940]) aborda tópicos importantes sobre os povos indígenas da região do Xingu, atualmente Parque Indígena do Xingu. Essa obra, além de informações etnográficas e geográficas, inclui também, em apêndices, breves listas de palavras das línguas xinguanas, tais como Mehináku, Waurá, Kustenau e Yawalapiti, todas elas classificadas como membros da família Arawák ou Aruák. No presente artigo, considero apenas as listas de palavras das línguas waurá e mehináku. Procuro estabelecer uma relação entre a representação grafêmica usada por Karl von den Steinen, apresentando uma proposta de análise em termos da Fonética e Fonologia, o que resulta num possível inventário de fonemas dessas duas línguas. PALAVRAS-CHAVE Línguas Indígenas. Família Arawák. Mehináku. Waurá. * Sobre o autor ver página 157. Estudos da Língua(gem) Vitória da Conquista n. 3 p. 143-157 Junho de 2006 144 Angel CORBERA MORI ABSTRACT The book Entre os aborígenes do Brasil Central (STEINEN, 1886[1940]) includes very important descriptions of the indigenous nations of the Xingu region, presently known as the Xingu Indigenous Park. This work, aside from ethnographic and geographical informations, includes as appendices short vocabularies of Xinguan languages such as Mehinaku, Waura, Kustenau and Yawalapiti, all members of the Arawak or Aruak family. -

Alliances and Rivalries in Upper Xinguan Wrestiling1
Anuário Antropológico v.46 n.2 | 2021 2021/v.46 n.2 Practices of looking, transformations in cheering: alliances and rivalries in upper xinguan wrestiling Carlos Eduardo Costa Electronic version URL: https://journals.openedition.org/aa/8343 DOI: 10.4000/aa.8343 ISSN: 2357-738X Publisher Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (UnB) Printed version Number of pages: 254-270 ISSN: 0102-4302 Electronic reference Carlos Eduardo Costa, “Practices of looking, transformations in cheering: alliances and rivalries in upper xinguan wrestiling”, Anuário Antropológico [Online], v.46 n.2 | 2021, Online since 30 May 2021, connection on 01 June 2021. URL: http://journals.openedition.org/aa/8343 ; DOI: https://doi.org/ 10.4000/aa.8343 Anuário Antropológico is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Proibição de realização de Obras Derivadas 4.0 International. anuário antropológico v. 46 • nº 2 • maio-agosto • 2021.2 Practices of looking, transformations in cheering: alliances and rivalries in Upper Xinguan wrestling1 DOI: https://doi.org/10.4000/aa.8339 Carlos Eduardo Costa ORCID: 0000-0003-1783-0732 Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-Graduação em Antropologia [email protected] Social, São Carlos, SP, Brasil PhD at the Graduate Programme in Social Anthropology at UFSCar, founding member of the Laboratory for the Study of Ludic Activity and Sociability (Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e Sociabilidade, LELuS/UFSCar), and collaborator at the Ludopédio website. 254 Kindene wrestling is one of the most frequently recorded practices in the Upper Xingu, from the pioneering expeditions of the 19th century to re- searchers who worked toward the demarcation of the Indigenous Land in the mid-20th century. -

Geoarchaeology of a Terra Preta De Índio Site in the Central Amazon By
Acts, practices, and the creation of place: Geoarchaeology of a Terra Preta de Índio site in the Central Amazon By Anna Tedeschi Browne Ribeiro A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Rosemary Joyce, Chair Professor Patrick Kirch Professor Ronald Amundson Spring 2011 © 2011 by ANNA TEDESCHI BROWNE RIBEIRO All rights reserved Abstract Acts, practices, and the creation of place: Geoarchaeology of a Terra Preta de Índio site in the Central Amazon by Anna Tedeschi Browne Ribeiro Doctor of Philosophy in Anthropology University of California, Berkeley Professor Rosemary Joyce, Chair My dissertation investigates inconsistencies in the ways Amazonia has been presented to the public and within archaeology as a discipline. It does so by bringing methods from the earth sciences to bear on sites that resist interpretation under widely accepted models for habitation of pre-Columbian Amazonia. Terra Preta de Índio, a type of Amazonian Dark Earth, is a dark soil produced by deliberate human action that functions as key evidence for intensive environmental and landscape remodeling in pre-Columbian Amazonia. Terra preta sites have been recognized in recent decades as likely resulting from large, permanently settled populations previously believed to be absent from Amazonia. My dissertation reconstructs patterns of daily life and village organization at a terra preta site, Antônio Galo, as a means of constructing an alternative narrative about Amazonia’s past. Prevalent narratives about Amazonia cast the region as homogenous and static, exotic, yet culturally decadent. -

Redalyc.A Numeraçãokarib No Alto Xingu
Revista Latinoamericana de Etnomatemática E-ISSN: 2011-5474 [email protected] Red Latinoamericana de Etnomatemática Colombia Scandiuzzi, Pedro Paulo A NumeraçãoKarib no Alto Xingu Revista Latinoamericana de Etnomatemática, vol. 1, núm. 2, agosto-enero, 2008, pp. 75-87 Red Latinoamericana de Etnomatemática Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274020253004 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Scandiuzzi. P., P. (2008). A Numeração Karib no Alto Xingu. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 1(2). 75-87 http://www.etnomatematica.org/v1-n2-julio2008/Scandiuzzi.pdf Artículo recibido el 8 de mayo de 2008; Aceptado para publicación el 18 de julio de 2008 A Numeração Karib no Alto Xingu Karib Numeration in Xingu Upper Pedro Paulo Scandiuzzi1 Resumo Este artigo apresenta a historia da numeração dos indígenas das etnias matipu, kuikuro, ikpenga, nahuquá e kalapalo, todas da família lingüística karib e todas residentes no Parque Nacional do Xingu, Estado de Mato Grosso, Brasil, área demarcada pelo Governo Federal e nela residentes 17 etnias de diferentes troncos lingüísticos. A história foi construída baseada a partir dos dados da literatura antropológica e dos escritos dos viajantes e da coleta etnográfica de dados realizados pelo autor. Coloca uma história da numeração contada pelos indígenas kuikuro e faz pequenas reflexões com o olhar dirigido para a história da matemática brasileira. Apresenta também reflexões quanto o processo de encontro destes povos com o sistema escolar nacional. -

Ideology of Kisêdjê Political Leadership” André Drago University of São Paulo, Andre [email protected]
Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America ISSN: 2572-3626 (online) Volume 15 Issue 1 Remembering William T. Vickers Article 14 (1942–2016) 6-15-2017 The olitP ical Man as a Sick Animal: On the “Ideology of Kisêdjê Political Leadership” André Drago University of São Paulo, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.trinity.edu/tipiti Part of the Archaeological Anthropology Commons, Civic and Community Engagement Commons, Family, Life Course, and Society Commons, Folklore Commons, Gender and Sexuality Commons, Human Geography Commons, Inequality and Stratification Commons, Latin American Studies Commons, Linguistic Anthropology Commons, Nature and Society Relations Commons, Public Policy Commons, Social and Cultural Anthropology Commons, and the Work, Economy and Organizations Commons Recommended Citation Drago, André (2017). "The oP litical Man as a Sick Animal: On the “Ideology of Kisêdjê Political Leadership”," Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America: Vol. 15: Iss. 1, Article 14, 77-97. Available at: https://digitalcommons.trinity.edu/tipiti/vol15/iss1/14 This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Trinity. It has been accepted for inclusion in Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America by an authorized editor of Digital Commons @ Trinity. For more information, please contact [email protected]. ARTICLE ____________________________________________________________________________________ The Political Man as a Sick Animal: On the “Ideology of Kisêdjê Political Leadership” André Drago Centro de Estudos Ameríndios Universidade de São Paulo BRAZIL Introduction Pierre Clastres’ take on Amerindian politics drew upon an image as old as the first Iberian New World chronicles, namely, the “powerless chief,” a non-authority supposedly lacking any coercive and, therefore, effective means to rule. -
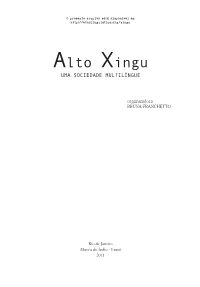
Pragmatic Multilingualism in the Upper Xingu Speech Community
O presente arquivo está disponível em http://etnolinguistica.org/xingu Alto Xingu UMA SOCIEDADE MULTILÍNGUE organizadora Bruna Franchetto Rio de Janeiro Museu do Índio - Funai 2011 COORDENAÇÃO EDITORIAL , EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO André Aranha REVISÃO Bruna Franchetto CAPA Yan Molinos IMAGEM DA CAPA Desenho tradicional kuikuro Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Alto Xingu : uma sociedade multilíngue / organizadora Bruna Franchetto. -- Rio de Janeiro : Museu do Indio - FUNAI, 2011. Vários autores. ISBN 978-85-85986-34-6 1. Etnologia 2. Povos indígenas - Alto Xingu 3. Sociolinguística I. Franchetto, Bruna. 11-02880 CDD-306.44 Índices para catálogo sistemático: 1. Línguas alto-xinguanas : Sociolinguística 306.44 EDIÇÃO DIGITAL DISPON Í VEL EM www.ppgasmuseu.etc.br/publicacoes/altoxingu.html MUSEU DO ÍNDIO - FUNAI PROGRAMA DE PÓS -GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL DO MUSEU NACIONAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CHR I STOPHER BALL PRAGMATIC MULTILINGUALISM IN THE UPPER XINGU SPEECH COMMUNITY C HR I STOPHER BALL Dartmouth College INTRODUCT I ON The Upper Xingu has been known as a multilingual culture area since ini- tial exploration of the region by Karl von den Steinen in the 1880’s (von den Steinen 1940). Yet the Upper Xingu differs in significant ways from other multilingual areas, even those within Amazonia such as the Vaupés (Franchetto 2001). Ironically, Upper Xinguans, despite close exposure to some nine languages from three major South American families, tend to be monolingual when it comes to the indigenous languages in the system. The maintenance of individual and ethnic group monolingualism combi- nes with an intense network of ritual meetings that facilitate the circulation of material, conceptual, and sometimes, linguistic elements through the system. -

TCC Suzana Maria Moura Bezerra.Pdf
Suzana Maria Moura Bezerra OLHAR DOS VIAJANTES NO SÉCULO XIX PARA OS INDÍGENAS DO XINGU: KARL VON DEN STEINEN Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de bacharel em Antropologia. Orientadora: Profª. Drª. Edviges Marta Ioris Florianópolis 2017 1 Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. BEZERRA, Suzana Maria Moura O olhar dos viajantes no século XIX para os indígenas do Xingu: Karl von den Steinen / Suzana Maria Moura Bezerra; orientadora: Prof.ª Dr.ª Edviges Marta Ioris - Florianópolis, SC, 2017. 75 p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Graduação em Antropologia. Inclui referências 1. Antropologia. 2. Olhar. 3. Xingu. I. IORIS, Edviges Marta. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Antropologia. III. Título. 2 Suzana Maria Moura Bezerra O OLHAR DOS VIAJANTES NO SÉCULO XIX PARA OS INDÍGENAS DO XINGU: KARL VON DEN STEINEN Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de “bacharel” e aprovado em sua forma final pelo Curso de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, 2017. ________________________ Profª. Drª Maria Eugenia Dominguez Coordenadora do Curso Banca Examinadora: ________________________ Profª. Drª. Edviges Marta Ioris Orientadora Universidade Federal de Santa Catarina ________________________ Prof. Dr. Jeremy Paul Jean Loup Deturche Universidade Federal de Santa Catarina ________________________ Profª Drª Maria Eugenia Dominguez Universidade Federal de Santa Catarina 3 4 AGRADECIMENTOS A todos. -

Diachronic Labial Palatalization in Xinguan Arawak
DIACHRONIC LABIAL PALATALIZATION IN XINGUAN ARAWAK Fernando O. de Carvalho Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) Abstract The goal of this short paper is to address additional facts related to the diachronic process of full labial palatalization (or coronalization) proposed in Carvalho (2016a) for Yawalapiti, an Arawak language of central Brazil. After discussing the broader theoretical significance of the full palatalization of labials to typology and to the theory of sound change, I will show that the identification of the correspondences supporting the recognition of this development in Yawalapiti can be traced back to Karl von den Steinen’s 1894 publication of the earliest available documentation of the Xinguan Arawak languages. Next, I argue that a pattern of allomorphy in the 2sg prefix of Yawalapiti can be understood as a relic of the series of sound changes that mapped a labial stop *p to a coronal consonant in palatalization-prone environments. Finally, I note that this labial coronalization change has the status of a drift-like tendency within the Xinguan Arawak subgroup, a fact underscored by its independent occurrence in Waurá. Furthermore, a relatively late date can be assigned to this development on the basis of a comparison of recent data on this language with the vocabularies found in the von den Steinen material. Keywords: Yawalapiti; Arawak; Palatalization; Sound Change. Resumo O objetivo desta breve contribuição é o de abordar fatos adicionais relativos ao processo de palatalização (ou coronalização) de consoantes labiais proposto em Carvalho (2016a) para o Yawalapiti, uma língua Arawak do Brasil central. Após discutir a relevância mais ampla dos processos de coronalização de labiais para a tipologia e a teoria da mudança sonora, mostrarei que a identificação das correspondências segmentais que evidenciam este desenvolvimento podem ser traçadas à publicação, em 1894, dos primeiros dados do Yawalapiti e das línguas Arawak do Xingu, registrados por Karl von den Steinen. -

The Origin of Art According to Karl Von Den Steinen
The origin of art according to Karl von den Steinen Pierre Déléage In Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss briefly alluded to an ethnographic technique that we are likely to find disconcerting today: he noted that the Nambikwara of Brazil ‘don’t know how to draw’, yet he quite naturally handed them sheets of paper and pencils.1 In 1938, the year of Lévi-Strauss’ expedition, this had become a tradition, a habit going back to ethnology’s first steps in Amazonia in the late nineteenth century that was followed without a second thought. Lévi- Strauss felt no obligation to explain the reasons for applying this research method and even less what he hoped to achieve by it. In fact he only mentioned it because he was surprised by what the Nambikwara did with the paper and pencils. So what was he expecting? The answer lies in the rediscovery of a largely forgotten intellectual context, a brief period in which ethnologists, and particularly Karl von den Steinen, were at the avant-garde of theories about art: a fragment of intellectual history that disintegrated around the time of World War I.2 Two fortuitous events At the origin of this history we find two fortuitous events. The first took place on 25 September 1878, when the explorer Jules Crevaux, on his way up the Oyapok River in Guyana, stopped to rest in the village of the Wayãpi chief Kinero. I amused myself reproducing the figures and arabesques covering the village people’s bodies. I then had the idea of carving a piece of charcoal and giving it to Captain Jean-Louis [his wayãpi guide] and asking him to draw in my notebook, which he called caréta, while the drawings he did he called coussiouar.