Universidade Federal De Santa Catarina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Jogos Que Entraram Paraahistória
UE OS Q ) JOG 70 9 A (1 LI S TÁ 70 O I 19 1 de al P X o in M 4 h - F ) L un o o NTRARAM E SI j ic xic e x E T A d é é es ISTÓRIA 1 M t S R : 2 M o n H B a do d se l) O at e re a A S D do ad p nt n d 2 e ) O u Ci 41 id a M ( 7. c tin D o ca 0 O n o d te : 1 ha ge h ARA O pa z co n Ar in ) A i a ( z T P T Co o bl a ir 2º : i m z Ja / E o ád Pú le ez ); 3’ ; D çã st (A er ºT (4 do ti : E er o /2 s al o R e al n l C 0’ re er ll p c ck e 2 or v ga O om Lo e ng ( T E a , H C lo A on to a e : Z ra L G to rs r zz o Ce . di r é be ia ic ; va 1º E u be ; G Al P cn to Ri JOG : R or T) s n é sa e gi O M o N º lo o . T o ti g DA itr e ’/1 ar ils lé R is re HIS b ) 7 C W e e S lca BRA TÓR Ár ça (3 e , P o) e a SIL 2 IA uí a T) ito e n d V x 0 0 (S n º r ão lia rlo io EXE r g /2 B t a c D TER 0 e ise 6’ s, os (Ju c c ata: CIT r 2 e T i n ru 21de j Y F. -

Vocabulário Do Futebol Na Mídia Impressa: O Glossário Da Bola
JOÃO MACHADO DE QUEIROZ VOCABULÁRIO DO FUTEBOL NA MÍDIA IMPRESSA: O GLOSSÁRIO DA BOLA Tese apresentada à Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP – Universidade Estadual Paulista, para a obtenção do Título de Doutor em Letras (Área de Conhecimento: Filologia e Lingüística Portuguesa). Orientador: Prof. Dr. Odilon Helou Fleury Curado ASSIS 2005 FICHA CATALOGRÁFICA (Catalogação elaborada por Miriam Fenner R. Lucas – CRB/9:268 Biblioteca da UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu) Q3 QUEIROZ, João Machado de Vocabulário do futebol na mídia impressa: o glossário da bola / João Machado de Queiroz. - Assis, SP, 2005. 4 v. (948f.) Orientador: Odilon Helou Fleury Curado, Dr. Dissertação (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista. 1. Lingüística. 2. Filologia: Lexicologia . 3. Futebol: Mídia impressa brasileira: Vocabulário. 4. Linguagem do futebol: Neologismos: Glossá- rio. I. Título. CDU 801.3:796.33(81) JOÃO MACHADO DE QUEIROZ VOCABULÁRIO DO FUTEBOL NA MÍDIA IMPRESSA: O GLOSSÁRIO DA BOLA COMISSÃO JULGADORA TESE PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR Faculdade de Ciências e Letras - UNESP Área de Conhecimento: Filologia e Lingüística Portuguesa Presidente e Orientador Dr. Odilon Helou Fleury Curado 2º Examinador Dra. Jeane Mari Sant’Ana Spera 3º Examinador Dra. Antonieta Laface 4º Examinador Dra. Marlene Durigan 5º Examinador Dr. Antonio Luciano Pontes Assis, de de 2005 A Misue, esposa Por compartilhar as dificuldades e alegrias da vida A meus filhos Keyla e Fernando Por me incentivarem a lutar A meus netos Luanna e João Henrique Por me presentearem com momentos de grande alegria AGRADECIMENTOS Ao Prof. Odilon Helou Fleury Curado pela orientação a mim dedicada. Ao Prof. Pedro Caruso, estimado professor e amigo, que inicialmente me recebeu como orientando, pelo apoio e conselhos inestimáveis, sem os quais não teria concluído este trabalho. -

Cesop-Datafolha/Sãopaulo/Cap93.Ago-00332
Número da pesquisa: CESOP-DATAFOLHA/SÃOPAULO/CAP93.AGO-00332 Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO MALUF (7 meses)/ CÂMARA MUNICIPAL Data: 02/08/93 Tamanho da amostra: 1079 Universo: População adulta da cidade de São Paulo var label sexo. val label sexo 1 "Masculino" 2 "Feminino". var label idade. val label idade 1 "16 a 25 anos" 2 "26 a 40 anos" 3 "41 anos ou +". var label p1 "O prefeito Paulo Maluf completou sete meses de mandato. Na sua opinião ele está fazendo um governo:". val label p1 1 "Ótimo" 2 "Bom" 3 "Regular" 4 "Ruim" 5 "Péssimo" 6 "NS". var label p2 "E como você avalia os vereadores da Câmara Municipal, eleitos no ano passado, que tomaram posse este ano: na sua opinião eles estão tendo um desempenho:". val label p2 1 "Ótimo" 2 "Bom" 3 "Regular" 4 "Ruim" 5 "Péssimo" 6 "NS". 1 var label partido "Qual é o seu partido político de preferência?". val label partido 1 "PMDB" 2 "PT" 3 "PPR" 4 "PSDB" 5 "PTB" 6 "PRN" 7 "PDT" 8 "PSB" 9 "PFL" 10 "PL" 11 "PDS" 12 "Outros partidos" 13 "Nomes / referências" 14 "Nenhum / não tem" 15 "Não sabe". var label p4 "Mudando de assunto, na sua opinião o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está fazendo um trabalho:". val label p4 1 "Ótimo" 2 "Bom" 3 "Regular" 4 "Ruim" 5 "Péssimo" 6 "NS". var label p5 "Você diria que Carlos Alberto Parreira deve continuar como técnico da seleção brasileira ou deve ser substituído? (SE SUBSTITUÍDO) Quem deve ser o técnico da seleção? (ESPONTÂNEA E ÚNICA)". -

Onomástica Desde América Latina, N.3, V.2, Janeiro - Junho, 2021, P
Onomástica Desde América Latina, n.3, v.2, janeiro - junho, 2021, p. 199 - 212 ISSN 2675-2719 https://doi.org/10.48075/odal.v2i3.26600 Variation and changes in soccer players’ names of Brazilian National soccer team Variação e mudança em nomes de jogadores da Seleção Brasileira Vinícius Pereira de Souza Cruz Universidade Federal de Minas Gerais https://orcid.org/0000-0001-6144-018X [email protected] Eduardo Tadeu Roque Amaral Universidade Federal de Minas Gerais https://orcid.org/0000-0001-9416-3676 [email protected] Translated by Marcelo Saparas https://orcid.org/0000-0002-9924-8369 Abstract This paper presents an analysis of official and unofficial anthroponyms of soccer players from the Brazilian National team from 1958 to 2018. The theoretical framework is based on both onomastic studies, such as Amaral (2011), Amaral e Seide (2020), Bajo Pérez (2002), Becker (2012), Fernández Leborans (1999), Urrutia and Sánchez (2009), Van Langendonck (2007), Fernández Leborans (1999) and on analyses about Brazilian soccer studies such as Rodrigues (2010) and Caetano and Rodrigues (2009). The data analyzed are the players’ names on the lists selected to compete World Cup in that period. These names are classified in order to observe variation and change over time. The results indicate a predominance of official names in almost every year as well as a greater contemporary trend towards more formal name variants. Keywords: Brazilian National soccer team, soccer players, anthroponyms. Resumo Este artigo apresenta uma análise de antropônimos oficiais e não oficiais de jogadores da Seleção Brasileira do período compreendido entre 1958 e 2018. O marco teórico se apoia tanto em estudos de Onomástica, como Amaral (2011), Amaral e Seide (2020), Bajo Pérez (2002), Becker (2018), Fernández Leborans (1999), Urrutia e Sánchez (2009), Van Langendonck (2007), quanto em estudos sobre o futebol brasileiro, como Rodrigues (2010) e Caetano e Rodrigues (2009). -

Ficha Técnica Jogo a Jogo, 1992 - 2011
FICHA TÉCNICA JOGO A JOGO, 1992 - 2011 1992 Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo, Cláudio, Cléber e Júnior; Galeano, Amaral (Ósio), Marquinhos (Flávio Conceição) e Elivélton; Rivaldo (Chris) e Reinaldo. Técnico: Vander- 16/Maio/1992 Palmeiras 4x0 Guaratinguetá-SP lei Luxemburgo. Amistoso Local: Dario Rodrigues Leite, Guaratinguetá-SP 11/Junho/1996 Palmeiras 1x1 Botafogo-RJ Árbitro: Osvaldo dos Santos Ramos Amistoso Gols: Toninho, Márcio, Edu Marangon, Biro Local: Maracanã, Rio de Janeiro-RJ Guaratinguetá-SP: Rubens (Maurílio), Mineiro, Veras, César e Ademir (Paulo Vargas); Árbitro: Cláudio Garcia Brás, Sérgio Moráles (Betinho) e Maizena; Marco Antônio (Tom), Carlos Alberto Gols: Mauricinho (BOT); Chris (PAL) (Américo) e Tiziu. Técnico: Benê Ramos. Botafogo: Carlão, Jefferson, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva; Souza, Moisés Palmeiras: Marcos, Odair (Marques), Toninho, Tonhão (Alexandre Rosa) e Biro; César (Julinho), Dauri (Marcelo Alves) e Bentinho (Hugo); Mauricinho e Donizete. Técnico: Sampaio, Daniel (Galeano) e Edu Marangon; Betinho, Márcio e Paulo Sérgio (César Ricardo Barreto. Mendes). Técnico: Nelsinho Baptista Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo (Chris), Roque Júnior, Cléber (Sandro) e Júnior (Djalminha); Galeano (Rodrigo Taddei), Amaral (Emanuel), Flávio Conceição e Elivél- 1996 ton; Rivaldo (Dênis) e Reinaldo (Marquinhos). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. 30/Março/1996 Palmeiras 4x0 Xv de Jaú-SP 17/Agosto/1996 Palmeiras 5x0 Coritiba-PR Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Local: Palestra Itália Local: Palestra Itália Árbitro: Alfredo dos Santos Loebeling Árbitro: Carlos Eugênio Simon Gols: Alex Alves, Cláudio, Djalminha, Cris Gols: Luizão (3), Djalminha, Rincón Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo (Ósio), Sandro, Cláudio e Júnior; Amaral, Flávio Palmeiras: Marcos, Cafu, Cláudio (Sandro), Cléber e Júnior (Fernando Diniz); Galeano, Conceição, Rivaldo (Paulo Isidoro) e Djalminha; Müller (Chris) e Alex Alves. -

Marcos No Palmeiras 1992 - 2011
MARCOS NO PALMEIRAS 1992 - 2011 DADOS PESSOAIS FATOS Nome Completo: Marcos Roberto Silveira Reis 2/5/1992 Faz a sua estreia na equipe sub-20 do Palmeiras, dirigida pelo técnico Raul Pratali. Empate em 2 Data de Nascimento: 4/8/1973, em Oriente-SP a 2 contra o Santos F.C., no estádio Palestra Itália, válido pelo Campeonato Paulista da categoria. Naquele Altura: 1,93m mesmo ano, sagrou-se campeão paulista sub-20. Número da Camisa: 12 16/5/1992 Estreia na equipe profissional. Vitória por 4 a 0, no amistoso diante da Esportiva de RECORDES PESSOAIS Guaratinguetá, no estádio Dario Rodrigues Leite. Eleito pela CONMEBOL o melhor jogador da Taça Lib- Junho/1992 Convocado para a seleção brasileira que disputou o Campeonato Sul-Americano sub-20, ertadores da América: 1999 realizado na Colômbia, onde o Brasil foi campeão Único goleiro a ser eleito melhor jogador de uma edição da Taça Libertadores da América 22/7/1992 Sagra-se Campeão Paulista sub-20. Vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Eleito o quarto melhor goleiro do mundo: 2002 Santa Cruz, por 3 a 2. Eleito o terceiro jogador mais popular do mundo: 2008 Jogador de toda a história do Palmeiras que mais vezes 19/5/1996 Defende o primeiro pênalti como goleiro da equipe profissional , em partida válida pelo participou da Taça Libertadores da América, em seis Campeonato Paulista diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Palestra Itália. edições. 10/10/1996 Reserva de Velloso no Palmeiras, foi convocado pela primeira vez pelo técnico Zagallo para a seleção brasileira principal de futebol. -

I III I Porte De Velhos
íiV í; -j.;v',s tf .Ws - «-.* 4,.ít «, ;v%. ¦í'*¦'!-; '-'."'SbsSÍíjP ., __ ^TB É£ralti«BlHfiHBBHSBf!W r fc "" ««4//m ¦%%'*>v fSSfilK¦¦¦¦jèm^B^ ¦E ,»r r»ryjr< ¦ s-s'Íi* Í^W?!!^1 - \ ¦ I11111 IIIííl I ' ¦ • -•/¦ I I 1 I ¦ar W^ N?.46Q - ¦ v^yjps ¦.¦:¦•:.: ",'"¦¦¦'.¦¦.'¦ SSSSeilf11 '*3Ç Q^ ¦. ¦.-..-¦¦¦ ¦. - I11P,' :¦ .-¦ ;., asfir Jiíf^^^fâ ¦'¦'•.*¦'¦ Jii Wmm B*v- H a \\W w // I H3M' _... ._ .,".•..: _ * . •¦:,,.: I li+1 Sc5uiH ..SP El*fÜ«¦'¦' ,1-5n f:)(;3SS«HHi ªKl X^ 1 >.1iMft, |,.0>£:,. V. JT,... ..' v-Í !..! *; i \ »' .-ífflSKIffi / I I vi wMsaS*TMrt,r_,.! ^pí^BCWB^Kt^l^SSfeSSI^r,^fc^^ IB—..Cf. ; p^ ¦¦¦rr:---'^mmfiàf^mWi'^^ ¦"T- >--;-»•>-¦,. .^* •"¦¦*;.'.«.;>. Página 2 Sexla-íeira, H de julho de Iíí 17 0 (.LOBO SPOKTiVo DA RODMfl Sábado, ;')LPIRAN- GA 3 X S. PAULO 2 — Renda: CrS i46.6ii,oo. Juiz: Agenor Ribeiro, Goals de Silas. Bibe <: Widter (de penalty) pelo Ipiranga, e Leopoldo e duna, pelo Sao Paulo. S. PAULO: — Gijo — Saverio e RenganeBChI — Rui - Bitucr v Noronha China — Neca -•- Leo- nidaa — Leopoldo e TeJ- xclrinha. Ipiranga: •— Com os resultados da sua oitava rodada Ofivaldu — Allx'i to e Sa- ficou sento c«rla a situação do campeonato pulco — Garro — Per- paulista: nardo c Belmiro -- Peixe BRONQUITE 1." COHINT1ANS — 5 jogos e 5 vitorias; 10 PAS'&*$$&_ —¦ Relnaldo Silas — pontos ganhos c 0 perdido: 20 goals pró e 4 con- ii«b*j GRIPE tra. 1G. nibc e Walter use na. Saldo: i^rojjro C A T A R R O 1," PALMEIRAS —4 jogos e 4 vitorias; 8 Dominga, o ¦ QOBXtt- TOSSE pontos ganhos o 0 perdido; 9 goals pró e 0 con- 1*1 ANS fi X COM/•'!'{ Cl AL tra Sfildo: 9 rt. -
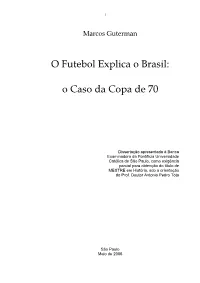
Marcos Guterman
1 Marcos Guterman O Futebol Explica o Brasil: o Caso da Copa de 70 Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em História, sob a orientação do Prof. Doutor Antonio Pedro Tota São Paulo Maio de 2006 2 Guterman, Marcos Título: O Futebol Explica o Brasil Subtítulo: O Caso da Copa de 70 Número de folhas: 155 Grau: Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de SP Orientador: Antonio Pedro Tota Palavras-chave: futebol, ditadura militar, governo Médici, identidade nacional 3 Banca examinadora _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ 4 Dedicatória Dedico este trabalho à minha mulher, Patrícia, por sua amorosa compreensão; a meus pais, Henrique e Rachel, por terem me ensinado a lutar; e a meus filhos, Samuel e Miguel, pela infinita inspiração. 5 Agradecimentos Agradeço em primeiro lugar ao meu orientador, Antonio Pedro Tota, mestre dos mestres e meu grande amigo. Agradeço também à professora Denise Bernuzzi Sant’Anna, por acreditar em mim desde o princípio, e ao professor Fernando Abrucio, por cujas mãos este trabalho começou. Quero agradecer também ao Banco de Dados da Folha de S. Paulo e ao Arquivo do Estado, que me prestaram inestimável ajuda; à banca de qualificação, que me deu preciosas indicações no momento certo; e ao Adriano Marangoni, um amigo que sabe ouvir. 6 Resumo Esta dissertação tem como objetivo compreender as relações entre futebol, política e sociedade no Brasil, considerado por todo o mundo como o “país do futebol”. A intenção, aqui, é ver o futebol como um dos mais importantes veículos pelos quais os brasileiros se expressam e superam suas diferenças regionais e sociais. -

Sun Yat Sen Memorialized in Macau and China, Neglected in HK
CTM REPORTS SLIGHT MEAT BAN CONFIRMED PROFIT DECREASE MACAU A spokesman for China’s The company’s CEO said TO HOST commerce ministry confirmed yesterday that an objective for SUPERMODEL yesterday the ban on imports 2017 is “to reach close to a full SHOW of Brazilian beef to the 4G customer base” country P2 P6 P7 FRI.24 Mar 2017 T. 19º/ 24º C H. 70/ 98% facebook.com/mdtimes + 11,000 MOP 7.50 2770 N.º HKD 9.50 FOUNDER & PUBLISHER Kowie Geldenhuys EDITOR-IN-CHIEF Paulo Coutinho www.macaudailytimes.com.mo “ THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ ” WORLD BRIEFS Perpetrator IDENTIFIED AP PHOTO IS claims responsibility SINGAPORE-VIETNAM Vietnam and Singapore signed several business P15 agreements yesterday during for London attack a visit by Prime Minister Lee Hsien Loong aimed at boosting the island state’s investment and trade with the communist country. Singapore, one of Vietnam’s top investors and trading partners, hopes to step up investments in the country, Lee said. More on p12 AP PHOTO INDONESIA About 50 farmers and activists opposed to a cement factory in Indonesia’s Central Java province have encased their feet in concrete during a dayslong protest in Jakarta, the capital. Farmers in the village of Kendeng have battled against plans for the factory for years, saying it could taint their water. JAPAN Prime Minister Shinzo Abe donated 1 million yen (USD9,000) through his wife to a school run by a group of ultranationalist educators, the group’s leader told Parliament yesterday, while also suggesting there was “political influence” in a land- buying scandal involving the HERITAGE school. -
Ce002 18.Qxd
ATLÉTICO-PR 4 CORINTHIANS 1 Flávio; Gustavo, Wellington Paulo (Jadílson) e Igor; Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Alessandro, Cocito, Preto, Reginaldo Vital (Alan Fabinho, Vampeta e Renato (Juliano); Deivid Bahia) e Fabrício (Evaldo); Adriano e Alex Mineiro. (Leandro), Guilherme e Gil (Marcinho). Técnico: Abel Braga. Técnico: Carlos Alberto Parreira. JUVENTUDE 0 VASCO 1 Diego; Mineiro, Paulão, Fernando e Renato; El- Fábio; Géder, Rogério e Marcelo; Russo (Rodrigo der, Camazzolli, Valdo e Rosivaldo (Dennys); Augusto), Henrique, Bruno Lazaroni, Petkovic Michel e Cláudio Pitbull. (Cadu) e Siston; Ramon e Souza (Zé Carlos). Técnico: Ricardo Gomes. Técnico: Antônio Lopes. Gols: Jadílson (3), aos 22min, 31min e 43min Gols: Guilherme (C), aos 20min do segundo tem- do segundo tempo, e Alex Mineiro, aos 28min po, e Ramón (V), aos 41min do segundo tempo. do segundo tempo. Cartões amarelos: Cocito, Cartões amarelos: Henrique, Rogério, Géder, Reginaldo Vital (A) e Paulão (J). Expulsão: Ânderson. Público: 10.508 pagantes. Arbitra- Paulão (J). Árbitro: Romildo Correia (SP). Lo- cal: Estádio Arena da Baixada, em Curitiba. gem: Alício Pena Junior (MG). Local: Estádio Pa- caembu, em São Paulo. CRUZEIRO 2 FLAMENGO 2 Gomes; Alemão (Lucas), Cris, Thiago e Marce- Júlio César; Alessandro, André, André Bahia e lo Batatais; Leandro, Augusto Recife, Paulo Mi- Athirson; Jorginho, Anderson Gils (Evandro), randa e Alex (Alessandro); Fábio Júnior e Mar- Felipe Melo (Sandro Hiroshi) e Iranildo (Marqui- celo Ramos. nhos); Liédson e Zé Carlos. Técnico: Wanderley Luxemburgo. Técnico: Evaristo de Macedo. GOIÁS 0 GUARANI 2 Harlei; Nenê, Fabão, André Cruz e Marquinhos Edervan; Marco Aurélio, Patrício, Juninho e Gil- (Zé Carlos); Josué, Marabá (Jeferson Feijão), son; Emerson, Martinez, Marquinhos (Adriano) Túlio (Bismarck) e Danilo; Evair e Araújo. -

The Technician #41 (02.2009)
The Technician N°41•E 14.1.2009 13:53 Page 1 Editorial: Evaluating Coaches ”12 Top Technicians” A conventional Approach How to win the World Cup The Sharing Experience Odd Year = Busy Year NEWSLETTER FOR COACHES N O 41 FEBRUARY 2009 The Technician N°41•E 14.1.2009 13:53 Page 2 IMPRESSUM EDITORIAL GROUP Andy Roxburgh Graham Turner PRODUCTION André Vieli Dominique Maurer Atema Communication SA Printed by Artgraphic Cavin SA ACKNOWLEDGEMENTS Hélène Fors COVER Bayern Munich’s Luca Toni, tries to get away from John Mensah of Olympique Lyonnais on the final matchday in the Champions League group stage. Bayern won 3-2, but both teams qualified for the first knockout round. (Photo: Flash Press) Paulo Sousa learned a great deal from his coaches before beginning his own career as a technician. Getty Images 2 The Technician N°41•E 14.1.2009 13:53 Page 3 EVALUATING COACHES EDITORIAL to be a winner, to reach the top. Sven- his triumph with Greece at EURO 2004. Goran Eriksson at Benfica increased my The German master coach said at the BY ANDY ROXBURGH, confidence and inspired me to be a time: “During the tournament in Portugal, Dick Advocaat was being heavily criticised UEFA TECHNICAL DIRECTOR successful professional. Marcello Lippi at Juventus made me think about the game in Holland by players and even coaches by constantly questioning me about tactics – so much so, that he left the coaches’ after training sessions or matches. And association. If I have to talk about a fel- Ottmar Hitzfeld at Dortmund encouraged low coach, I prefer to keep my mouth me and gave me the responsibility to shut unless I can find something positive Warren Mersereau, a long-time friend be a leader on the pitch”, said the former to say. -

Kahlil Gibran a Tear and a Smile (1950)
“perplexity is the beginning of knowledge…” Kahlil Gibran A Tear and A Smile (1950) STYLIN’! SAMBA JOY VERSUS STRUCTURAL PRECISION THE SOCCER CASE STUDIES OF BRAZIL AND GERMANY Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Susan P. Milby, M.A. * * * * * The Ohio State University 2006 Dissertation Committee: Approved by Professor Melvin Adelman, Adviser Professor William J. Morgan Professor Sarah Fields _______________________________ Adviser College of Education Graduate Program Copyright by Susan P. Milby 2006 ABSTRACT Soccer playing style has not been addressed in detail in the academic literature, as playing style has often been dismissed as the aesthetic element of the game. Brief mention of playing style is considered when discussing national identity and gender. Through a literature research methodology and detailed study of game situations, this dissertation addresses a definitive definition of playing style and details the cultural elements that influence it. A case study analysis of German and Brazilian soccer exemplifies how cultural elements shape, influence, and intersect with playing style. Eight signature elements of playing style are determined: tactics, technique, body image, concept of soccer, values, tradition, ecological and a miscellaneous category. Each of these elements is then extrapolated for Germany and Brazil, setting up a comparative binary. Literature analysis further reinforces this contrasting comparison. Both history of the country and the sport history of the country are necessary determinants when considering style, as style must be historically situated when being discussed in order to avoid stereotypification. Historic time lines of significant German and Brazilian style changes are determined and interpretated.