Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
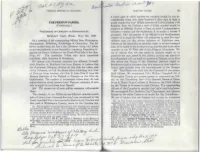
Preston Papers.Pdf
VIRGINIA HISTORICAL MAGAZINE PRESTON PAPERS 43 / r A tenth part of which number we conceive would be too in considerable being only three hundred & fifty men & that it THE PRESTON PAPERS. would require five hund Militia exclusive of Col'o Crockett's {4} (CONTINUED.) Batalion, from the District a part of which number would be required at different Station to keep an open Communicarion PRocEEDING OF OFFICERS IN BoTETOURT &c between y• enemy and the inhabitants & so secure a retreat if necessary. Tho' the number of the Militia in the Southwestern Botetourt Court House, May 8th 1780. District is so small the Officer will endeavour to raise five hund At a meeting of the commanding Officers from Washington, effective men for this service ·exclusive of Packhorse men, Montgomery, Botetourt, Rockbridge & Greenbrier, The dif Drovers & the remainder we presume ought to be one thousand ferent Letters from his Exc.y the Governor being laid before men, to be raised in the six neighboring counties and those other us and read,wherein we are directed to concertan Expedition (1) counties on the N" West side of the Allegany Mountains. We against our Enemy Indians on the NorthWest Side of the Ohio. are of opinion that the men raised in Augusta ought to be Prop 1•t The particular Tribes who have committed joined to the men raised in this district, as they can march to hostilities, their Numbers & Residence. Fort Randolph with as small an expence & Fatigue, as to Fort We cannot with certainty ascertain the different Tribes(2) Pitt where the Troops of the Northern Districts ought to their Number or Residence but have Reason to believe that Rendezvous and at the same time be a means on their march to the Shawneese, Mingoes, Hurons on this Side the Lakes, part Guard their frontier from the encroachment of the Savages of the Delaware, and all the others tribes inhabiting that tract 3rd The Officers who shall take the Command & also proper of Country lying between the Ohio & Lake Erie & from the Staff Officers. -

James Maury, Son of Mathew Maury and Mary Ann, His Wife, Was Born April 8, 1717
SOME PROMINENT •whose birth is not put down. In the Eev. James Maury's Bible we find the following entries: "James Maury, son of Mathew Maury and Mary Ann, his wife, was born April 8, 1717. (0. S. April 19/ 1717.) "Mary Maury, daughter -of James Walker and Ann, his wife, was born Noveniber 22, 1721. "My dear Mollie and I were married November 11, 1743." These two extracts settle the vexed question of Mrs. James Maury's parentage. Her husband's uncle, Rev. Peter Fontaine, says: "Col. Walker, chief person in the Ohio scheme, is her uncle, and the family record in her Bible, written by her husband, says her father was James Walker." The inference is that Col. Walker had a brother James who was Mrs. Maury's father, although his Is birth is not recorded in the Walker Bible. Family record of Eev. James Maury and Mary, nee Walker, copied by J. S. B. Davison from his Bible: "James Maury, son of Mathew Maury and Mary Ann, his wife, was born April 8, 1717. (0. S. April 19, 1717.) Died June 9, 1760. "Mary Maury, daughter of James Walker and Ann, his wife, •was born Nov. 22, 1724 and departed this life March 20, 1798. "Leonard James Walker, son of James Walker and Anne, his I wife, was born 1720 in November; died May, 1733. - "My dear Molly and I were married November 11, 1743. 1. "Mathew Maury, son of James Maury and Mary, his wife, was born Sept. 10, 1744. Departed this life May 6, 1801. -
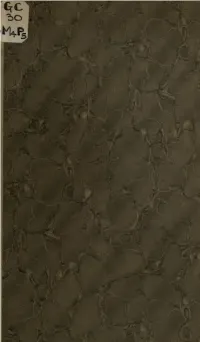
Matthew Fontaine Maury. Read at the Regular Monthly Meeting of the Mary
BANCROFT LIBRARY THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Matthew Fontaine Maury -By Elizabeth Buford Phillips Matthew Fontaine Maury BY Elizabeth Buford Phillips Historian Mary Mildred Sullivan Chapter United Daughters of the Confederacy New York City at the Read Regular Monthly Meeting of the Chapter, April 4, 1921 Matthew Fontaine Maury Hydrographer, Christian Philosopher, Exile [HERE is no hour within the life of Maury which stands out with more symbolic grandeur, none more pregnant in brief recital of his deeds and character, none of more permanent significance than the one here chosen as the Prologue of this chronicle. We are indebted, for the preservation of these details, to the Diary of Maury's daughter, Mrs. James R. Werth, who, as guest of the Vice-Chancellor of Cambridge University, was present when the 4'5 Honorary Degree of Doctor of Laws was conferred upon her father. It was in the early summer of 1868 that this degree was there conferred upon four notable men : Thomas Wright, English An- tiquarian and Translator of Egyptian Hieroglyphics for the Brit- ish Museum; Max Muller, German Orientalist and Oxford Pro- fessor of Sanskrit Literature; Alfred Tennyson, Poet Laureate of England's Victorian era, and Matthew Fontaine Maury, Amer- ican Author, Scientist, and Exile. In scholastic cap, and gown of crimson cloth, these diversely gifted men might have sat as modern models for an immortal canvas! Civilization, Genius, and Religion, in noble majesty, seemed there enthroned in that centuries-old University in Cam- bridge, the City of Refuge, in England, the Asylum of the Exile ! Four wise men from out of the West here brought their gifts and were here to receive from this great University the seal of her approval. -

Università Degli Studi Di Padova MASTERING the OCEANS. VITA E
Università degli studi di Padova Dipartimento di Scienze Storiche , Geografiche e dell'Antichità Corso di Laurea magistrale in Scienze Storiche MASTERING THE OCEANS. VITA E AVVENTURE DI MATTHEW FONTAINE MAURY, FONDATORE DELLA MODERNA OCEANOGRAFIA, 1806-1873. Relatore: Prof. CARLO FUMIAN Correlatore: Prof. MASSIMO GUARNIERI Laureando: NICOLA APOLLONI Matricola: 1111255 Anno Accademico 2016 - 2017 Matthew Fontaine Maury (14 gennaio 1806 - 1 febbraio 1873) Matthew Fontaine Maury (1853) U. S. Library of Congress Prints and Photographs division digital ID: cph.3a00616 INDICE INTRODUZIONE GIOVENTÙ E CARRIERA MILITARE 1.1 — INFANZIA E ISTRUZIONE ........................................................................................... 5 1.2 — GLI AMICI DI UNA VITA ............................................................................................. 8 1.3 — IL SAPERE DI UN SOTTUFFICIALE ............................................................................. 10 1.4 — LA CIRCUMNAVIGAZIONE DEL GLOBO ..................................................................... 12 1.5 — MATRIMONIO, PRIMI SCRITTI E MOLTE INCERTEZZE ................................................ 16 1.6 — I NEMICI DI UNA VITA: CHARLES WILKES E MAHLON DICKERSON ............................. 18 1.7 — ATTACCO AL POTERE .............................................................................................. 20 1.8 — OPPORTUNITÀ INSPERATE ..................................................................................... 24 1.9 — I NEMICI DI UNA VITA: LA -

Matthew Fontaine Maury
LT. MATTHEW FONTAINE MAURY “NARRATIVE HISTORY” AMOUNTS TO FABULATION, THE REAL STUFF BEING MERE CHRONOLOGY Matthew Fontaine Maury “Stack of the Artist of Kouroo” Project HDT WHAT? INDEX MATTHEW FONTAINE MAURY LT. MATTHEW FONTAINE MAURY 1806 January 14, Tuesday: Matthew Fontaine Maury was born in Spotsylvania County, Virginia. His mother’s ancestors, of the “Minor” family, had come to Virginia from Holland, and his father Richard Maury’s ancestors had been Huguenots (his granddaddy the Reverend James Maury had taught Thomas Jefferson, James Madison, and James Monroe). NOBODY COULD GUESS WHAT WOULD HAPPEN NEXT Matthew Fontaine Maury “Stack of the Artist of Kouroo” Project HDT WHAT? INDEX LT. MATTHEW FONTAINE MAURY MATTHEW FONTAINE MAURY 1811 While Matthew Fontaine Maury was five years of age his family relocated from Virginia to Franklin, Tennessee. He would think to emulate the career of an older brother, Flag Lieutenant John Minor Maury, a pirate fighter, until, after Lt. Maury had died of yellow fever, Matthew’s father Richard Maury would refuse to consider allowing his younger son to enlist. Matthew would contemplate a career beginning at the West Point Military Academy, until his family would be able to use its connections and the influence of Senator Sam Houston to secure for him at the age of 19 a direct Naval appointment. LIFE IS LIVED FORWARD BUT UNDERSTOOD BACKWARD? — NO, THAT’S GIVING TOO MUCH TO THE HISTORIAN’S STORIES. LIFE ISN’T TO BE UNDERSTOOD EITHER FORWARD OR BACKWARD. Matthew Fontaine Maury “Stack of the Artist of Kouroo” Project HDT WHAT? INDEX MATTHEW FONTAINE MAURY LT. -

Matthew Fontaine Maury
number 30 — summer 2021 Matthew Fontaine Maury By Stuart Moore Presented to The Fortnightly, November 14, 1941 n January 14, 1806, in the part of Spotsylvania and five daughters, took the rough trail through south- County known as the Wilderness, some twelve west Virginia to middle Tennessee. O miles west of Fredericksburg, was born Mat- There his brother, Major Abram P. Maury, had al- thew Fontaine Maury, of French and Dutch ancestry, the ready established himself as a lawyer and prominent first represented by his father, Richard Maury, and the citizen; in 1807 a new county was created and named latter by his mother, who had been Diana Minor. Maury County in his honor. It is reasonable to suppose At this time Thomas Jefferson was in his second that it was the hand of this substantial brother that beck- term as president of the young nation, which had assert- oned Richard. The overland voyagers, weary no doubt, ed its independence less than thirty years before; John drew rein at their new home on the Harpeth River near Marshall was its new chief justice, and his decisions were Franklin, Tennessee, about eighteen miles southwest laying a sturdy foundation for the struggling union. of Nashville, amid a pioneer land of boundless forests, In this same year Lewis and Clark had returned from their explorations beyond the Rocky Mountains, Stuart Moore (1893–1961) was born and educated in Lexington and bringing tales of a great new land to be developed. It was spent his career here as a lawyer, businessman and elected public the age of the covered wagon and the start of the winning official. -
James Madison Was the First American President Regularly to Wear Trousers (Trousers Not Here Depicted)
1 “LITTLE JEMMY” “NARRATIVE HISTORY” AMOUNTS TO FABULATION, THE REAL STUFF BEING MERE CHRONOLOGY 1. At 5'4'', James Madison was the first American president regularly to wear trousers (trousers not here depicted). HDT WHAT? INDEX PRESIDENT JAMES MADISON PRESIDENT JAMES MADISON Political Parties Then and Now ROUND 1 DEMOCRATIC REPUBLICANS FEDERALISTS Alexander Hamilton, John Adams, 1792 et al. representing the North and commercial interests Thomas Jefferson, James Madison, et al. representing 1796 the South and landowning interests 1817- James Monroe’s “factionless” era of good feelings, ho ho ho 1824 ROUND 2A DEMOCRATS NATIONAL REPUBLICANS John Quincy Adams, Henry Clay, representing the North and the commercial interests, 1828 and in addition the residents of border states ROUND 2B DEMOCRATS WHIGS Andrew Jackson, representing the South John Quincy Adams, Henry Clay, and landowning interests, plus wannabees such as representing the North and the commercial interests, 1832 our small farmers, backwoods go-getters, the “little and residents of border states, and in addition the anti- guy on the make” in general Jackson Democrats ROUND 3 DEMOCRATS REPUBLICANS Abraham Lincoln, William Henry Seward, representing 1856 Northerners, urbanites, business types, factory workers, and (more or less) the abolitionist movement ROUND 4 DEMOCRATS REPUBLICANS 1932- F.D.R., representing Northeasterners, urbanites, Representing businesspeople, farmers, white-collar 1960 blue-collar workers, Catholics, liberals, and types, Protestants, the “Establishment,” right-to-lifers, assorted ethnics moral majoritarians, and in general, conservatism of the “I’ve got mine, let’s see you try to get yours” stripe. HDT WHAT? INDEX PRESIDENT JAMES MADISON PRESIDENT JAMES MADISON Table of Altitudes Yoda 2 ' 0 '' Lavinia Warren 2 ' 8 '' Tom Thumb, Jr. -

The Civil War in America
The eldest son of noted abolitionist Frederick Douglass and his wife Anna Douglass, Lewis Henry Douglass (1840–1908) was born in New Bedford, Massachusetts. In his youth, Lewis apprenticed as a typesetter for his father’s publications The North Star and Douglass’ Weekly. Heeding the call for black recruits from Frederick Douglass and others during the Civil War, Lewis Douglass enlisted in the 54th Massachusetts Volunteer Infantry on March 25, 1863. The regiment’s commander, Colonel Robert Gould Shaw, immediately appointed Douglass as a sergeant major, the highest rank an African American could hold at that time. Douglass saw action at the battles of James Island, Olustee, and Fort Wagner. The valor shown by the 54th Massachusetts in this last engagement went a long way toward proving the mettle of black soldiers to their white fellow soldiers and civilians in the North. Discharged from the army in 1864 because of a medical disability, Douglass married Helen Amelia Loguen in 1869 and settled in the Anacostia section of Washington, D.C. Also in 1869, he became the first African American typesetter employed by the Government Printing Office. His tenure in this position proved short-lived, however, because the typesetters’ union refused him membership because of his race. Following this setback, Douglass helped establish and publish The New National Era, a weekly newspaper aimed at Washington’s African American community. Lewis Douglass also served as Assistant Marshall of the District of Columbia and a term on the Legislative Council of the District of Columbia. http://blogs.loc.gov/civil-war-voices/about/lewis-henry-douglass/ The Civil War in America Transcription (selection): A shell would explode and clear a space of twenty feet. -

Matthew Fontaine Maury, the Pathfinder of the Seas
n ^^^ |i| ij'/, ! |i|''i, :S"'iiill, I K±A T x::^. MATTHEW FONTAINE MAURY THE PATHFINDER OF THE SEAS 6-C /-4 MATTHEW FONTAINE MAURY THE PATHFINDER OF THE SEAS By CHARLES LEE LEWIS Associate Professor United States Naval Academy WOOD HOLE % MASS ILLUSTRATED 1927 THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE ANNAPOLIS Copyright, 1927 The United States Naval Institute AnnapolisJ Maryland H. <<v ( wooc HOLE MAS£ TO MY WIFE LOUISE QUARLES LEWIS Richmond, Virginia. October 25, 1927. It is eminently appropriate that a life of Com- modore Matthew Fontaine Maury should be written in the environment of Annapolis, and by a professor in the United States Naval Academy, and The Maury Memorial Association is deeply appreciative of this splendid tribute to the name and fame of one of America's greatest naval officers and benefactors. President, The Maury Association. JTW- A ; Wide World Photo Commander Richard Evelyx Byrd, U, S. Navy (Retired) Who has written the Foreword of this biography FOREWORD I believe that the most instructive form of reading is biography. In the story of a man's Hfe one can see in quick review the struggle that man went through to attain or to fail to attain his heart's desire. For the professional man, life stories of his colleagues and predecessors focus down to the particular problems of the profession. This is essentially the case with the story of a man like Maury. As a naval officer, Maury's work will always remain outstanding. He was one of our pioneer investigators of the geography of the sea and the physics of the air. -

Htummson Coiintg !L|T0tomal L^Nhlxchtwn 15
HtUmmson Coiintg !l|t0tomal l^nhlxcHtwn 15 -7^ .'/9' \ 91 I I ^••'•« ki FftAMKl. ?/ L lift s >v IfN /««>*• I?: N. \ >» I \\ .. t \ U*»Stj CmtJUi^*.') ..X S^ i: / N* \' .•iH;: U—- I ^ £'^ rojsj:> c^ spring 19S4 P!i: WILLIAMSON COUNTY HISTORICAL SOCIETY PUBLICATION Number 15 Spring 1984 LV Published by Williamson County Historical Society Franklin, Tennessee 1984 WILLIAMSON COUNTY HISTORICAL SOCIETY PUBLICATION Number 15 Spring 1984 Published by the Williamson County Historical Society EDITOR: T. Vance Little OFFICERS President John 0. (Jack) Gaultney 1st Vice-President Dr. William J. Darby 2nd Vice-President T. Vance Little Treasurer Herman E. Major Recording Secretary Mrs. John Lester Corresponding Secretary Mrs. David M. Lassiter PUBLICATION COMMITTEE T. Vance Little Mrs. Louise G. Lynch iw Watson Mrs. Virginia G. Watson |ipPr\ Mrs. Katharine S. Trickey The WILLIAMSON COUNTY HISTORICAL SOCIETY PUBLICATION is sent to all members of the Williamson County Historical Society. The annual membership dues are $8.00 which includes this publication and a frequent NEWSLETTER to all members. Correspondence concerning additional copies of the WILLIAMSON COUNTY HISTORICAL SOCIETY PUBLICATION should be addressed to Mrs. Clyde Lynch, Route 10, Franklin, Tennessee 37064. Contributions to future issues of the WILLIAMSON COUNTY HISTORICAL SOCIETY PUBLICATION should be addressed to T. Vance Little, Beech Grove Farm, Route 1, Brentwood, Tennessee 37027, Correspondence concerning membership and payment of dues should be addressed to Herman E. Major, Treasurer, P. 0. Box 71, Franklin, Tennessee 37064. fc- PRESIVEMT'S REPORT Williamson County HlstoKlaal Soclzty Publication hlumbc^ 15 Is another In the valued sefiles ^eatuAlng highlights In the hlstofiy o^ the County we love. -

SOME NOTABLE FAMILIES of AMERICA V
¦lihiiHten 1 i i - ,__ •«£ y [i / 1 < J2 ci-y, L ¦X& SOME NOTABLE ir** FAMILIES OF AMERICA BY ANNAH ROBINSON WATSON m i* NEW YORK 1898 'IVoi/ >oi t ! V 4 * TO MY MOTHER MARY LOUISE TAYLOR ROBINSON THROUGH "WHOSE VEINS DESCENDS TO MY CHILDREX A HERITAGE FROM THESE XOTABLE AMERICANS, THIS RECORD OF HER PEOPLE IS MOST AFFECTIONATELY INSCRIBED AXXAIIROBIXSOX WATSOX CONTENTS PAGE Dedication iii Family Mottoes xii Proem xiii Taylor Family, Biographical Sketch and Record op . 1 Allerton 38 WILLOUGHBY . .44 ¦ Brewster . ,47 Thompson , 51 Madison , 52 Lee .....,,..,.. 54 Strother . 60 -Warner . 69 ..,,,. j/Reade o ..... 73 / Lewis , 78 Meriwether .......... 82 Walker . ?,.,..... 86 Maury . 94 Thornton ?,...,,... 96 Hornsby ...,,..... .—99 Index to- IN©fVK>UAiS~--r- ?,,,,.. 105~" I I j ) \ ¦-^_- ILLUSTKATIONS Taylor Arms . drawing made by Bessie C. Grinnan Frontispiece FACING PAGE Seal of James Taylor 1 2 Martiia Thompson 4 James Taylor 3 6 President Zachary Taylor 10 Robinson Arms Bessie G. Grinnan . 20 GOLDSBOROUGH ARMS • . 22 Willoughby Arms .... Bessie C. Grinnan . 44 Thompson Arms Bessie C. Grinnan . 50 Lee Arms Bessie C. Grinnan . .51 Strother Arms Bessie C. Grinnan . CO Augustine Warner 2 (58 Lewis Arms Bessie C. Grinnan . 78 Meriwetwrr Arms 82 Thornton Arms -96 • Hornsby Arms Bessie G. Grinnan 98 Seal Ring with Taylor Crest 103 I I I I' " [From the author of Virginia Genealogies."] Itgives me hearty pleasure to state that Ihave per sonally and carefully examined the following pages, verifying,as far as has been inmypower, the genealogi cal and historical data contained therein. Isincerely commend the work forits general accuracy and interest. -

House. of Representatives
1964 CONGRESSIONAL RECORD- HOUSE 5285 work experience, occupational counseling, Pennsylvania. (He was appointed during the On March 13, 1964: and placement services are the answer. last recess of the Senate.) H.R. 1182. An act for the relief of Wllly 5. Those who are living in a locality or Howard C. Bratton, of New Mexico, to be Sapuschnin; area where the former means of livelihood U.S. district judge for the district of New H.R. 1295. An act for the relief of Edith has ceased to exist or to afford tolerable Mexico. and Joseph Sharon; living standards. For the employable per H.R. 1355. An act for the relief of Stanis sons in such an area new means of liveli •• .... •• lawa Ouelette; hood must be brought in or they must be H.R. 1384. An act for the relief of Areti assisted to move out. The unemployable HOUSE.OF REPRESENTATIVES Siozos Paidas; persons in such depressed areas fall within H.R. 1455. An act for the relief of Ewald the same situation as in (1) above. Johan Consen; 6. Those whose social and personal prob MoNDAY, MARCH 16, 1964 H.R. 1520. An act for the relief of Jozefa lems have brought them to a point of self Trzcinska Biskup and Ivanka Stalcer Vla defeating discouragement. These are the The House met at 12 o'clock noon. hovic; people who have sought escape in delin Rabbi. Arthur Schneier, M.A., of Con H.R. 1521. An act for the relief of Lovorko quency, mental illness,. alcoholism, chronic gregation Zichron Ephraim, offered the Lucie; dependency, and other forms of social isola following prayer: H.R.