Texto Completo (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Thesis Title Page with Pictures2
The copyright of this thesis vests in the author. No quotation from it or information derived from it is to be published without full acknowledgementTown of the source. The thesis is to be used for private study or non- commercial research purposes only. Cape Published by the University ofof Cape Town (UCT) in terms of the non-exclusive license granted to UCT by the author. University GIRLS IN WAR, WOMEN IN PEACE: REINTEGRATION AND (IN)JUSTICE IN POST-WAR MOZAMBIQUE Town Cape of University A MINOR DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF MASTER OF PHILOSOPHY IN JUSTICE AND TRANSFORMATION LILLIAN K. BUNKER BNKLIL001 FACULTY OF THE HUMANITIES UNIVERSITY OF CAPE TOWN 2011 COMPULSORY DECLARATION This work has not been previously submitted in whole, or in part, for the award of any degree. It is my own work. Each significant contribution to, and quotation in this dissertation from the work, or works, of other people has been attributed, and has been cited and referenced. Signature: Date: Town Cape of University i UNIVERSITY OF CAPE TOWN GRADUATE SCHOOL IN HUMANITIES DECLARATION BY CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER IN THE FACULTY OF HUMANITIES I, Lillian Bunker, of 101 B W. McKnight Way #27, Grass Valley, California 95949 U.S.A. do hereby declare that I empower the University of Cape Town to produceTown for the purpose of research either the whole or any portion of the contents of my dissertation entitled Girls in War, Women in Peace: Reintegration and (In)justice in Post-war Mozambique in any manner whatsoever. -

Struggle for Survival
M N G u o E T o OZA STRUGGLE FOR SURVIVAL Mozambique's History: In 1964, led by the Front for the libera Mozambique tion of Mozambique (FRELlMO), they Mozambique was a Portuguese colony launched an armed struggle to oust the for more than four hundred years. Portugal Portuguese. Ten years later, in 1974, Por was a poor country itself, unable and un tuguese army officers rebelled against their own government, ending decades of Natala willing to develop Mozambique's economic potential. The Portuguese profited from ex fascist rule within Portugal. In the following porting Mozambican labor to the South y~ar , Mozambique won independence, as African mines and exporting agricultural did the other Portuguese colonies of products such as cotton, tea, and cashew Angola and Guinea Bissau. nuts. Mozambican peasants were forced to Mozambique's new Frelimo government grow these crops under brutal conditions. established a nonaligned socialist model of They were forced to work on government development, which included a non-racial projects such as road and railway con policy of inclusion, provision of education (J struction under conditions considered to be and health services, and a plan to in among the worst in African colonial history. tegrate women equally into the new Mozambique is twice the size of Cali society. fornia and strategically located on the TRANSPORT LINKS TO PORTS OF BEIRA Indian Ocean, with a coastline equivalent NACALA AND MAPUTO - MAIN TARGETS ' to that of the United States from Boston to OF SOUTH AFRICAN SABOTAGE Miami. It has been generously endowed POPULATION 15 MILLION with mineral resources. -

The Political Sublime. Reading Kok Nam, Mozambican Photographer (1939-2012)
The Political Sublime. Reading Kok Nam, Mozambican photographer (1939-2012) RUI ASSUBUJI History Department, University of the Western Cape PATRICIA HAYES History Department, University of the Western Cape Kok Nam began his photographic career at Studio Focus in Lourenço Marques in the 1950s, graduated to the newspaper Notícias and joined Tempo magazine in the early 1970s. Most recently he worked at the journal Savana as a photojournalist and later director. This article opens with an account of the relationship that developed between Kok Nam and the late President Samora Machel, starting with the photo- grapher’s portrait of Machel in Nachingwea in November 1974 before Independence. It traces an arc through the Popular Republic (1976-1990) from political revelation at its inception to the difficult years of civil war and Machel’s death in the plane crash at Mbuzini in 1986. The article then engages in a series of photo-commentaries across a selection of Kok Nam’s photographs, several published in their time but others selected retrospectively by Kok Nam for later exhibition and circulation. The approach taken is that of ‘association’, exploring the connections between the photographs, their histories both then and in the intervening years and other artifacts and mediums of cultural expression that deal with similar issues or signifiers picked up in the images. Among the signifiers picked up in the article are soldiers, pigs, feet, empty villages, washing, doves and bridges. The central argument is that Kok Nam participated with many others in a kind of collective hallucination during the Popular Republic, caught up in the ‘political sublime’. -

THE ORIGINS of WAR in MOZAMBIQUE a History of Unity and Division
THE ORIGINS OF WAR IN MOZAMBIQUE A History of Unity and Division Sayaka Funada-Classen Translated by Masako Osada AFRICAN MINDS Th e author alone is responsible for what is written and all the interpretations in this book. None should be attributed to any persons or institutes that have provided assistance to the author. Hardcover edition fi rst published in 2012 by Ochanomizu Shobo Co Ltd 5-30-20 Hongo Bunkyoku, Tokyo 113-0033, Japan Paperback edition fi rst published in 2013 by African Minds 4 Eccleston Place, Somerset West 7130, South Africa www.africanminds.co.za © 2012 Sayaka Funada-Classen Hardback ISBN 978-4-275-00952-4 C3030 Paperback ISBN 978-1-920489-97-7 e-book ISBN 978-1-920489-98-4 Text design and typesetting by COMPRESS.dsl www.compressdsl.com Printed in South Africa by Capitil Printing Contents Preface v List of Illustrations vii List of Acronyms and Abbreviations ix Introduction Seeking the Origins of Unity and Division 1 Chapter 1. Emergence of “Mozambique” and Social Changes under Colonial Rule 57 Chapter 2. Characteristics of Maúa and the Process of Colonisation 97 Chapter 3. Mozambique Before the Liberation Struggle 137 Chapter 4. World Politics from 1960 to 1975 and Mozambique’s Liberation Struggle 203 Chapter 5. Maúa Circumscription during the Liberation Struggle 287 Conclusion From the Liberation Struggle to Post-independence Armed Confl ict 375 Bibliography 395 Acknowledgements 416 About the Author 418 About the Translator 418 Index of Organisations and Institutions 419 Index of People and Ethnic Groups 425 Index of Place Names 430 “ Th e peace has arrived, but we still don’t know where this war came from.” “ We haven’t been told why this war came to us. -

Mozambique in Transition in the Narratives of Lilia Momple
Mozambique in Transition in the Narratives of Lilia Momple Claire Williams Abstract. Without over-dramatizing and without sentimentalizing, Lilia Momple has managed to portray a multi-layered portrait of Mozambique and its people through the enormous strains and upheavals of its history over the last seventy years. Above all her texts foreground a wide range of Mozambican characters intent on preserving not only their families and their country, but also their own self-respect. It is Momple’s concerns about education and learning from the past, as well as her portrayals of women that will be discussed in the course of this paper, after an overview of her work and her stylistic tendencies. Eu propria, Lilia Momple, escrevo sobre tudo o que me tern impressionado, no dia-a-dia, ao longo da vida. Lilia Momple 1 Unlike the sad fables of Luis Bernardo Honwana, the horror of the testimo- nials collected by Lina Magaia, or the sweeping tragedy of Paulina Chiziane’s epic novels, unlike the magical realism and wordplay of the internationally known Mia Couto, Lilia Momple’s stories describe Mozambique’s history and the traumatic experiences of her countrymen and women without explicit criticism or excessive lyricism but instead by presenting facts and events and describing her characters with subtle touches that emphasize their 2 tragic situation . Her eye for detail, turns of phrase and sensitivity to emo- tion combine in her depiction of characters who represent a wide variety of 216 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 10 participants in the country’s long and painful transition from Portuguese colonial territory to independent state. -
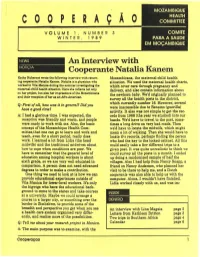
COO P E R a a O
COO p E R A A o v- 0 L U MEl, N U M. B E R 3 WINTER, 1989 NEWS An Interview with NOTlc;lA Cooperante Natalia Kanem Kathy Hubernet wrote the following interview with return Mozambicans, the maternal-child health in, cooperante Natalia Kanem. Natalia is a physician who situation. We used the maternal health charts, worked in Vila Manica durin, the summer investigatinl the which cover care through pregnancy and . maternal-child health situation. Here .he reflecta not only delivery, and also contain information about on her project, but alto her impressions of the Mozambican. the newborn baby. We'd originally planned to and their reception ot'her .. an Afro-American. survey all the health posta in the district, which currently number 16. However, several Q: First of all, how was it in general? Did you were inaccessible due to Renamo (guerilla) havI a good time 1 activity. It also was not simple to get the rec A: I had a glorious time. I was expected, the ords from 1988 (the year we studied) into our receptinn was friendly and warm, and people hands. We'd have to travel to the post, some were ready to work with me. Also, the basic times a long drive on very bad roads. Then concept of the Mozambique Health Com we'd have to locate the midwife, which might mittee,that one can go to learn and work and mean a lot of walking. Then she would have to teach, even for a short period, really does loCate tj,~ records, perhaps finding the person work. -

Introductory Guide to Africa. INSTITUTION Unitarian Universalist Service Committee, Cambridge, MA
DOCUMENT RESUME ED 390 738 SO 025 521 AUTHOR Wyss, Esther, Ed. TITLE Introductory Guide to Africa. INSTITUTION Unitarian Universalist Service Committee, Cambridge, MA. PUB DATE (89] NOTE 258p.: Developed in conjunction with the Unitarian Universalist Service Committee's "Odyssey: from Alaska to Zimbabwe" program. AVAILABLE FROMUnitarian Universalist Service Committee, 130 Prospect Street, Cambridge, MA 02139-1813. PUB TYPE Guides Classroom Use Teaching Guides (For Teacher)(052) EDRS PRICE MF01/PC11 Plus Postage. DESCRIPTORS *African Culture; *African History; *African Studies; Cross Cultural Studies; Cultural Awareness; *Cultural Interrele.ionships; Foreign Countries; *Global Education; Intercultural Programs; *Multicultural Education; Non Western Civilization; Secondary Education; Social Studies IDENTIFIERS *Africa AESTRACT This guide seeks to be a tool for action and a resource for understanding some of the key issues concerning AfriLa today. Through a series of six sessions, participants focus on a particular theme or issue that links their community with ihe African context. The six sessions focus on:(1) "Building Connections with Africa";(2) "Culture Connections";(3) "Economic Connections"; (4) "Issue Connections" (Children and Youth, Environment, Food and Hunger, Health); (5) "The Military Connection"; and (6) "Where Do We Go from Here?" Maps, recipes, historical timelines, and contact addresses with brief descriptions of regional organizations involved in work in Africa are included. (EH) Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. Introductory Guide to Africa NINN 10,44U/ 10 Awk Unitarian Universalist Service Committee IF PART VENT OF EDUCATION PERMISSION TO REPRODUCE THIS Inu ATIONAl HISOUHCIS INE OIIMAT II )TJ 4Es.4 MATERIAL HAS BEEN GRANTED BY CENTER IEHIC) 1r rtt,r/1(.111 ha, two, wpt,.(1,. -
![Invitation to Reception in Honor of Mozambican Writer and Activist Lina Magaia]](https://docslib.b-cdn.net/cover/0745/invitation-to-reception-in-honor-of-mozambican-writer-and-activist-lina-magaia-9970745.webp)
Invitation to Reception in Honor of Mozambican Writer and Activist Lina Magaia]
[Invitation to Reception in honor of Mozambican writer and activist Lina Magaia] http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.af000233 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org [Invitation to Reception in honor of Mozambican writer and activist Lina Magaia] Alternative title Dear Friend, As a longtime supporter of the struggle for justice Author/Creator Africa Fund Contributor Davis, Jennifer, Washington, Roberta, Mozambique Support Network, Africa Fund Publisher Africa Fund Date 1988-02-10 Resource type Circulars Language English Subject Coverage (spatial) Mozambique, South Africa, United States Coverage (temporal) 1961 - 1988 Source Africa Action Archive Rights By kind permission of Africa Action, incorporating the American Committee on Africa, The Africa Fund, and the Africa Policy Information Center. -

E-Scrita Revista Do Curso De Letras Da UNIABEU Nilópolis, V
1 eeee----scritascrita ISSN 2177-6288 Ficcionar a história : Género em contexto de guerra na novelística de Lina Magaia i Ana Luisa Teixeira * ISLA - Campus Lisboa Laureate International Universities Resumo: A obra da escritora moçambicana Lina Magaia deu lugar a um cruzamento entre ficção e história, documentando o desenvolvimento da guerra civil em Moçambique (1975-1992) através de testemunhos daquele conflito que recolheu e publicou nas obras Dumba Nengue (1986) e Duplo Massacre e Moçambique (1987), bem como do seu único romance, Delehta. Pulos na Vida (1994). Em todos os textos de Magaia, as vozes das mulheres encontram um espaço central, através da dicotomia “sujeito / objecto”- “agressor / vítima”, que caracteriza o seu papel na guerra civil. Neste trabalho, pretendemos olhar para as formas em que essa ambiguidade dialógica acompanha o desenvolvimento de personagens femininas, no romance de Magaia. Vamos analisar os processos pelos quais a sua escrita “ficcionaliza” a história e “historiciza” a ficção, pelo retrato historicamente contextualizado que a autora faz da mulher moçambicana. Palavras-chave: literatura moçambicana, escritoras moçambicanas, Estudos de Género Fictionalizing history: Gender and war in the narrative by Lina Magaia Abstract: The narrative by Mozambican writer Lina Magaia has intertwined history and fiction by documenting the development of civil war in Mozambique (1975-1992). The author has registered testimonies of that conflict in her two journalistic pieces: Dumba Nengue (1986) e Duplo Massacre e Moçambique (1987), as well as in her novel, Delehta. Pulos na Vida (1994). Women’s voices find a central place in all of Magaia’s texts, expressing a paradoxical dichotomy which characterizes their role in the civil war: “subject/object” – “aggressor/ victim”. -

1000 Doctoral Theses by Mozambicans Or About Mozambique
ISBN 978-1-304-02817-4 www.lulu.com http://www.lulu.com/spotlight/pgerdes Copyright © 2013 by Paulus Gerdes 2 1000 DOCTORAL THESES BY MOZAMBICANS OR ABOUT MOZAMBIQUE 3 Title: 1000 Doctoral Theses by Mozambicans or about Mozambique Original title: Mil e tantas teses de doutoramento de Moçambicanos ou sobre Moçambique Compiled by: Paulus Gerdes ([email protected]) First edition: Ministry of Science and Technology, Maputo & Lúrio University, Nampula, Mozambique (December 2006) Second edition: Academy of Science of Mozambique, Maputo, Mozambique (February 2011) Third edition: May 2013. The cover design presents two sipatsi patterns from Inhambane, Mozambique. Cf. Paulus Gerdes, Sipatsi: Basketry and Geometry in the Tonga Culture of Inhambane (Mozambique, Africa), Research Centre for Mozambican Studies and Ethnoscience, Maputo, 2009 (Distribution: http://www.lulu.com/spotlight/pgerdes). International distribution: eBook and printed edition www.lulu.com http://www.lulu.com/spotlight/pgerdes Copyright © 2013 by Paulus Gerdes 4 Table of Contents Page Foreword by Orlando Quilambo, President of the Academy of 7 Sciences of Mozambique Introduction to the first edition (2007) 9 Introduction to the second edition (2011) 12 Introduction to the third edition (2013) 14 Part 1 15 Doctoral theses by Mozambicans 15 Examples of doctoral theses in elaboration 86 Alphabetic index of Mozambican doctorate holders 93 Thematic index of Mozambican doctoral theses 105 Distribution of Mozambican doctorate holders by country of 115 awarding universities Mozambican -

Colin Darch on Jason Sumich
Jason Sumich. The Middle Class in Mozambique: The State and the Politics of Transformation in Southern Africa. The International African Library Series. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 190 pp. $24.00, e-book, ISBN 978-1-108-57702-1. Reviewed by Colin Darch (University of Cape Town) Published on H-Luso-Africa (November, 2020) Commissioned by Philip J. Havik (Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT)) As far as I am aware, Jason Sumich's new book chapters follow a broad and highly conventional is the first full-length contribution—in English at periodization of, successively, the late colonial least—to the study of the middle class focusing on period; the early independent state; the "civil war Mozambique, a topic on which he has previously and the economic chaos"; a chapter titled "Demo‐ published widely and has perhaps made his own. cratisation," covering the period from 1992 to 2004; [1] It is therefore pioneering and should be warmly and a final chapter titled "Decay," the heart of the welcomed, and indeed the narrative, although book, focusing on the period from 2005 to 2015. short, is engaging, readable, and well structured. These are bracketed by an introduction that ad‐ Sumich might have done more in this book to dresses theoretical (but not methodological) issues, tackle long-standing ambiguities about the social especially around the question of what the term category of the "middle class" as an object of study, "middle class" actually means, and a conclusion and in addition the text raises questions about the that brings the narrative up to 2016. -

Internally Displaced, Refugees and Returnees from and in Mozambique S IES on EMERGENCIES DISASTER RELIEF No
Report No 1 Internally Displaced, Refugees and Returnees from and in Mozambique S IES ON EMERGENCIES DISASTER RELIEF No. 1 Internally Displaced, Refugees and Returnees from and in Mozambique by K. B. Wilson Refugees Studies Programme Queen Elizabeth House University of Oxford Nordiska Afrikainstitutet 1994 Indexing terms: Refugees Return migration Research Literature surveys Mozambique ISSN 1400-3120 ISBN 91-7106-361-7 (1. edition published by SIDA 1992, ISBN 91-586-7146-3) Printed in Sweden by Reprocentralen HSC 1994 a) INTRODUCTION AND OBJECTIVES This review has been commissioned by the Swedish International Development Authority, with the objective of synthesising and evaluating in brief the research undertaken to date on the internally displaced, refugee and returnee population movements consequent to the war in Mozambique. 17re extent of the problem of displacement The significance of forced migrations from and within Mozambique is demonstrated by the fact that of its estimated fifteen million people, about two million are estimated to be refugees in neighbouring countries (half of whom are in Malawi), about three million are 'internally displaced', another one million are dwelling temporarily in squatter camps around the main cities, and around one third of a million are already 'returnees' (mostly having repatriated outside of formal channels, and usually still in camps in Mozambique).' There are an unknown number of people also displaced within the Renamo-held areas. In fact, in Mozambique even those populations not classified as forced migrants of one kind or another, have been profoundly affected by the disruptions of the war. Quite apart from the human tragedy that this entails, sustaining the displaced populations is absorbing enormous institutional energies and resources across southern Afiica (especially in Mozambique and Malawi).