José Amadeu Coelho Dias
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
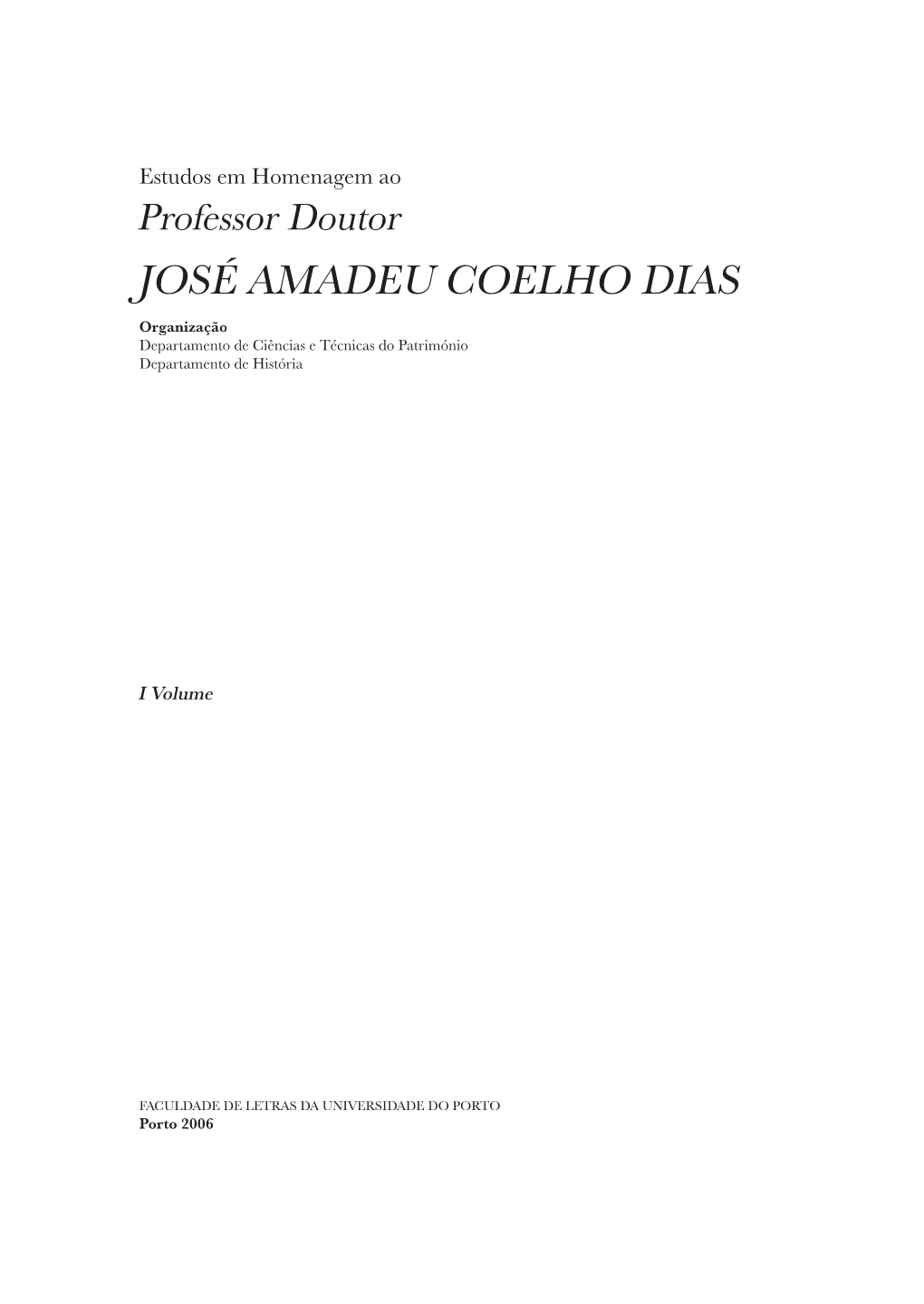
Load more
Recommended publications
-

TEXTOS PRELIMINARES Nota Preambular Resumo Abstract 1
TEXTOS PRELIMINARES Nota preambular Resumo Abstract 1. ÍNDICES 1.1. Índice de quadros 1.2. Índice de figuras TEXTOS PRELIMINARES Nota preambular Há duas considerações que, antecipadamente, ajudarão a entender a razão desta nota: - A primeira, começa no dito popular que afirma ‘nunca é tarde para aprender’ e por isso se julga motivo de desencanto o desperdício de oportunidades, não só pela fatia que se deixa de saborear, daí o entorpecimento, mas ainda pela implícita falta de reconhecimento a quem partilha momentos de escalada, viabilizando novos horizontes. - A segunda, parte da ideia de que uma obra, quando se faz, inclui em si contributos vivos, nem sempre visíveis, sem os quais pode ficar logo em causa uma realização. A validade de tal contributo está na medida de quem o sente, não sendo, por vezes, proporcional à quantidade ou ao visível. Nestas premissas enquadra-se a minha atitude passada, porque abracei a tarefa que me apresentaram como opção, a realização do mestrado em Estudos da Criança - Educação Musical, e a minha atitude presente, porque, tendo-me apercebido de muitas forças positivas ao longo desse percurso que assumi, sem quantificar importâncias, faço perpetuar nestas linhas, a única razão desta nota, o meu sincero agradecimento. Respeitosamente, dirijo-o: Ao Instituto de Estudos da Criança, da Universidade do Minho, e à equipa docente da Área Disciplinar de Educação Musical, em especial à Senhora Prof. Doutora Elisa Maria Maia Silva Lessa, por quem se abriram as pistas de trabalho conducentes à tese que apresento; A todos os agentes culturais que cooperaram, de forma diferenciada, como em Arquivos e Bibliotecas, e a família do autor estudado, que me confiou o seu espólio. -

Short Breaks Norte De Portugal
SHORT BREAKS NORTE DE PORTUGAL www.portoenorte.pt coordenação geral Câmara Municipal de Vieira do Minho, 4 Apresentação 60 Ponte de Lima 102 Torre de Moncorvo Sofia Ferreira Câmara Municipal de Vila do Conde, 6 Mapa 61 Caminha 105 Freixo de Espada à Cinta Câmara Municipal de Vila Pouca de 8 Introdução 61 Vila Nova de Cerveira coordenação técnica Aguiar, Câmara Municipal de Vizela, 62 Paredes de Coura 106 Destino Trás-os-Montes Ana Mafalda Pizarro Centro de Documentação do Museu 14 Destino Porto 62 Valença 108 Mogadouro da Chapelaria, Fundação Casa de 16 Porto 63 Monção 110 Miranda do Douro equipa técnica Mateus, Jaime António/Fundação Côa 23 Matosinhos 64 Melgaço 111 Vimioso Isabel Lima Parque, Rota do Românico, TPNP. 24 Vila Nova de Gaia 65 Ponte da Barca 112 Macedo de Cavaleiros Lígia Azevedo 26 Espinho 66 Arcos de Valdevez 115 Alfandega da Fé Paula Reis design 26 Vila do Conde 66 Vila Verde 116 Mirandela Rui Faria Cristina Lamego 27 Póvoa de Varzim 68 Amares 117 Valpaços 28 Trofa 68 Terras de Bouro 118 Bragança textos impressão 28 Santo Tirso 69 Vieira do Minho 121 Vinhais Paula Reis Raínho&Neves, lda. – Artes Gráficas 29 Maia 70 Póvoa de Lanhoso 122 Chaves 30 Valongo 72 Cabeceiras de Basto 124 Boticas fotografias edição 32 Gondomar 72 Mondim de Basto 127 Montalegre agradecimentos: Câmara Municipal de tpnp©2015 33 Santa Maria da Feira 128 Vila Pouca de Aguiar Alfândega da Fé, Câmara Municipal de 33 S. João da Madeira 74 Destino Douro 130 Ribeira de Pena Armamar, Câmara Municipal de 34 Oliveira de Azeméis 77 Vila Real 131 Celorico de Basto -

Lista De Agentes Payshop
Rua Dr António Breda, s/nº, União das Freguesias Repsol Águeda 3750-130 Águeda Águeda Aveiro Estação de Serviço de Águeda e Borralha 3850-003 Albergaria- Albergaria-a-Velha e Albergaria-a- Papelaria do Mercado Rua 1º de Maio, Loja 1 Aveiro A-Velha Valmaior Velha Rua Conselheiro Nunes da Café Tijuca 3800-538 Cacia Cacia Aveiro Aveiro Silva, nº 5 Papelaria o Lápis Rua do Cruzeiro, nº 7 3800-300 Aveiro Esgueira Aveiro Aveiro União das Freguesias Amararia Rua de Viseu, nº 3 3800-279 Aveiro Aveiro Aveiro de Glória e Vera Cruz União das Freguesias Iber, Lda. Aveiro Rua José Afonso, nº 34 3800-438 Aveiro Aveiro Aveiro de Glória e Vera Cruz Avenida Dr Lourenço União das Freguesias Campião Aveiro 3800-165 Aveiro Aveiro Aveiro Peixinho, nº 87 B de Glória e Vera Cruz Rua Dom António José União das Freguesias Papelaria Cláudia Cordeiro, nº 11, Edifício Paço 3800-003 Aveiro Aveiro Aveiro de Glória e Vera Cruz Alameda, Lote 6 Avenida Força Aérea União das Freguesias Kiosko A2 3800-355 Aveiro Aveiro Aveiro Portuguesa, nº 36 de Glória e Vera Cruz Papelaria Abc Rua 19, nº 182 4500-255 Espinho Espinho Espinho Aveiro Confeitaria Tropicana Rua 19, nº 815 4500-254 Espinho Espinho Espinho Aveiro Supermercado Novo Oriente Rua 31, nº 914 4500-321 Espinho Espinho Espinho Aveiro Papelaria Avenida Avenida 8, nº 1438 4500-207 Espinho Espinho Espinho Aveiro Livrália Rua 23, nº 211 4500-141 Espinho Espinho Espinho Aveiro Tabacaria do Mercado Rua 23, nº 402 4500-142 Espinho Espinho Espinho Aveiro Jocorum Espinho Avenida 24, nº 1013 4500-201 Espinho Espinho Espinho -

Mapa Turístico Da Póvoa De Varzim PRAÇA ÓVOA DE VARZIM ANU DE SANTIAGO ALMEIDA DO
©2006 NOTYPE ©2006 JORGE MACEDO ©2006 JORGE MACEDO ©2006 JORGE MACEDO ©2006 JORGE ©2006 AMÉRICO GOMES ©2006 AMÉRICO www.cm-pvarzim.pt Marginal Praça do Almada Igreja Românica de S. Pedro de Rates Marina da Póvoa Praia da Póvoa Espraiada junto ao Atlântico, Museus 6 Pelourinho da Póvoa (Séc. XVI – Monumento implantação romana. A sua descoberta e escavação deu- Nossa Senhora da Assunção 23 Palácio de Congressos do Novotel Vermar Nacional) e Praça do Almada se nos inícios do século XX pela mão de Rocha Peixoto e, Padroeira dos pescadores, a 15 de Agosto; 28 km a norte do Porto, a Póvoa 1 Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa É constituído por uma coluna de pedra, assente sobre desde 1980, vêm-se realizando trabalhos arqueológicos Estrutura anexa ao Hotel de 208 quartos, localizado junto assume-se como uma “cidade de Varzim degraus, tendo no alto do fuste a esfera armilar, emblema tendentes à sua escavação, estudo e valorização. Nossa Senhora das Dores ao mar. O Centro de Congressos está equipado com as Encontra-se instalado num edifício brasonado da segunda do Rei D. Manuel que renovou o foral à Póvoa de Varzim, No Museu Municipal existe um “Núcleo de Arqueolo- Em meados de Setembro, onde aos arraiais se junta a mais recentes tecnologias e inclui um Auditório (capacida- de lazer”, quer pelos espaços e metade do séc. XVIII, classificado como Imóvel de Inte- em 1514. Esta esfera armilar é a única peça do pelourinho gia” onde está em exposição o espólio mais significativo característica feira da louça. de 550 pessoas) e 5 grandes salas, todas com luz natural resse Público, conhecido por Solar dos Carneiros, e que primitivo erigido naquele ano e reconstruído em 1854. -

Acessibilidade Para Todos E Mobilidade Suave Na Póvoa De Varzim
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território Especialização em Políticas Urbanas e Ordenamento do Território Acessibilidade para todos e mobilidade suave na Póvoa de Varzim David Almeida Varela M 2020 David Almeida Varela Acessibilidade para todos e mobilidade suave na Póvoa de Varzim Relatório de Estágio realizado no âmbito do Mestrado de Riscos, Cidades e Ordenamento do Território, orientado pelo Professor Doutor José Alberto Vieira Rio Fernandes Faculdade de Letras da Universidade do Porto 2020 2 Sumário Declaração de honra ..................................................................................................................... 5 Agradecimentos ............................................................................................................................ 6 Resumo .......................................................................................................................................... 7 Abstract ......................................................................................................................................... 8 Índice de figuras ............................................................................................................................ 9 Índice de tabelas ......................................................................................................................... 10 Índice de gráficos ........................................................................................................................ 11 Lista de abreviaturas e de -

Deolinda Carneiro Museu Municipal De Etnografia E História Da Póvoa De Varzim
DA ERMIDA DA MATA À NOVA IGREJA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE VARZIM Deolinda Carneiro Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim Da Ermida da Mata à nova Igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim1 Resumo Este texto apresenta um estudo resumido do património artístico pertencente à Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. Este trabalho integra-se (assim como a ex- posição patente no Museu Municipal) nas comemorações dos 250 anos da fundação desta Irmandade, que foi, desde 1756, de uma enorme importância como instituição de solidariedade social nunca esquecendo os seus objectivos por se tratar de uma associação de leigos unidos pela fé e valores cristãos, tendo como programa de acção as 14 Obras de Misericórdia, tanto as corporais como as espirituais. Como esta instituição se estabel- eceu e herdou da antiga igreja Matriz da vila da Póvoa, a ela competiu conservar grande parte do património artístico religioso. Desde a primitiva ermida dedicada a S. Tiago às actuais instalações são, na verdade, mais de sete séculos da história e arte da cidade que vemos reflectidos nas peças que pertencem (ou pertenceram) à Santa Casa. Abstract This text presents a brief study of the artistic heritage of the Santa Casa da Misericórdia in Póvoa de Varzim. This study (as well as the exhibition at the Municipal Museum) is an integral part of the commemorations of the 250 years of the foundation of this Brotherhood in 1756. It was extremely important as an institution of social solidarity, without ever neglecting its purposes as an association of layman united by faith and Christian values, whose programme of intervention covered the 14 Works of Mercy, both the corporal and the spiritual. -

THANKS for PURCHASE MORE SPACE LOREM Valor Antropológico
THANKS FOR PURCHASE MORE SPACE LOREM valor antropológico. O propósito desta publicação Festividades da Semana Santa é, assim, o de apresentar de forma sucinta o rico e diversificado programa de eventos que decorre na Póvoa de Varzim durante este longo período, fornecendo dados para uma melhor compreensão dos mesmos. As Raízes Históricas A Quaresma e a Páscoa, quadra particularmente importante no calendário da cristandade, são vividas pela comunidade poveira com a Está comprovada a existência de uma ermida solenidade própria das grandes ocasiões. Tradicionalmente, terminados românico-gótica com a evocação de S. Tiago, os excessos carnavalescos, tinha início na quarta-feira de cinzas um datável do século XII-XIII, mas só alguns séculos mais período de recolhimento e contenção de hábitos que marcavam a vida tarde nos surge documentação escrita relativa às do dia-a-dia e serviam de barómetro aos comportamentos sociais, jejuns manifestações religiosas da comunidade poveira. Este e abstinências (obrigatórios na Quarta-feira de cinzas e sextas-feiras), é o período em que o pequeno povoado da Póvoa de marcavam o ritmo do quotidiano dos crentes, fazendo-os comungar do Varzim cresce em importância e autonomia: cria-se mesmo espírito e de um vivência cúmplice dos preceitos definidos para a póvoa marítima de Varazim através do Foral de D. este período. E se, atualmente, várias destas práticas da esfera intima Dinis (1308), revisto por D. Manuel (1514); consegue- não têm a mesma expressividade social de algumas décadas atrás, não se a emancipação da velha paróquia de S. Miguel o é por isso que a comunidade cristã vive com menor fervor a prática da Anjo com a fundação da Vigararia da Póvoa (século sua fé. -

Autorização N.º IR2354030 CIM DO AVE Para a Exploração De Serviço Público De Transporte Regular De Passageiros
Autorização n.º IR2354030 CIM DO AVE para a exploração de serviço público de transporte regular de passageiros A empresa Arriva Portugal - Transportes, Ldª. com sede no(a) Edifício Arriva, Rua das Arcas, 4810-647 Pinheiro GMR - Guimarães, Portugal, titular do NIPC 504426974 e do alvará/licença comunitária de acesso à atividade n.º 200235, fica autorizada a explorar, em regime provisório, nos termos da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, o serviço público de transporte de passageiros regular na linha com origem/destino (O/D) 4030 - Guimarães - Póvoa de Varzim Via Pevidem, Riba Dave e Famalicão, e nas condições que, na presente data, constam do registo no Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras (SIGGESC). O operador de transportes fica obrigado a respeitar os seguintes requisitos e condições de exploração: a) Prestação do serviço autorizado em boas condições de segurança, qualidade e conforto, em particular no que respeita aos veículos utilizados; b) Prestação de informação ao público sobre a respetiva oferta de serviços de transporte, detalhada e permanentemente atualizada no respeitante a percursos, paragens, horários e tarifário, através dos suportes adequados, nomeadamente do respetivo site; c) A Autorização Provisória não confere ao operador de transportes um direito exclusivo na linha em causa; d) A autorização provisória é intransmissível, não podendo ser cedida ou utilizada por outrem, a qualquer título; e) Sem prejuízo do estabelecido no n.º 4 do artigo 22.º da Lei n.º 52/2015, deverá o operador transmitir à CIM do Ave, até 31 de outubro de 2019, relativamente ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior, as seguintes informações: 1. -

627 Título I
N.o 20 — 27 de Janeiro de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 627 missórias no valor de E 4 142 585,25 cada uma, vencendo Este Plano está, assim, sujeito a ratificação do a primeira em 1 de Julho de 2005, ou 31 dias após Governo, nos termos da alínea d)don.o 3 do artigo 80.o a data do depósito do instrumento de compromisso, do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, na redac- e devendo a segunda e terceira ser emitidas, respec- ção do Decreto-Lei n.o 310/2003, de 10 de Dezembro. tivamente, até 1 de Julho de 2006e1deJulho de 2007, A área de intervenção do Plano de Urbanização da sendo que a última emissão é efectuada até 1 de Julho Póvoa de Varzim está também abrangida pelo Plano de 2008. de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha-Espinho, 3 — Estabelecer que as notas promissórias referidas aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros no número anterior são resgatadas num período de n.o 25/99, de 7 de Abril, sendo o Plano de Urbanização 10 anos, a partir de 2005. compatível com este plano especial de ordenamento do 4 — Determinar que a emissão das notas promissórias território. referidas nos números anteriores fica a cargo do Ins- Verifica-se a conformidade do Plano de Urbanização tituto de Gestão do Crédito Público, I. P., e nelas cons- da Póvoa de Varzim com as disposições legais e regu- tam os seguintes elementos: lamentares em vigor, com excepção do n.o 2do artigo 82.o do Regulamento, que viola o disposto na a) O número de ordem; alínea e) do artigo 88.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de b) O capital representado; 22 de Setembro, ao estabelecer a prevalência dos prin- c) A data de emissão; cípios e objectivos do Plano relativamente aos indica- d) Os direitos, isenções e garantias de que gozam dores e parâmetros urbanísticos que fazem parte do seu e que são os dos restantes títulos da dívida que conteúdo material e que vinculam directa e imediata- se lhe sejam aplicáveis; mente os particulares. -

Autorização N.º IR2351151 CIM DO AVE Para a Exploração De Serviço Público De Transporte Regular De Passageiros
Autorização n.º IR2351151 CIM DO AVE para a exploração de serviço público de transporte regular de passageiros A empresa Arriva Portugal - Transportes, Ldª. com sede no(a) Edifício Arriva, Rua das Arcas, 4810-647 Pinheiro GMR - Guimarães, Portugal, titular do NIPC 504426974 e do alvará/licença comunitária de acesso à atividade n.º 200235, fica autorizada a explorar, em regime provisório, nos termos da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, o serviço público de transporte de passageiros regular na linha com origem/destino (O/D) 1151 - Guimarães - Póvoa de Varzim Via Escola de Gondifelos, e nas condições que, na presente data, constam do registo no Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras (SIGGESC). O operador de transportes fica obrigado a respeitar os seguintes requisitos e condições de exploração: a) Prestação do serviço autorizado em boas condições de segurança, qualidade e conforto, em particular no que respeita aos veículos utilizados; b) Prestação de informação ao público sobre a respetiva oferta de serviços de transporte, detalhada e permanentemente atualizada no respeitante a percursos, paragens, horários e tarifário, através dos suportes adequados, nomeadamente do respetivo site; c) A Autorização Provisória não confere ao operador de transportes um direito exclusivo na linha em causa; d) A autorização provisória é intransmissível, não podendo ser cedida ou utilizada por outrem, a qualquer título; e) Sem prejuízo do estabelecido no n.º 4 do artigo 22.º da Lei n.º 52/2015, deverá o operador transmitir à CIM do Ave, até 31 de outubro de 2019, relativamente ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior, as seguintes informações: 1. -

Mapa Turístico Inglês
©2006 NOTYPE ©2006 JORGE MACEDO ©2006 JORGE MACEDO ©2006 JORGE MACEDO ©2006 JORGE ©2006 AMÉRICO GOMES ©2006 AMÉRICO www.cm-pvarzim.pt Marginal Praça do Almada Igreja Românica de S. Pedro de Rates Marina da Póvoa Praia da Póvoa Spread along the Atlantic Ocean, Museums King D. Manuel who gave autonomy to Póvoa de Varzim 13 S. Félix Hill 16 Casino da Póvoa 23 Novotel Vermar Congress Hall in 1514. This armilar sphere is the sole piece of the origi- 28 Km north of Oporto, Póvoa 1 History and Ethnography Public Museum nal pillory set up on this year and rebuilt later on 1854. This is the highest point of Rates mountain, at 202 meters This is a beautiful neo-classic building, inaugurated in The Congress Hall building is located next to the 208 considers itself to be a “city of lei- The arms coated building dates back to the second half of It raises in the square, Praça do Almada, a noble area high. An exclusive sightseeing, you may look at the whole 1934. It still serves the purpose of its creation: a privi- room hotel and is equipped with the latest technology. the 18th century. Known as the Carneiros manor-house, it by itself, surrounded by highly refined architectonics, region and observe its rich environment. leged place for social intercourse and enjoyment. It includes an auditorium (seats 550) and 5 large recep- sure” due to its spaces and equip- has been subject to several changes in the structure and where the granite facade meets the mosaic, the forged You’ll see the wind-mills, some of them turned into holiday Some of the games available are: French Roulette, tion rooms, all fully equipped and with natural lighting. -

R E L a T Ó R I O
Póvoa de Varzim PLANO DE URBANIZAÇÃO R E L A T Ó R I O Câmara Municipal da Póvoa de Varzim D E P A R T A M E N T O D E G E S T Ã O U R B A N Í S T I C A E A M B I E N T E Índice 1. A CIDADE DA PÓVOA DE VARZIM .......................................................................................... 4 1.1 Génese, Evolução e Património ....................................................................................... 4 1.2 Enquadramento Regional................................................................................................. 6 1.3 Suporte Biofísico............................................................................................................. 6 1.4 Distribuição Funcional..................................................................................................... 7 1.5 Caracterização Morfo-tipológica ..................................................................................... 8 1.6 População ......................................................................................................................10 1.7 Alojamento..................................................................................................................... 11 1.8 Actividades Económicas.................................................................................................12 1.9 Equipamentos.................................................................................................................12 1.10 Circulação......................................................................................................................13