Volume Completo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
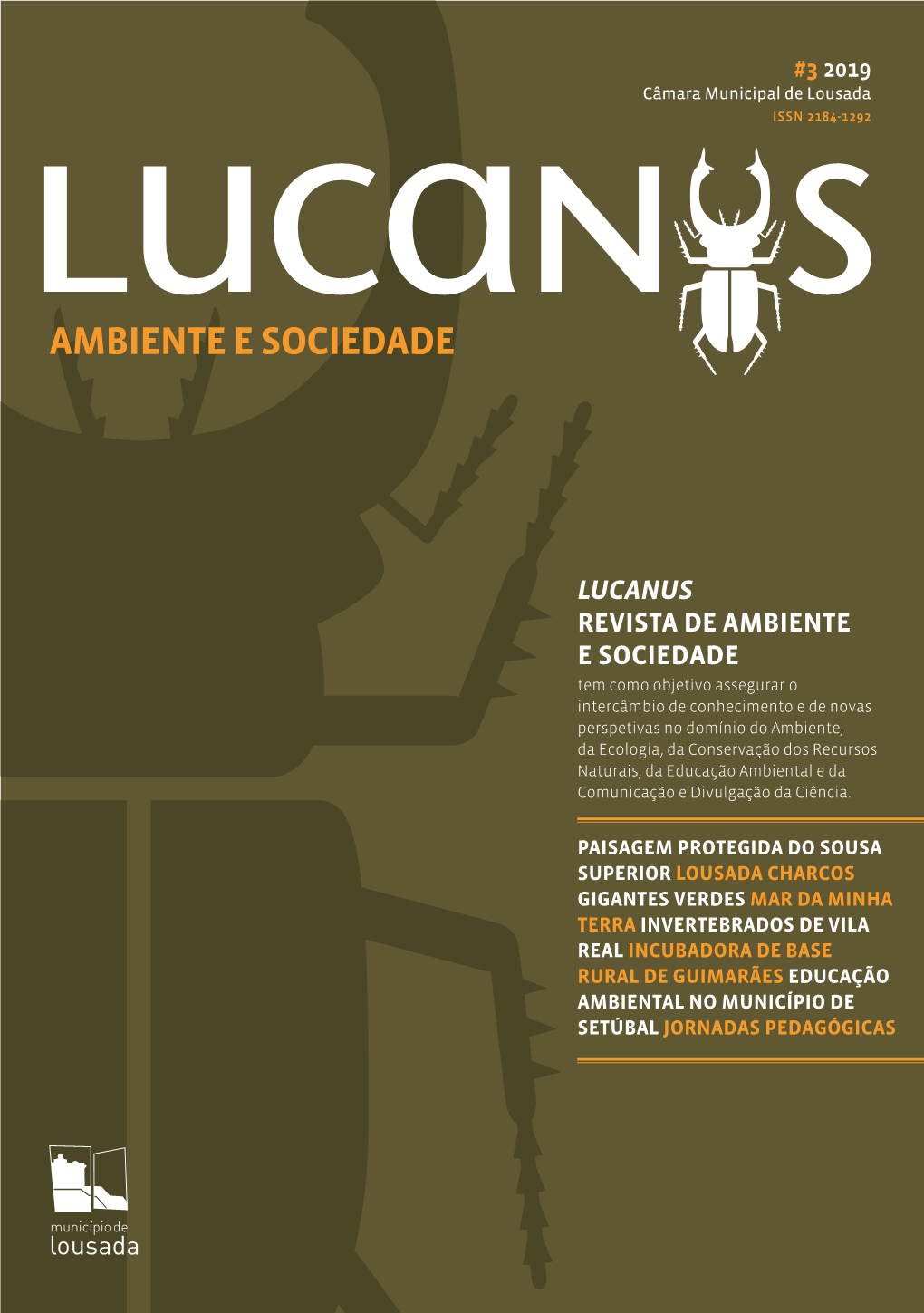
Load more
Recommended publications
-

Preempting the Arrival of the Brown Marmorated Stink Bug, Halyomorpha Halys: Biological Control Options for Australia
insects Article Preempting the Arrival of the Brown Marmorated Stink Bug, Halyomorpha halys: Biological Control Options for Australia Valerie Caron 1,* , Tania Yonow 1, Cate Paull 2, Elijah J. Talamas 3, Gonzalo A. Avila 4 and Kim A. Hoelmer 5 1 CSIRO, Health and Biosecurity, Black Mountain, Acton, ACT 2601, Australia; [email protected] 2 CSIRO, Agriculture and Food, Dutton Park, QLD 4102, Australia; [email protected] 3 Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industry, Bureau of Entomology, Nematology and Plant Pathology, Gainesville, FL 32608, USA; [email protected] 4 The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited, Auckland 1025, New Zealand; [email protected] 5 USDA, Agriculture Research Service, Beneficial Insects Introduction Research Unit, Newark, DE 19713, USA; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +61-02-6218-3475 Simple Summary: The brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentato- midae) is native to Northeast Asia, but has become a serious invasive species in North America and Europe, causing major economic damage to crops. Halyomorpha halys has not established itself in Australia, but it has been intercepted several times at the border, therefore future incursions and establishment are likely. There are few control options for this species and biological control may be a useful management method in Australia. This study summarizes the literature on natural enemies of H. halys in its native and invaded ranges and prioritizes potential biological control agents that could be suitable for use in Australia. The results show two egg parasitoid species as the Citation: Caron, V.; Yonow, T.; Paull, best candidates: Trissolcus japonicus (Ashmead) and Trissolcus mitsukurii (Ashmead) (Hymenoptera: C.; Talamas, E.J.; Avila, G.A.; Hoelmer, Scelionidae). -

Genre Carpocoris
C. fuscispinus (Boheman 1850) C. mediterraneus atlanticus Tamanini 1959 Genre Carpocoris C. melanocerus (Mulsant & Rey 1852) C. purpureipennis (De Geer 1773) C. pudicus (Poda 1761) Conception et photos de Claire Mouquet Mouquet de Claire photos et Conception Tableau synoptique des cinq espèces du genre Carpocoris Kolenati en France. en France. Kolenati Carpocoris genre du espèces des cinq synoptique Tableau © 2006Mouquet, Claire Clé de détermination des espèces du genre Carpocoris de France métropolitaine l1 (2) Abdomen plus large (ou au moins aussi large) que le pronotum. Scutellum avec une dépression triangulaire à semi-circulaire, délimitée en arrière par une crête élevée. Angles latéraux du pronotum arrondis. Bord postérieur du pygophore presque droit ; processus apicaux des paramères ne portant qu’une seule dent. Carpocoris melanocerus (Mulsant & Rey, 1852) Espèce alticole relativement commune à partir de l'étage montagnard dans les Alpes et les Pyrénées. 2 (1) Abdomen moins large que le pronotum. Scutellum dépourvu d’une dépression aussi marquée, ou avec seulement quelques traces superficielles planes. Angles latéraux du pronotum arrondis ou pointus. Bord postérieur du pygophore nettement plus échancré ; processus apicaux des paramères portant une ou deux dent(s). 3 (4) Bords latéraux du scutellum avec une nette et profonde échancrure au milieu. Angles latéraux du pronotum arrondis et peu saillants. Processus apicaux des paramères ne portant qu’une seule dent. Carpocoris pudicus (Poda, 1761) Espèce méridionale commune dans la moitié Sud et Sud-Est de la France. 4 (3) Bords latéraux du scutellum plus ou moins droits, sans échancrure profonde au milieu. Angles latéraux du pronotum aigus, parfois la pointe légèrement émoussés mais alors plus saillants que chez l’espèce précédente. -

Historia Naturalis Bulgarica
QH178 .9 58 V. 10 1999 HISTORIA NATURALIS BULGARICA & 10 fflSTORIA NATURALIS BULGARICA Volume 10, Sofia, 1999 Bulgarian Academy of Sciences - National Museum of Natural History cm.H.c. ) (cm.H.c. () cm.H.c. cm.H.c. cm.H.c. - . ^1 1000 © - ,^1999 EDITORIAL BOARD U Petar BERON (Editor-in-CMef) cm.H.c. : Alexi POPOV (Secretary) Krassimir KUMANSKI Stoitse ANDREEV 31.12.1999 Zlatozar BOEV 70x100/16 350 Address 10.25 National Museum of Natureil History 6 „" 1, Tsar Osvoboditel Blvd 1000 Sofia ISSN 0205-3640 Historia naturalis bulgarica 10, , 1999 - 60 (.) 6 - 6 (., . .) 13 - (Insecta: Heteroptera) 6 (., pes. .) 35 - - (Coleoptera: Carabidae) .-HI (., . .) 67 - Egira tibori Hreblay, 1994 - (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae) (., . .) 77 - Tetrao partium (Kretzoi, 1962) (Aves: Tetraonidae) (., . .) 85 - (Aves: Otitidae) (., . .) 97 - Regulus bulgaricus sp. - (Aves: Sylviidae) (., . .) 109 , - ,Pogonu (., . .) 117 , - „ - " (., pes. .) 125 , , , - 1 6 pes. (., .) 133 - (., pes. .) 147 - gecem (.) ^ 34 - (Coleoptera: Chrysomelidae) (.) 84 - 60 - , 116 (.) , - ,- 124 (1967 1994) (.) - (.) 132 CONTENTS Alexi POPOV - KraSsimir Kumanski at sixty years of age (In Bulgarian) Scientific publications Petar BERON - Biodiversity of the high mountain terrestrial fauna in Bxilgaria (In English, summary in Bulgarian) 13 Michail JOSIFOV - Heteropterous insects in the SandansM-Petrich Kettle, Southwestern Bulgaria (In English, simimary in Bulgeirian) 35 Borislav GUEORGUIEV - Contribution to the study of the ground-beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of the Osogovo -

Morphological, Biogeographical and Molecular Evidence of Carpocoris Mediterraneus As a Valid Species (Hemiptera: Pentatomidae)
Zootaxa 3609 (4): 392–410 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2013 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3609.4.2 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:DE53854B-0C38-4DFF-B35A-1B8EE79E70E9 Morphological, biogeographical and molecular evidence of Carpocoris mediterraneus as a valid species (Hemiptera: Pentatomidae) ROLAND LUPOLI1, FRANÇOIS DUSOULIER2, ASTRID CRUAUD3, SANDRINE CROS-ARTEIL3 & JEAN-CLAUDE STREITO3 179 rue Jules Ferry, 94120 Fontenay-sous-Bois, France. E-mail: [email protected] 29 boulevard du général de Gaulle, 05000 Gap, France. E-mail: [email protected] 3INRA, UMR1062 CBGP, F-34988 Montferrier-sur-Lez, France. E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] Abstract Carpocoris mediterraneus Tamanini, 1958, synonymized with Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) by Ribes et al. (2007), is restored to the species level. The shape of the pronotum is a good diagnostic character to distinguish the two species. The existence of two valid species is supported by geographical distribution patterns in Western Europe: Medi- terranean-Atlantic for C. mediterraneus, and Continental for C. fuscispinus. In France and Spain, in some areas, the two species are found in sympatry (sometimes even on the same plant). Morphological observations are confirmed at the mo- lecular level by sequencing of the mitochondrial Cytochrome c oxidase I standard barcode fragment. Indeed, inter-specific divergence largely exceeded intra-specific divergence and our phylogenetic reconstructions reveal that Carpocoris medi- terraneus and Carpocoris fuscispinus form two reciprocally monophyletic genetic lineages. A morphological identifica- tion key is proposed for all the European species of the genus Carpocoris, to facilitate identification. -

Sunn Pest (Eurygaster Integriceps PUTON, Hemiptera: Scutelleridae) and Its Scelionid (Hymenoptera: Scelionidae) and Tachinid (Diptera: Tachinidae) Parasitoids in Iran
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Linzer biol. Beitr. 42/2 1421-1435 19.12.2010 Sunn pest (Eurygaster integriceps PUTON, Hemiptera: Scutelleridae) and its scelionid (Hymenoptera: Scelionidae) and tachinid (Diptera: Tachinidae) parasitoids in Iran N. SAMIN, M. SHOJAI, S. ASGARI, H. GHAHARI & E. KOCAK Abstract: Sunn pest, Eurygaster integriceps PUTON (Heteroptera: Scutelleridae) is the main pest in wheat fields of Iran. The list of Scelionidae (Hymenoptera) and Tachinidae (Diptera) as the parasitoids of sunn pest are summarized in this paper. Totally 19 scelionid and 7 tachinid species are listed as the parasitoids of sunn pest in Iran. Key words: Eurygaster integriceps, Scutelleridae, Parasitoid, Scelionidae, Tachinidae, Iran. Introduction The areas cultivated with wheat and barley in Iran are 6.5 million ha and 2.5 million ha, respectively. Production for irrigated wheat is around 2,900 kg per hectare, while rain- fed wheat production averages 800 kg per hectare. Irrigated and rain-fed barley yield approximately the same as irrigated and rain-fed wheat. The major hemipteran pests are Eurygaster integriceps PUTON, Aelia furcula FIEBER and Dolycoris penicillatus HORVATH. At present, E. integriceps, the most destructive species is found wherever wheat is grown. The main infestation areas are in the provinces of Tehran, Markazi, Isfahan, Fars, Chaharmahal & Bakhtiari, Kordestan, Lorestan, Zanjan, Ilam and Khora- san. Sunn pest is absent from narrow strips along the Oman Sea, the Arabian Gulf and the Caspian Sea. E. integriceps currently infests about 1 million ha of wheat and barley. The average yield losses are estimated at 20 to 30 percent if the insects are not control- led. -

10. Els Artròpodes Del Delta Del Llobregat. Citacions Recollides Al Banc De Dades De Biodiversitat De Catalunya (Biocat)
10. ELS ARTRÒPODES DEL DELTA DEL LLOBREGAT. CITACIONS RECOLLIDES AL BANC DE DADES DE BIODIVERSITAT DE CATALUNYA (BIOCAT) Antoni Serra1 i Helena Basas1 1. Centre de Recursos de Biodiversitat Animal. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. delta-llobregat.indb 261 12/12/2018 16:50:35 262 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 10.1. INTRODUCCIÓ Un altre factor que cal tenir en compte és que no és infreqüent que una citació original El Banc de Dades de Biodiversitat de Catalu- sigui recollida com una informació biblio- nya (BioCat) és un projecte que va néixer el gràfica en altres treballs posteriors. D’aques- 1993 arran d’un conveni entre el Departa- ta manera, una única citació real apareix rei- ment de Medi Ambient de la Generalitat de teradament i, en conseqüència, les noves Catalunya i la Universitat de Barcelona i té citacions no aporten nova informació. com a objectiu principal ser una recopilació de tota la informació sobre la biodiversitat de Catalunya. Es desenvolupa mitjançant la in- 10.3. MARC GEOGRÀFIC formatització de totes les citacions bibliogrà- fiques de les espècies del territori català i es Els espais naturals del delta del Llobregat es- complementa, quan és possible, amb altres tan situats en les quadrícules UTM de 10 × 10 tipus de dades, com ara la biologia, la distri- quilòmetres DF16, DF17, DF26 i DF27, als bució geogràfica i l’ecologia. termes municipals del Prat de Llobregat, En un primer moment, la informació re- Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. To- collida feia referència exclusiva a dades de tes les citacions d’espècies d’artròpodes fan flora i de vegetació (FloraCat) i a partir del referència a localitats identificades pel seu to- 1999 s’hi incorporen dades de la fauna cata- pònim i situades en una de les quadrícules de lana i concretament, entre d’altres, les que 10 × 10 km. -

Pdf (339.04 K)
J. Product. & Dev., 14(3): 747- 758 (2009) SURVEY OF SOME HETEROPTEROUS INSECTS IN LIBYA Moftah Soleman El-Meghrabi Zoology Department, Faculty of Science, Garyounis University, Benghazi, Libya ABSTRACT From 2001 to 07, research was carried out to investigate the composition of the Heteroptera fauna in Libya. Many types of soil were involved, viz., semi desert, desert and agricultural land, on various grown crops were grown. It appeared that Heteroptera fauna were 91 species, classified into 18 families of them 40 species are recorded in Libya for the first time. As these species have a wide ecological range they are capable to adapting themselves quite well to the changing environmental factors which results from the various cultivation methods. Conclusively, it appeared that Heteroptera fauna were 91 species, classified into 18 families from them 40 species are recorded in Libya for the first time. Key words: Heteroptera, Insects, Libya, Host plants, Distribution, Survey. INTRODUCTION The Heteroptera of Libya have been very poorly studied and are known only from a few faunal lists; the first list was published by Zavattari (1934). Damiano (1961) listed 7 species of Heteroptera and out of these only 5 species were found in Libya. Later, Linnavuori (1965) made a contribution to the hemipterous fauna of Libya. From time to time, a few species were described by various authors among whom, Hessein (1978) who collected four species from Tripoli. The order Heteroptera is a very important one in regard to man’s welfare. Among its members are many of our serious pests such as the stink bug, squash bug, chinch bug. -
(Heteroptera) of Gilan and the Adjacent Provinces in Northern Iran
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 15.viii.2008 Volume 48(1), pp. 1-21 ISSN 0374-1036 Studies on the Acanthosomatidae, Scutelleridae and Pentatomidae (Heteroptera) of Gilan and the adjacent provinces in northern Iran Rauno E. LINNAVUORI Saukkokuja 10, FIN-21220 Raisio, Finland; e-mail: rauno.linnavuori@kolumbus.fi Abstract. A list of the Acanthosomatidae (3 species), Scutelleridae (13 species) and Pentatomidae (76 species) from the Iranian province of Gilan and adjacent provinces is published. The following eight species are recorded from Iran for the fi rst time: Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787), Arma custos (Fabricius, 1794), Alloeoglypta pretiosa Kiritshenko, 1952, Sciocoris cursitans cursitans (Fabricius, 1794), Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851, Ventocoris (Selenodera) bulbifer Seidenstücker, 1964, Podops (Opocrates) annulicornis Jakovlev, 1877, and Tarisa virescens Herrich-Schaeffer, 1851. Key words. Heteroptera, Pentatomoidea, Acanthosomatidae, Scutelleridae, Pen- tatomidae, Iran, Gilan, faunistics, checklist, new records Introduction This paper is the last one in a series of papers dealing with the true bug fauna of the Gilan province in northern Iran (LINNAVUORI & HOSSEINI 2000; LINNAVUORI 2006, 2007a,b,c). It is based on investigations I have been carrying out together with my wife Sakineh Linnavuori in the province and adjacent areas since 1994. The Gilan province (Fig. 1) (36°36′-38°27′ N, 48°30′-50°30′ E, total area 14,709 km2) is located on the southern coast of the Caspian Sea and surrounded by Ardabil, Zanjan, Ghaz- vin, Tehran, Mazandaran, and Golestan provinces. The Gilan province consists of coastal and central plains (-25 m a.s.l. at Astara up to about 1,000 m a.s.l.), which are bordered by the Talesh, Masuleh and Poshtehkuh mountain ranges in the west and the Elburz Mts. -

310-337 Pla Ports (Ap 1).Indd
Annexos Annex 1. Estudi del medi costaner Annex 2. Inventari d’instal·lacions nàutiques Annex 1 Estudi del medi costener Matriu d’informació ambiental del litoral català per trams Simbologia de la taula * A una distància de la línia de costa entre 0,5 km i 1 km, presència de fanerògames ** A una distància de línia de costa superior a 1 km, presència de fanerògames *** En els trams de costa definits en aquest Pla de ports hi pot haver franges costaneres amb classificacions diferents segons el PDSUC (–) Dades no disponibles Nivell de vulnerabilitat ambiental: Nivell 1: Trams de costa amb espais protegits per llei o amb zones que és necessari garantir-ne la conservació Nivell 2: Trams no inclosos en el nivell 1, però que mereixen atenció especial Nivell 3: Trams sense un interès mediambiental destacat Llista d’acrònims: SAIM Sectors altament influenciats o modificats CPEIN Sòl no urbanitzable costaner inclòs en el PEIN CD Costa deltaica C1 Sòl no urbanitzable costaner codi C1 CRA Costa rocosa i abrupta C2 Sòl no urbanitzable costaner codi C2 CPR Costa poc rocosa C3 Sòl no urbanitzable costaner codi C3 C4 Sòl no urbanitzable costaner codi C4 PNAC Parc nacional U Sòl urbà 311 PNIN Paratge natural d’interès nacional UD Sòl urbanitzable delimitat RNI Reserva natural integral UD* Sòl UD (amb pla parcial aprovat definitivament) RNP Reserva natural parcial UND Sòl urbanitzable no delimitat PNAT Parc natural UND* Sòl UND ( amb PAU o PP) PEIN-PEP PEIN amb pla especial de protecció (*) Tipus de sòl no en contacte amb la costa però a menys de 0,5 km PEIN Pla d’espais d’interès natural UD (S.x) Sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat UND* (S.x) Sòl urbanitzable no delimitat (amb PAU o PPU de delimitació, sense pla parcial aprovat) Fondeig Costa Brava. -

A Review of the Hemiptera of Great Britain: the Shieldbugs and Allied Families
Natural England Commissioned Report NECR190 A review of the Hemiptera of Great Britain: The shieldbugs and allied families Coreoidea, Pentatomoidea & Pyrrhocoroidea Species Status No.26 First published 11 March 2016 www.gov.uk/na tural-england Foreword Natural England commission a range of reports from external contractors to provide evidence and advice to assist us in delivering our duties. The views in this report are those of the authors and do not necessarily represent those of Natural England. Background Making good decisions to conserve species Reviews for other invertebrate groups will follow. should primarily be based upon an objective process of determining the degree of threat to BANTOCK, T. 2016. A review of the Hemiptera the survival of a species. The recognised of Great Britain: The shieldbugs and allied international approach to undertaking this is by families: Species Status No.26. Natural England assigning the species to one of the IUCN threat Commissioned Reports, Number190. categories. This report was commissioned to update the national status of shield bugs using IUCN methodology for assessing threat. It covers all species of Coreoidea, Pentatomoidea & Pyrrhocoroidea in Great Britain, identifying those that are rare and/or under threat as well as non- threatened and non-native species. Natural England Project Manager - Jon Webb, [email protected] Author - Tristan Bantock Keywords - Hemiptera, true bugs, shield bugs, invertebrates, red list, IUCN, status reviews, IUCN threat categories, GB rarity status Further information This report can be downloaded from the Natural England website: www.gov.uk/government/organisations/natural-england. For information on Natural England publications contact the Natural England Enquiry Service on 0845 600 3078 or e-mail [email protected]. -

New Records of Terrestrial Bugs from the Maltese Islands with an Updated List of Maltese Heteroptera (Insecta: Hemiptera)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OAR@UM BULLETIN OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF MALTA (2010) Vol. 3 : 19-39 New records of terrestrial bugs from the Maltese Islands with an updated list of Maltese Heteroptera (Insecta: Hemiptera) David CUESTA SEGURA1, Manuel BAENA RUÍZ2 & David MIFSUD3 ABSTRACT. Thirty-four species of Heteroptera were found from the Maltese islands during a sampling period of a week in April of 2009. Of these, seven represent new records for this territory and include the seed bugs Artheneis foveolata, Emblethis duplicatus, Engistus boops boops and Oxycarenus hyalinipennis and the plant bugs Megalodactylus macularubra, Mimocoris sp. and Phytocoris sp. The integration of the records from the last Catalogue of Maltese Heteroptera, the Catalogue of the Heteroptera of the Palaeartic Region and the present data raised the heteroptera known from the Maltese islands to 223 species accommodated in 161 genera and 26 families. KEY WORDS. Malta, true bugs, new records, updated list. INTRODUCTION Probably the earliest mention of Maltese Heteroptera was due to DALLAS (1852), who recorded four species from Malta, as clearly indicated in Schembri’s catalogue of Maltese Heteroptera (1993) which includes most citations relevant to Maltese Heteroptera. The number of Heteroptera species for Malta increased slowly, and more than a hundred years later, TAMANINI (1966) recorded 67 species belonging to 16 families. DE LUCCA (1969) added some further species and RIEGER (1986) provided information on 35 additional new records for Malta. SCHEMBRI (1993) also described the major Maltese habitat types and provided additional new records, listing a total of 209 taxa (refer to discussion) accommodated in 23 families. -

Hemiptera) Species in Cereal Agroecosystem of Turkish Republic of Northern Cyprus
Kafkas Üniversitesi Kafkas University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Institute of Natural and Applied Science Journal Cilt 12, Sayı 2, 56-67, 2019 Volume 12, Issue 2, 56-67, 2019 Original Article Investigations on Heteroptera (Hemiptera) Species in Cereal Agroecosystem of Turkish Republic of Northern Cyprus Celalettin GÖZÜAÇIK1*, Ayda KONUKSAL2 1 University of Iğdır, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, Iğdır, Turkey 2 Agricultural Research Institute, Lefkoşa, Turkish Republic of Northern Cyprus (İlk Gönderim / Received: 11.09.2019, Kabul / Accepted: 26.12.2019, Online Yayın / Published Online: 30.12.2019) Keywords: Abscract: In this study, 35 specimens belonging to Coreidae (3), Lygaeidae (5), Cereal agroecosystem, Miridae (6), Pentatomidae (12), Pyrrhocoridae (1), Reduviidae (1), Rhopalidae (3), Heteroptera, Scutelleridae (3) and Tingidae (1) families of Heteroptera suborder (Hemiptera) have Turkish Republic of been determined in cereal agroecosystem of Turkish Republic Northern Cyprus in 2018- Northern Cyprus 2019. The most of these species are new record for these locations. Among them, Lygaeosoma anatolicum Seidenstücker, 1960 (Lygaeidae) is new record for the island of Cyprus. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hububat Alanlarında Heteroptera (Hemiptera) Türleri Üzerine Araştırmalar Anahtar Kelimeler: Abscract: Çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hububat alanlarında 2018-2019 Hububat alanları, yıllarında Heteroptera (Hemiptera) alt takımının Coreidae (3), Lygaeidae (5), Miridae Heteroptera, (6), Pentatomidae (12), Pyrrhocoridae (1), Reduviidae (1), Rhopalidae (3), Scutelleridae Kuzey Kıbrıs (3) ve Tingidae (1) familyalarına ait 35 tür belirlenmiştir. Bu türlerden çoğu bulunduğu lokasyonlarda, Lygaeosoma anatolicum Seidenstücker, 1960 (Lygaeidae) ise Kıbrıs adasında ilk defa kaydedilmiştir. 1. INTRODUCTION are serious plant pests or predators of other insects (Safavi, 1973). The Hemiptera is one of Turkish Republic of Northern Cyprus is the largest insect groups with at least 82.000 located in the north east of the island.