Versão Ebook Do Catalogo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
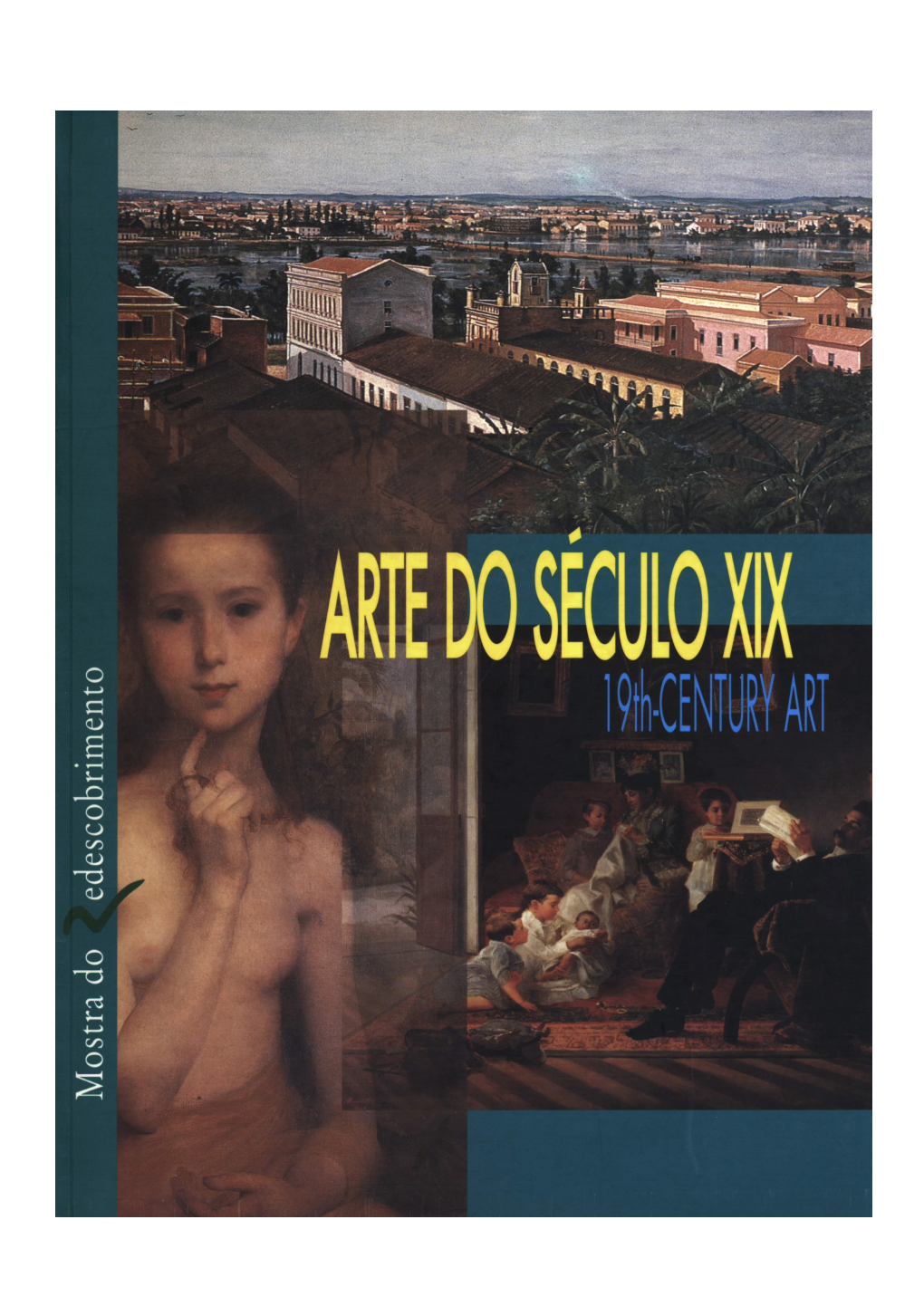
Load more
Recommended publications
-

“A Maneira Especial Que Define a Minha Arte”: Pensionistas Da Escola Nacional De Belas Artes E a Cena Artística De Munique Em Fins Do Oitocentos
“A maneira especial que define a minha arte”: Pensionistas da Escola Nacional de Belas Artes e a cena artística de Munique em fins do Oitocentos “The special manner that defines my art”: The boarders from the National School of Fine Arts and the artistic scene in Munich in the end of the Nineteenth Century Arthur Valle Pós-Doutorando em História na UFF Doutorado (2007), Mestrado (2002) e Graduação em Pintura (1998) em Artes Visuais pela EBA-UFRJ RESUMO Na primeira década da República, o ensino artístico oficial no Rio de Janeiro, centrado na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), exibiu uma singular abertura com relação à diversidade estética da arte europeia. Nesse sentido, e transcendendo os tradi- cionais laços com países como a Itália e a França, alguns artistas brasileiros, custeados pela ENBA ou às suas próprias expensas, passaram temporadas de estudo na cidade de Munique, um dos mais dinâmicos centros artísticos do final do século 19. O presente artigo procura discutir as razões por trás da ida dos artistas brasileiros para Munique, bem como as marcas que as vivências artísticas nessa cidade deixaram em suas obras. PALAVRAS-CHAVE Escola Nacional de Belas Artes; Pensionato artístico; Relações artísticas internacionais. AbSTRACT In the first decade of the Republic, the official artistic teaching in Rio de Janeiro, centered on the National School of Fine Arts (NSFA), has shown a singular openness towards the aesthetic diversity of European art. In this sense, and transcending the traditional links with countries like Italy and France, some Brazilian artists, funded by the NSFA, or by their own expenses, spent study seasons in the city of Munich, one of the most dynamic artistic centers of the end of the nineteenth century. -

Universidade Estadual De Campinas Sob Orientação Do Prof.Dr
HELDER OLIVEIRA Olhar o Mar Um estudo sobre as obras ‘Marinha com Barco’(1895) e Paisagem com rio e barco ao seco em São Paulo “Ponte Grande” (1895) de Giovanni Castagneto Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas sob orientação do Prof.dr. Luciano Migliaccio. Este exemplar corresponde à redação final da dissertação defendida e aprovada pela Comissão Julgadora em 28/02/2007. Comissão Julgadora: Prof. Dr. Luciano Migliaccio (orientador) Profa. Dra. Claudia Valladão de Mattos Prof. Dr. Jens Baumgarten Campinas, 2007 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO IFCH – UNICAMP Oliveira, Helder Manuel da Silva OL41o Olhar o mar : um estudo sobre as obras “Marinha com barco” (1895) e “Paisagem com rio e barco ao seco em São Paulo ‘Ponte Grande’” (1895) de Giovanni Castagneto / Helder Manuel da Silva Oliveira. - - Campinas, SP: [s.n.], 2007. Orientador: Luciano Migliaccio. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 1. Castagneto, Giovanni Battista, 1851-1900. 2. Arte – História – Séc. XIX. 3. Arte – Brasil – Séc. XIX. 4. Pintura paisagística. I. Migliaccio, Luciano. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. Título em inglês: Looking at the Sea: a study about the paintings “Marinha com barco” (1895) and “Paisagem com rio e barco ao seco em São Paulo ‘Ponte Grande’” (1895) by Giovanni Castagneto. Palavras-chave em inglês Art – History –19th century (Keywords): Art – Brazil - 19th century Landscape painting Área de concentração: História da Arte Titulação: Mestre em História da Arte Banca examinadora: Prof. -

Palácio Itamaraty, Outras Pinturas E Quadros |
Palácio Itamaraty, outras pinturas e quadros | 139 Itamaraty Palace, other paintings and pictures | 140 | Ministério das Relações Exteriores Ministry of External Relations | Retrato do Barão do Rio Branco, de Davis Sanford, Estados Unidos, fotografi a aquarelada, 41 x 34 cm, 1893 | | Portrait of the Baron of Rio Branco, by Davis Sanford, United States, watercolor photograph, 41 cm x 34 cm, 1893 | Palácio Itamaraty, outras pinturas e quadros | 141 Itamaraty Palace, other paintings and pictures | Antonio Felix da Costa Antonio Felix da Costa Portugal Portugal Artista que se dedicou sobretudo ao retrato. Foi An artist who above all dedicated himself to por- discípulo de Miguel Angelo Lupi. Figurou com traits, Costa was a pupil of Miguel Angelo Lupi. pintura nas mostras da Sociedade Promotora de His paintings were on show at exhibitions of the Belas Artes nos anos 1867 e seguintes, do Grêmio Society for the Promotion of Fine Arts and the Na- Artístico, dos anos 1891 em diante, e da Socieda- tional Society of Fine Arts in the late 1860s and in de Nacional de Belas Artes, em 1919. Fez retratos 1919, respectively. At the Artistic Club, his paintings do Rei D. Luís, do Rei D. Carlos e também de Fon- graced exhibitions from 1891 onward. He painted tes Pereira de Melo, Duque de Ávila e Bolama. portraits of King D. Luís, King D. Carlos and also Fon- tes Pereira de Melo, Duke of Ávila and Bolama. | Retrato do Marechal Deodoro, Antonio Felix da Costa, óleo sobre tela, 58,5 x 55,5 cm, 1890 | | Portrait of Marshal Deodoro, by Antonio Felix da Costa , -

O Palácio Itamaraty Em Brasília 1959-70. Versão
LEANDRO LEÃO ALVES Arte, Arquitetura e Estado: o Palácio Itamaraty em Brasília 1959-70. Versão original Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de “Mestre em Ciências” no Programa: Arquitetura e Urbanismo Área de Concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo Orientadora: Profa. Dra. Ana Lucia Duarte Lanna São Paulo 2019 1 FOLHA DE AVALIAÇÃO Nome: ALVES, Leandro Leão Título: Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. Aprovado em: Banca Examinadora Prof. Dr. ______________________________________________ Instituição: ______________________________________________ Julgamento: ______________________________________________ Prof. Dr. ______________________________________________ Instituição: ______________________________________________ Julgamento: ______________________________________________ Prof.Dr. ______________________________________________ Instituição: ______________________________________________ Julgamento: ______________________________________________ 2 AGRADECIMENTOS À Fapesp, pela bolsa que viabilizou o elaboração desta dissertação À Profa. Dra. Ana Lanna, pela orientação precisa, paciente e transformadora; pelo privilégio que é compartilhar desde a graduação. Ao grupo de orientandos: Amália, Cadu, Thales, Pedro, Otávio, Gabriela e Natália. Aos Profs. Drs. José Lira, Maria Cecília França Lourenço, Ana Paula Simioni, -

Belos Panoramas, Matizes Imaginários a CIDADE OITOCENTISTA DAS PROVÍNCIAS DO NORTE NA OBRA DE CHARLES LANDSEER E WILLIAM BURCHELL (1825-1830)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO Belos Panoramas, Matizes Imaginários A CIDADE OITOCENTISTA DAS PROVÍNCIAS DO NORTE NA OBRA DE CHARLES LANDSEER E WILLIAM BURCHELL (1825-1830) BARBARA GONDIM LAMBERT MOREIRA NATAL-RN 2017.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO BARBARA GONDIM LAMBERT MOREIRA BELOS PANORAMAS, MATIZES IMAGINÁRIOS A CIDADE DAS PROVÍNCIAS DO NORTE NA OBRA DE CHARLES LANDSEER E WILLIAM BURCHELL (1825-1830) NATAL, JANEIRO DE 2017. 1 Capa: Barbara Gondim Lambert Moreira Imagem da capa: Charles Landseer: Salvador vista do Bonfim, 1825-1826. Fonte: Bethell, Leslie. Charles Landseer: Desenhos e Aquarelas de Portugal e do Brasil - 1825 - 1826. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2010. Autorizo a reprodução e divulgação parcial ou total deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e de pesquisa, desde que citada a fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede. Catalogação da Publicação na Fonte. Moreira, Barbara Gondim Lambert. Belos panoramas, matizes imaginários: A cidade das províncias do norte na obra de Charles Landseer e William Burchell (1825-1830). / Barbara Gondim Lambert Moreira. – 2017. 272 f.: il. Orientador: Prof. Dr. George Alexandre Ferreira Dantas. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal, RN, 2017. 1. -

Cantarias E Pedreiras Históricas Do Rio De Janeiro: Instrumentos Potenciais De Divulgação Das Ciências Geológicas
ARTIGOTERRÆ DIDATICA 8(1):3-23, 2012 Almeida, S; Rubem Porto Jr., R. Cantarias e pedreiras históricas do Rio de Janeiro: instrumentos potenciais de divulgação das Ciências Geológicas Soraya Almeida Depto. de Geociências, UFRuralRJ,Seropédica. [email protected] Rubem Porto Junior Depto. de Geociências, UFRuralRJ,Seropédica. [email protected] ABSTRACT Historic quarries in Rio de Janeiro as a stimulus to the study of Geological Sciencies: The use of rocks as the main source of raw material for building construction was a peculiar characteristic of the Rio de Janeiro city and surroundings, since its founding until the nineteenth century. The historical quarries have influenced the urban layout and the formation of settlements, with connections in all economic strata. Nowadays, the extracted material is exposed at the historical part of the City, known as Rio Antigo (Old Rio) where is possible to see various examples of rock use. The paper summarizes the historical role played by the quarries in the city and proposes ways to use this heritage as a way of encouraging the dissemination of science, the study of geology and the recognition of the link between Man and rock. KEYWORDS Quarry, Rio de Janeiro, History, Geology, urban development. RESUMO A utilização de rochas como principal fonte de matéria-prima para construção de edifícios era característica peculiar à cidade do Rio de janeiro e arredores, desde sua fundação até o século XIX. As pedreiras históricas influencia- ram o traçado urbano e a formação de núcleos populacionais, com conexões econômicas em todos os estratos sociais. O material delas extraído hoje se encontra, em suas diversas formas de uso, expostos no conjunto arquitetônico do chamado Rio Antigo, situado no centro econômico e turístico da capital. -

A PENA, O PINCEL E a PAISAGEM Literatura E Pintura Na Educação Do Olhar Dos Viajantes Oitocentistas No Brasil
A PENA, O PINCEL E A PAISAGEM Literatura e Pintura na Educação do Olhar dos Viajantes Oitocentistas no Brasil THE PEN, THE PENCIL AND THE LANDSCAPE Literature and Painting in the Education of the Gaze of XIXth Century Travellers in Brazil LA PLUMA, EL PINCEL Y EL PAISAJE Literatura y Pintura en la Educación de la Mirada de los Viajeros Ochocientistas en Brasil HISTÓRIA E TEORIA DA ARQUITETURA, DA CIDADE E DO URBANISMO PAZ, Daniel J. Mellado Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA [email protected] A PENA, O PINCEL E A PAISAGEM Literatura e Pintura na Educação do Olhar dos Viajantes Oitocentistas no Brasil THE PEN, THE PENCIL AND THE LANDSCAPE Literature and Painting in the Education of the Gaze of XIXth Century Travellers in Brazil LA PLUMA, EL PINCEL Y EL PAISAJE Literatura y Pintura en la Educación de la Mirada de los Viajeros Ochocientistas en Brasil HISTÓRIA E TEORIA DA ARQUITETURA, DA CIDADE E DO URBANISMO RESUMO: Os documentos históricos conhecidos como literatura dos viajantes nos apresentam um material contrastante com os registros escritos de punho de brasileiros e mesmo portugueses. Há uma significativa diferença de sensibilidade: dos objetos de interesse, dos parâmetros do juízo, do que era valorado e mesmo da maneira de empregar os sentidos. Os textos e gravuras dos livros revelam algo mais profundo: que a literatura e o desenho/ pintura são essenciais na sensibilidade dos visitantes. O século XIX será o século da pintura paisagística, dos diários e da literatura de viajantes, e do imperialismo – da expansão dos impérios coloniais mapeando o interior dos continentes e os pólos, do trânsito de europeus pelo mundo.