2016 Tese Rppereira.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
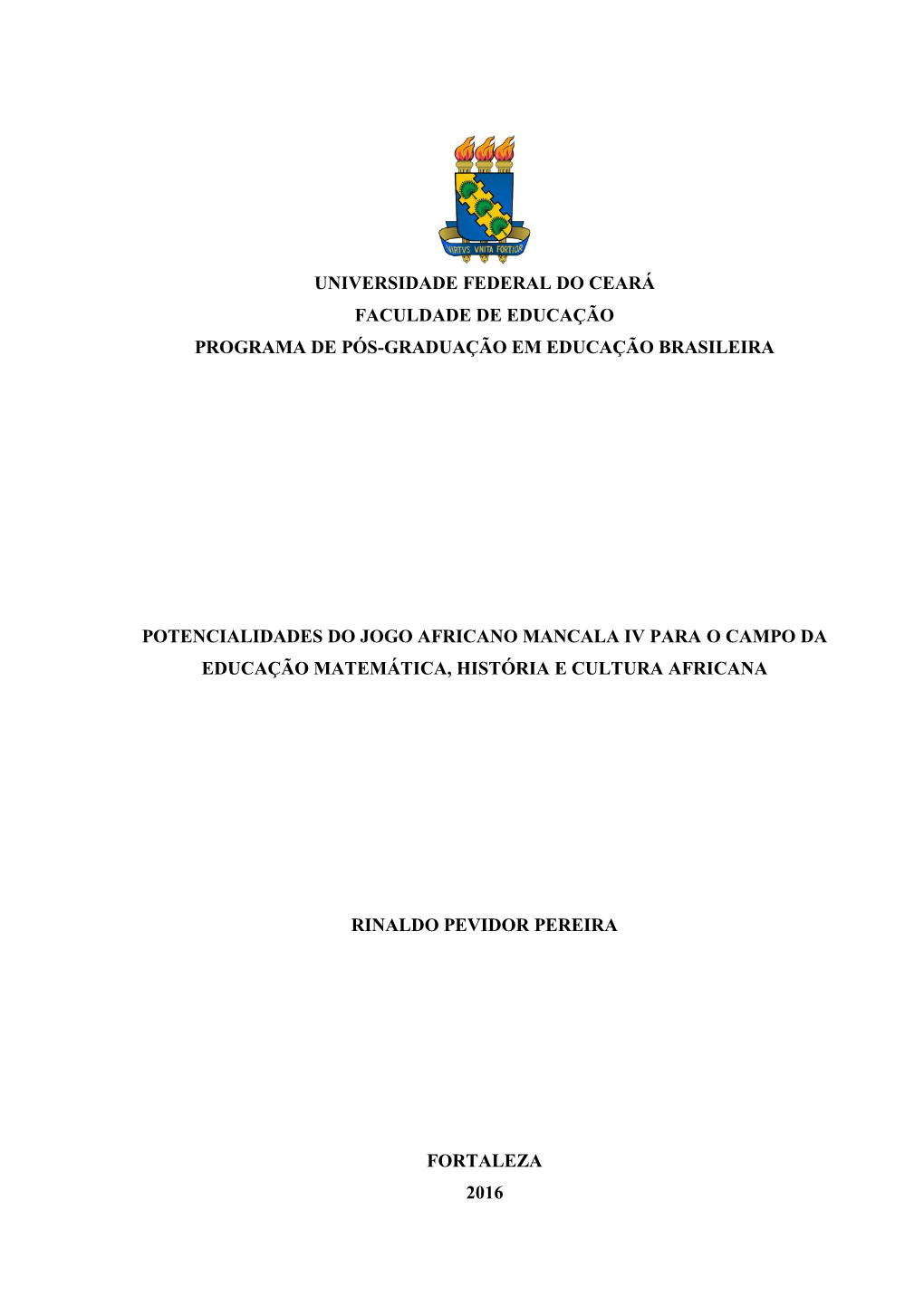
Load more
Recommended publications
-

Oases of Oman Livelihood Systems at the Crossroads
oases of oman livelihood systems at the crossroads Second EXPANDED edition AL ROYA PRESS & PUBLISHING HOUSE MUSCAT sponsored by University of agriculture, faisalabad, Pakistan The front cover of this volume shows the main terrace system of the 3,000 year old oasis of Biladsayt in the northern Al Hajar mountain range and the back page variation in irrigated wheat planting as a farmer strategy to cope with year-specific water availability during 2003, 2006 and 2007 in the agro-pastoral oasis of Maqta in the eastern Jabal Bani Jabir range of Oman. Al Roya Press & Publishing House P. O. Box 343, Postal Code 118, Al Harthy Complex, Muscat, Sultanate of Oman Tel: (968) 24 47 98 81/882/883/884/885/886/887/888, Fax: (968) 24 47 98 89 E-mail: [email protected] www.alroya.net © Compilation: Andreas Buerkert and Eva Schlecht © Individual texts: Named authors Publisher: Hatim Al Taie Editors: Andreas Buerkert and Eva Schlecht In-house Editor: Helen Kirkbride Dr. Muhammad Jalal Arif, Principal Officer Public Relations & Publications (PRP) Dept. University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan Design & Production: Dhian Chand Mumtaz Ali Officer Incharge, University Press University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan Printed by: University Press University of Agriculture Faisalabad, Pakistan Second Published: November 2010 ISBN: 978-969-8237-51-6 Note: Data and literature complementing the information collected in this book can be accessed on the internet at: http://www.oases-of-oman.org contents Foreword 5 Authors 6 Introduction 7 Chapter 1 8 -

Bibliography of Traditional Board Games
Bibliography of Traditional Board Games Damian Walker Introduction The object of creating this document was to been very selective, and will include only those provide an easy source of reference for my fu- passing mentions of a game which give us use- ture projects, allowing me to find information ful information not available in the substan- about various traditional board games in the tial accounts (for example, if they are proof of books, papers and periodicals I have access an earlier or later existence of a game than is to. The project began once I had finished mentioned elsewhere). The Traditional Board Game Series of leaflets, The use of this document by myself and published on my web site. Therefore those others has been complicated by the facts that leaflets will not necessarily benefit from infor- a name may have attached itself to more than mation in many of the sources below. one game, and that a game might be known Given the amount of effort this document by more than one name. I have dealt with has taken me, and would take someone else to this by including every name known to my replicate, I have tidied up the presentation a sources, using one name as a \primary name" little, included this introduction and an expla- (for instance, nine mens morris), listing its nation of the \families" of board games I have other names there under the AKA heading, used for classification. and having entries for each synonym refer the My sources are all in English and include a reader to the main entry. -

Inventaire Des Jeux Combinatoires Abstraits
INVENTAIRE DES JEUX COMBINATOIRES ABSTRAITS Ici vous trouverez une liste incomplète des jeux combinatoires abstraits qui sera en perpétuelle évolution. Ils sont classés par ordre alphabétique. Vous avez accès aux règles en cliquant sur leurs noms, si celles-ci sont disponibles. Elles sont parfois en anglais faute de les avoir trouvées en français. Si un jeu vous intéresse, j'ai ajouté une colonne « JOUER EN LIGNE » où le lien vous redirigera vers le site qui me semble le plus fréquenté pour y jouer contre d'autres joueurs. J'ai remarqué 7 catégories de ces jeux selon leur but du jeu respectif. Elles sont décrites ci-dessous et sont précisées pour chaque jeu. Ces catégories sont directement inspirées du livre « Le livre des jeux de pions » de Michel Boutin. Si vous avez des remarques à me faire sur des jeux que j'aurai oubliés ou une mauvaise classification de certains, contactez-moi via mon blog (http://www.papatilleul.fr/). La définition des jeux combinatoires abstraits est disponible ICI. Si certains ne répondent pas à cette définition, merci de me prévenir également. LES CATÉGORIES CAPTURE : Le but du jeu est de capturer ou de bloquer un ou plusieurs pions en particulier. Cette catégorie se caractérise souvent par une hiérarchie entre les pièces. Chacune d'elle a une force et une valeur matérielle propre, résultantes de leur capacité de déplacement. ELIMINATION : Le but est de capturer tous les pions de son adversaire ou un certain nombre. Parfois, il faut capturer ses propres pions. BLOCAGE : Il faut bloquer son adversaire. Autrement dit, si un joueur n'a plus de coup possible à son tour, il perd la partie. -

Enjeux Systémiques De La Règle De
Aspects systémiques de la règle de Jeu AFSCET Andé, 9 juin 2012 (schéma d'intervention) Pierre Berloquin Très brève histoire du jeu Peut-être la plus ancienne activité humaine codée Le jeu a-t-il précédé la loi et les mathématiques ? sur la grille de Roger Caillois agôn & ludus ici représentée par naissent les Creative ludèmes Patterns Dans cette zone, naît et se développe un phénomène particulier : la règle de jeu, un système de ludèmes doté de propriétés homéostatiques Les jeux de cartes jusqu'en 1970 Les jeux de table jusqu'en 1970 Depuis 1970 foisonnement des créations Eclatement des productions dans tous les domaines : - matériel traditionnel - matériel informatique - jeux interactifs - jeux en ligne - etc. Cyprien de Carthage Anathème contre le jeu de aleatoribus 3ème siècle séparation du sacré et du jeu dans la culture occidentale De aleatoribus - 250 EC Chrétien, qui que tu sois, si tu te livres aux jeux de hasard, tu dois d'abord savoir ceci : tu n'es pas chrétien, mais tu reprends le nom de païen... joueur, qui que tu sois, tu te dis chrétien ; mais tu ne l'es pas, car tu partages les folies du monde. Tu ne peux être l'ami du Christ, toi qui es l'ami de l'ennemi du Christ ... Renonce au jeu et sois chrétien. En face du Christ, en présence des anges et des martyrs, jette ton argent sur la table du Seigneur. Ton patrimoine, que peut-être tu allais perdre dans la fureur de ta passion, partage-le entre les pauvres; confie tes richesses au Christ vainqueur.. -
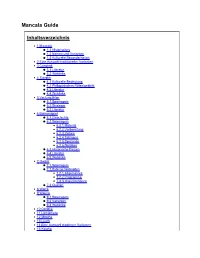
Mancala Guide
Mancala Guide Inhaltsverzeichnis 1 Mancala 1.1 Historisches 1.2 Namen und Varianten 1.3 Kulturelle Besonderheiten 2 Eine Auswahl traditioneller Varianten 3 Congkak 3.1 Literatur 3.2 Weblinks 4 Sungka 4.1 Kulturelle Bedeutung 4.2 Philippinisches Rätselgedicht 4.3 Literatur 4.4 Weblinks 5 Vai lung thlan 5.1 Spielregeln 5.2 Strategie 5.3 Literatur 6 Bohnenspiel 6.1 Geschichte 6.2 Spielregeln 6.2.1 Material 6.2.2 Vorbereitung 6.2.3 Ziehen 6.2.4 Schlagen 6.2.5 Spielende 6.2.6 Notation 6.3 Historische Partien 6.4 Literatur 6.5 Weblinks 7 Oware 7.1 Spielregeln 7.2 Externe Webseiten 7.2.1 Allgemeines 7.2.2 Programme 7.2.3 Organisationen 7.3 Quellen 8 Warra 9 Waurie 9.1 Spielregeln 9.2 Varianten 9.3 Weblinks 10 Obridjie 11 Lamlameta 12 Mbothe 13 Luuth 14 Eine Auswahl moderner Varianten 15 Kalaha 15.1 Geschichte 15.2 Regeln 15.2.1 Material 15.2.2 Vorbereitung 15.2.3 Ziel 15.2.4 Spielprinzip 15.2.5 Bonus-Zug 15.2.6 Fangen 15.2.7 Spielende 15.2.8 Varianten 15.3 Literatur 15.4 Weblinks 16 Cross-Kalah 17 Cups 18 Kauri 19 Afrika 20 Progessive Mancala 21 Gulek 22 Esiema 23 Myra 24 Micro-Wari 25 Nano-Wari 26 Weblinks 26.1 Mehrere Varianten 26.2 Einzelne Varianten 1 Mancala JugantAUnJocDeMancala.jpg Mancala (von arabisch naqalah, "bewegen") ist der wissenschaftliche Oberbegriff für bestimmte Spiele, die, meist von zwei Personen, vor allem in Afrika und Asien gespielt werden. -

La Matematica Nel Mancala
La Matematica nel Mancala Maurizio Paolini & Alessandro Musesti Universit`aCattolica del Sacro Cuore Maurizio Paolini & Alessandro Musesti - Universit`aCattolica Mancala tradizionali africaniI 1 Alemungula (Etiopia), 2x5, 50 2 Andada (Eritrea), da 2x12 a 2x24, 2 per buca 3 Anywoli (Etiopia e Sudan), 2x12, 96 4 Aweet (Sudan) 4x10, 64 5 Ayoayo (Nigeria), 2x6, 48 6 Ba-awa (Ghana) 2x6, 48 sinonimi: Jrin-jrin, Nam-nam, Round-and-round 7 Bao (Tanzania, Malawi) 4x8, 64 sinonimi: Bawo 8 Bao Kiarabu (Zanzibar) 4x8, 64 9 Coro (Uganda) 4x8, 64 10 El Arnab (Sudan) 2x3 con granai, 10 11 Endodoi (Tanzania, Kenya), 2xN, M 12 En geh´e(Tanzania), 2x40-50, 320-400 Maurizio Paolini & Alessandro Musesti - Universit`aCattolica Mancala tradizionali africaniII 13 Enkeshui (Tanzania, Kenya) 2x8, 2x10 o 2x12, 48 14 Giuthi (Kenya) 2x8, 96 15 Hus (Namibia) 4x8, 48 16 Igisoro (Ruanda) 4x8, 64 17 Isolo (Tanzania) 4x8, 64 sinonimi: Isumbi 18 Katro (Madagascar), 6x6, 72 19 Kiela (Angola), 10x4, 56 20 Kiothi (Kenya), 2x10, 60 21 Kisolo (Congo RD, Zimbabwe) 4x7, 36 sinonimi: Chisolo 22 Krur (Nigeria, Mauritania, Marocco, Algeria, Senegal, Mali, Niger) 2x4, 32 23 Kombe (Kenya) 4x8, 64 24 Lamlameta (Etiopia), 2x12, 24 25 Latho (Etiopia), 2x6, 30 Maurizio Paolini & Alessandro Musesti - Universit`aCattolica Mancala tradizionali africani III 26 Layli Goobalay (Somaliland) 2x6, 48 27 Lukho (Kenya), 2x8, 48 28 Mbelele (Congo RD) 29 Mbothe (Kenya) 2x10, 40 30 Mefuvha (Sudafrica) 4xN, M 31 Moruba (Sudafrica) 4xN, M 32 Mongale (Kenya) 4x8, 68 33 Mongola (Congo RD) 4x7, 56 34 Nsa Isong (Nigeria) 2x6 35 Omweso (Uganda) 4x8, 64 sinonimi: Mweso 36 Oware Grand Slam (v. -

Juden Raus!” (Jews Out!): History’S Most Infamous Board Game 47
Board Game Studies 6/ 2003 CNWS PUBLICATIONS Board Game Studies CNWS PUBLICATIONS is produced by the Research School of Asian, African, and Amerindian Studies (CNWS), Universiteit Leiden, The Netherlands. Editorial board: M. Baud, R.A.H.D. Effert, M. Forrer, F. Hüsken, K. Jongeling, H. Maier, P. Silva, B. Walraven. All correspondence should be addressed to: Dr. W.J. Vogelsang, editor in chief CNWS Publications, c/o Research School CNWS, Leiden University, PO Box 9515, 2300 RA Leiden, The Netherlands. Tel. +31 (0)71 5272987/5272171 Fax. +31 (0)71 5272939 E-mail: [email protected] Board Game Studies, Vol. 6. International Journal for the Study of Board Games - Leiden 2003: Research School of Asian, African, and Amerindian Studies (CNWS). ISSN 1566-1962 - (CNWS publications, ISSN 0925-3084) ISBN 00000000000000 Subject heading: Board games. Board Game Studies: Internet: http://boardgamesstudies.org Cover photograph: Manfred Zollinger Typeset by Cymbalum, Paris (France) Cover design: Arnoud Bernhard © Copyright 2003, Research School CNWS, Leiden University, The Netherlands Copyright reserved. Subject to the exceptions provided for by law, no part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other way without the written consent of the copyright-holder(s); the same applies to whole or partial adaptations. The publisher retains the sole right to collect from third parties fees in respect of copying and/or take legal or other action for this purpose. Board Game International Journal for the Study of Board Games c n w s Studies 2003/6 Editorial Board Affiliations Thierry Depaulis (FRA) The following affiliated institutes Vernon Eagle (USA) underwrite the efforts of this journal and Irving Finkel (UK) actively exhibit board games material, Ulrich Schädler (CH) publish or financially support board Alex de Voogt (NL, Managing Editor) games research. -
Oases of Oman Livelihood Systems at the Crossroads
Oases of Oman livelihood systems at the crossroads ANDREAS BUERKERT & EVA SCHLECHT oases of oman livelihood systems at the crossroads AL ROYA PRESS & PUBLISHING HOUSE MUSCAT Kindly sponsored by And with the support of The Historical Association of Oman PB 1 Al Roya Press & Publishing House P. O. Box 343, Postal Code 118, Al Harthy Complex, Muscat, Sultanate of Oman Tel: (968) 24 47 98 81/882/883/884/885/886/887/888, Fax: (968) 24 47 98 89 E-mail: [email protected] www.alroya.net © Compilation: Andreas Buerkert and Eva Schlecht © Individual texts: Named authors Publisher: Hatim Al Taie Editors: Andreas Buerkert and Eva Schlecht In-house Editor: Helen Kirkbride Design & Production: Dhian Chand Printed by: Modern Colour Printers Tel: (00968) 24563876 / 24562276 First Published: January 2010 ISBN : 978-9948-15-510--2 Note: Data and literature complementing the information collected in this book can be accessed on the internet at: http://www.oases-of-oman.org 2 3 contents Foreword 4 Introduction 5 Authors & Acknowledgements 6 Chapter 1 8 Integrated Livelihood Systems and Cultural Heritage by Andreas Buerkert and Eva Schlecht Chapter 2 14 From Balloons to Remotely Controlled Model Planes: Use of High-Resolution Aerial Photography to Document the Status Quo of Omani Oases by Andreas Buerkert and Wolfgang Schaeper Chapter 3 16 From Hunter-Gatherer Communities to Oasis Cultures: Climate Change and Human Adaptation on the Oman Peninsula by Jutta Häser, Eike Luedeling, Eva Schlecht and Andreas Buerkert Chapter 4 22 Plant Genetic Resources in -
The Discovery of Mancala Games in Dhofar, Sultanate of Oman Vincent Charpentier, Alex De Voogt, Rémy Crassard, Jean‑François Berger, Federico Borgi, Ali Al-Mashani
Games on the seashore of Salalah: the discovery of mancala games in Dhofar, Sultanate of Oman Vincent Charpentier, Alex de Voogt, Rémy Crassard, Jean‑françois Berger, Federico Borgi, Ali Al-Mashani To cite this version: Vincent Charpentier, Alex de Voogt, Rémy Crassard, Jean‑françois Berger, Federico Borgi, et al.. Games on the seashore of Salalah: the discovery of mancala games in Dhofar, Sultanate of Oman. Arabian Archaeology and Epigraphy, Wiley, 2014, 25 (1), pp.115-120. 10.1111/aae.12040. hal- 01828888 HAL Id: hal-01828888 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01828888 Submitted on 4 Jul 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Arab. arch. epig. 2014: 25: 115–120 (2014) Printed in Singapore. All rights reserved Games on the seashore of Salalah: the discovery of mancala games in Dhofar, Sultanate of Oman During the 2013 fieldwork of the French archaeological mission along the shores of Vincent Charpentier1 the Arabian Sea, mancala games were discovered on the seashore of Salalah at the site Alex de Voogt2,Remy of Ad-Dahariz. They are cup-hole carvings made directly into rock slabs and distrib- Crassard3, Jean-Francßois uted in six distinct zones of the site. -

1 Limites E Potencialidades Do Uso Dos Mankalas Na
1 LIMITES E POTENCIALIDADES DO USO DOS MANKALAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E NAS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR 1 Celso José dos Santos 2 RESUMO O advento da Lei 10639/03, que modificou a LDBEN (Lei 9394/96) e estabeleceu a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no Currículo Escolar da Educação Básica, impôs a necessidade de uma profunda reflexão sobre os limites e potencialidades de cumprimento dessa legislação no Ensino de Matemática. A Etnomatemática, a Afroetnomatemática e os Jogos Matemáticos Africanos são utilizados como fundamentos teóricos para promover a Educação das Relações Étnico-Raciais no ambiente escolar. Este artigo dialoga com essas reflexões, apresentando a “Família Mankala” como um instrumento didático-metodológico, e curricular, capaz de revelar e valorizar a participação africana na formação do pensamento matemático. Serão descritos o BAO e o OURI, como exemplos de Mankalas passíveis de utilização na prática escolar. Na conclusão serão apresentadas reflexões de professores de matemática da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná sobre as idéias apresentadas nesse material, obtidas durante a etapa de intervenção na realidade escolar do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), e considerações acerca dos limites e potencialidades da utilização dos jogos Mankalas na Educação Matemática. PALAVRAS-CHAVE : Lei 10639/03 . Jogos Matemáticos . Etnomatemática . Mankala. Relações Étnico-Raciais . 1 Artigo orientado pelo Prof. Dr. Doherty Andrade, do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá. [email protected] 2 Professor de Matemática da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná, Colégio Estadual Sílvio Vidal – EFM, Paranavaí-PR. Professor PDE, Turma 2007, Especialista em Matemática. -

Jogos Africanos E a Educação Matemática: Semeando Com a Família Mancala
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CELSO JOSÉ DOS SANTOS JOGOS AFRICANOS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: SEMEANDO COM A FAMÍLIA MANCALA MARINGÁ 2008 CELSO JOSÉ DOS SANTOS JOGOS AFRICANOS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: SEMEANDO COM A FAMÍLIA MANCALA Material Didático elaborado como parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da Educação coordenado pela Universidade Estadual do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Doherty Andrade Co-orientedora: Profa. Ms. Tânia Marli Rocha Garcia MARINGÁ 2008 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 05 2 A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO COM O PROCESSO HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO ............ 06 3 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA NO CURRÍCULO ESCOLAR ..................... 09 4 OS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO MATEMÁTICO .. 10 5 ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DOS JOGOS DE MANCALA ... 13 6 CONHECENDO TABULEIROS DE MANCALAS.............................................. 16 7 FORMATO E REGRAS DE JOGOS DE MANCALAS SELECIONADOS ..... 19 8 PROPOSTAS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS COM OS JOGOS DE MANCALA ................................................................................................. 20 8.1 CONFECÇÃO DO TABULEIRO DE MANCALA DO TIPO 2X6 (UTILIZADO NO KALAH, AYO, E OUTROS) ........................................... -

Volume Ii Volume
Versão Online ISBN 978-85-8015-038-4 Cadernos PDE VOLUME II VOLUME O PROFESSOR PDE E OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE Produção Didático-Pedagógica 2007 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CELSO JOSÉ DOS SANTOS JOGOS AFRICANOS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: SEMEANDO COM A FAMÍLIA MANCALA MARINGÁ 2008 CELSO JOSÉ DOS SANTOS JOGOS AFRICANOS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: SEMEANDO COM A FAMÍLIA MANCALA Material Didático elaborado como parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da Educação coordenado pela Universidade Estadual do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Doherty Andrade Co-orientedora: Profa. Ms. Tânia Marli Rocha Garcia MARINGÁ 2008 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 05 2 A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO COM O PROCESSO HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO ............ 06 3 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA NO CURRÍCULO ESCOLAR ..................... 09 4 OS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO MATEMÁTICO .. 10 5 ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DOS JOGOS DE MANCALA ... 13 6 CONHECENDO TABULEIROS DE MANCALAS.............................................. 16 7 FORMATO E REGRAS DE JOGOS DE MANCALAS SELECIONADOS ..... 19 8 PROPOSTAS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS COM OS JOGOS DE MANCALA ................................................................................................