A China E Macau Na Obra De Wenceslau De Moraes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
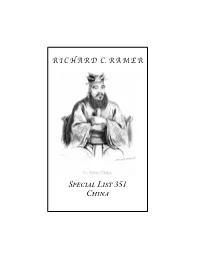
Special List 351 1
special list 351 1 RICHARD C.RAMER Special List 351 China 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 October 21, 2019 Special List 351 China Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 351 3 Special List 351 China *1. ALDEN, Dauril, assisted by James S. Cummins and Michael Cooper. Charles R. Boxer, an Uncommon Life: Soldier, Historian, Teacher, Collector, Traveller. Lisbon: Fundação Oriente, 2001. Sm. folio (27.9 x 21.2 cm.), original illustrated wrappers. As new. 616 pp., (1 blank l., 1 l.), 10 ll. illus., printed on both sides, illus. in text. ISBN: 972-785-023-5. $72.00 FIRST and ONLY EDITION. Excellent biography of this exemplary individual by a distinguished historian. Hero of a Pastoral Poem Travels to Goa, Japan, China, Southeast Asia, and Ethiopia 2. ALVARES DO ORIENTE, Fernão d’. Lusitania transformada composta por … dirigida ao Illustrissimo e mui excellente Senhor D. Miguel de Menezes, Marquez de Villa Real, Conde de Alcoutim e de Valença, Senhor de Almeida, Capitão Mór e Governador de Ceita [sic]. Impressa em Lisboa por Luiz Estupiñan anno de 1607, e agora reimpressa, e revista com hum indice da sua lingoagem por hum Socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa. -

Portugal E O Japão, Acaba De Publicar Um Livro Sobre O Assunto Desta Influência, Kirishitan Yogashi Josetsu (Estudo Sobre a História Da Pintura Cristã)
© Reservados todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. © All rights reserved. CAPÍTULO PRIMEIRO O CAMINHO DO OCIDENTE O desembarque dos primeiros Portugueses no Japão deu-se em 1542 ou 1543. C. R. Boxer, no seu último livro, The Christian Century in Japan, dá como certo o desembarque de 1543 na ilha de Tanegashima; se alguma viagem se realizou antes, crê teria levado às ilhas Riukiu1. Não são ao certo conhecidos os nomes dos primeiros Portugueses que aportaram no Japão. António Galvão, no seu Tratado, diz que foram António da Mota, Francisco Zeimoto e António Peixoto, levados por uma tempestade. Diogo do Couto recebeu esta versão, que vários outros historiadores, antigos e modernos, aceitaram. Outros escritores nomeiam Cristóvão Borralho, Diogo Zeimoto e o imaginoso e aventureiro Fernão Mendes Pinto, que se gaba de figurar entre os descobridores do Japão. Boxer prova no seu livro que nos anos da descoberta ele não podia lá estar. Até hoje não foram encontrados documentos nem argumentos para esclarecer decididamente a questão2. Os Portugueses foram mais bem recebidos no Japão do que na China. É comummente atribuído o êxito dos primeiros contactos com os Japoneses à introdução da espingarda, que os Nipónicos, sendo um povo tradicionalmente guerreiro, admiraram muito. A penetração no Japão foi feita pelos jesuítas e pelos negociantes. Em 1549, S. Francisco Xavier desembarcou em Kagoshima, ficando no Japão até 1551. Em cerca de dois anos conseguiu converter ao cristianismo nas cidades de Kagoshima, Hirado e Yamaguchi à volta de 800 pessoas. O número de cristãos foi aumentando, pois novos jesuítas foram enviados pelo vice-rei da Índia, e logo em 1558, por causa dos zelos e dos conflitos com os padres budistas, surgiram as primeiras 1 C. -

Redalyc.Japanese Legendsand Wenceslau De Morae
Bulletin of Portuguese - Japanese Studies ISSN: 0874-8438 [email protected] Universidade Nova de Lisboa Portugal Chaves, Anabela Japanese legendsand Wenceslau de Morae Bulletin of Portuguese - Japanese Studies, núm. 9, december, 2004, pp. 9-41 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36100902 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative BPJS, 2004, 9, 9-41 Japanese legends and Wenceslau de Moraes 9 JAPANESE LEGENDS AND WENCESLAU DE MORAES Anabela Chaves 1. Wenceslau de Moraes’ vision of Japan Predicting that European civilisation had entered a period of decadence, Wenceslau de Moraes felt that the European way of life had lost its funda- mental sense of life and soul. Therefore, he decided to abandon everything and go see if the Oriental way of life was better suited to resolve the prin- cipal problem of happiness. In Japan, he came into contact with religions, philosophies and arts in general that viewed problems of life and death, the individual and the universe in new and more mature terms. The impact generated by this discovery of the Other, i.e. the Japanese people, with an entire system of singular values that were radically different led to an exaggerated valorisation of these elements, when contrasted with those he knew prior to this. His contemplation of everything that was differ- ent and fascinating, on account of being inaccessible, resulted in a constant attempt to delight in the Other as a supreme experience in relation to all other possible experiences. -

Parts of Asia
Two Portuguese in Japan: Essays on Japanese Culture from Joao Rodrigues Tguzzu, S .J. to Wenceslau de Moraes K. David Jackson Abstract: A comparison of essays on Japanese culture from the first period of Portuguese missionary activity, represented by Joao Rodrigues (in Japan 1577-1610), and from the period of exoticism and aestheticism of the late nineteenth century in Wenceslau de Moraes (in Japan 1895-1929). Includes a survey of scholarship on the Portuguese in Japan and descriptions of the tea ceremony by Rodrigues and Moraes, with English translations. Of the Westerners in Japan who lived there for long periods, devoted much of their attention and interest to its culture and wrote extensively, whether as history or essay, on Japanese cultural rituals, two of the most interesting are the Portuguese missionary Joao Rodrigues, in Japan from 1577 until 1610, and the consul and aesthete Wenceslau de Moraes, in Japan from 1895 until his death in 1929, thirty-three and thirty-four years in Japan, respectively. Although their arrivals in Japan were separated by more than 300 years, the devotion of each to Japanese cultural ceremonies and the detailed descriptions they penned allow the contemporary reader to contemplate a rare comparison over the centuries. Each writer-traveler’s exposition of Japanese cultural traits and practices—the observation of detail, knowledge of purpose and mean- Poruguese Literary & Cultural Studies 17/18 (2010): 405-29. © University of Massachusetts Dartmouth. 406 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 17/18 ing, familiarity with use of objects, and awareness of cultural difference in their depictions—does more than achieve its aim of communicating Japanese culture to the Portuguese; indeed, it exemplifies ways of being in a radically different culture, behaviors and mentalities that enhance and challenge the writer’s home culture and language, in the context of their different times. -

Osaka University Knowledge Archive : OUKA
Através do olhar do ‘outro’ : Uma breve Title comparação entre os discursos diplomáticos britânico e lusitano sobre o Japão no período fi nal da era Meiji (1890-1912) Author(s) Dezem, Rogério Akiti Citation 言語文化研究. 40 P.193-P.211 Issue Date 2014-03-31 Text Version publisher URL https://doi.org/10.18910/27620 DOI 10.18910/27620 rights Note Osaka University Knowledge Archive : OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/ Osaka University Através do olhar do ‘outro’: Uma breve comparação entre os discursos diplomáticos britânico e lusitano sobre o Japão no período fi nal da era Meiji (1890-1912) 193 Através do olhar do ‘outro’: Uma breve comparação entre os discursos diplomáticos britânico e lusitano sobre o Japão no período fi nal da era Meiji (1890-1912) Rogério Akiti DEZEM 要旨:本稿の目的は、19-20 世紀の世紀転換期における日本に関するイギリス人とポルトガル 人のディスクール(言説)を簡潔に比較検討することにある。当時、イギリスとポルトガルは、 歴史上、正反対の時期にあり、そのため、外交官にせよ、文学者にせよ、日本に関する両者の ディスクールには相異が生じた。本稿では、筆者は、イギリス人の外交官アーネスト・メイソ ン・サトウ (1843-1929)、日本学者バジル・ホール・チェンバレン (1850-1935)、およびポル トガルの外交官・作家ヴェンセスラウ・デ・モラエス (1854-1929) の目を通して見た日本の近 代化に焦点を当て、考察を加えた。 Abstract: The purpose of this article is to present a brief comparison of the British and Portuguese discourses about Japan in the 19th-20th transition. During this period which England and Portugal were experiencing opposite historical moments which produced different diplomatic views about Japan. We will be focusing on the analyses of the Japanese modernization from the view of British scholars and diplomats such as Ernest Mason Satow (1843-1929) and Basil Hall Chamberlain (1850-1935) and from the Portuguese perspective guided by the writer and diplomat Venceslau de Morais (1854-1929). -

Redalyc.In Memoriam Jorge Dias (1932
Bulletin of Portuguese - Japanese Studies ISSN: 0874-8438 [email protected] Universidade Nova de Lisboa Portugal Ikunori, Sumida In memoriam Jorge Dias (1932 - 2002). In memory of a 20th Century Japanologist Bulletin of Portuguese - Japanese Studies, núm. 4, june, 2002, pp. 155 - 161 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36100408 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative BPJS, 2002, 4, 155 - 161 IN MEMORIAM JORGE DIAS (1932 - 2002) In memory of a 20th Century Japanologist Sumida Ikunori1 Kyoto University of Foreign Studies We have recently lost a great friend and colleague, Professor Jorge Dias, who lived in Japan for 28 years, from 1972 to 2000, where he was Lecturer at the University of Foreign Studies, in Kyoto. He was much appreciated by both his students as well as his colleagues for his didactic and pedagogical talents as well as for his many human qualities. I cherish many memories of those early days in which I first got to know Prof. Jorge Dias, when I was a still a post graduate student, in 1972. At that time, Professor Dias lived in a house built in the traditional Japanese architectural style, close to our University, along with his wife, Helena, also a professor, and their daughter Sylvia. Despite the fact that I had studied in Brazil for some time, even I acquired the accent of European Portuguese! In fact, my acquaintanceship with Professor Jorge Dias’ family was to have a very strong influence upon my future academic life. -

Castro, J. F. P. (2017). Wenceslau De Morães: Acculturation Between Ideals and Life Experiences
Castro, J. F. P. (2017). Wenceslau de Morães: acculturation between ideals and life experiences. Religacion, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 4, (In press). Wenceslau de Morães: acculturation between ideals and life experiences Wenceslau de Morães: Cultural fusion between maintenance and change Abstract Acculturation is often a complex and contradictory phenomenon. The Morães’s work and life reported it. At individual level, Morães reported a fusionist life during nationalist and colonialist times. However, at social level and on his books he preferred a reduced cultural relationship among Japan and Westerns, in order to maintain the Japanese culture. The Morães’s contradictions are connected to social dominance, even because the reduced Japanese behavior regarding other cultures drove in fact to violent relationships. The Morães’s attitude also reported the current limits of the multicultural model, because contact led to changes, and not only to cultural maintenance. It unveiled also the limits of assimilation, because Japan imitated, but maintained its culture. The contradictions reported that the dilemma about cultural contact and change was unsolved, and the current article did not provide a major solution for aggressive relationships. However, the article stated that Europeans should be placed and reported on the position of who is learning a second culture in order to build a common Global History. Morães reported to learn a second culture and, at the same time, he reported a precarious balance between change and maintenance. Furthermore, Morães’s life and books remind readers that acculturation (learning) creates culture by fusion. Keywords: acculturation, fusion, multicultural, Wenceslau de Morães, assimilation. 1 Wenceslau de Morães: fusão cultural entre manutenção e mudança Resumo: A aculturação é, muitas vezes, um fenómeno complexo e contraditório. -

Special List 353: Japan
special list 353 1 RICHARD C.RAMER Special List 353 Japan 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 November 12, 2019 Special List 353 Japan Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 353 3 Special List 353 Japan Japanese Finances ca. 1868-1932 1. ANDRÉADÈS, Andreas Michael. Les finances de l’Empire japonais et leur évolution. Paris: Librairie Félix Alcan, 1932. Les Questions du Temps Présent. 8°, original lime-green printed wrappers (light soiling, spine faded). Browned, but not brittle. In good condition. viii, 203 pp., tables in text. $30.00 FIRST and ONLY EDITION. Covers the finances of the Shogunate leading up to the Revolution of 1868, and then through early 1932. ❊ Not in Kyoto, Nipponalia. *2. BOCARRO, Antonio. Decada 13 da historia da India …. 2 volumes. Lisbon: Academia Real das Sciencias, 1876. Large 4° (28.5 x 22.5 cm.), original printed wrappers. Occasional light foxing. Overall in fine con- dition. xxiii, 374 pp., (1 blank l.); viii pp., [377]-805 pp., (1 l. errata). 2 volumes. $600.00 FIRST EDITION. “It is needless to stress the value of Bocarro’s work for Oriental- ists and historians of European expansion in Asia,” wrote Boxer in “Three Historians of Portuguese Asia” (p. -

Special List 326 1
special list 326 1 RICHARD C.RAMER Special List 326 Voyages & Travels 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 March 18, 2019 Special List 326 Voyages & Travels Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 326 3 Special List 326 Voyages & Travels Prussian Royal Excursion to Brazil, Madeira, Tenerife, Mt. Aetna, the Alhambra, Gibraltar, and Cádiz 1. ADALBERT, Prince of Prussia. Reise Seiner Koniglichen Hoheit Prinzen Adalbert von Preussen nach Brasilien. Nach dem Tagebuche Seiner Koniglichen Hoheit mit Hochster Genehmigung auszuglich bearbeitet und herausgegeben. Berlin: Hasselberg’sche Verlagshandlung, 1857. 8°, contemporary dark green cloth (very minor wear), spine richly gilt in a romantic design. Fraktur type. Small piece cut from upper corners of half-title and front flyleaf, presumably removing a former owner’s signature. Slight marginal foxing on portrait. Otherwise attractive. Overall very good condition. Library stamp on title-page. Small armorial blindstamp on half title. “2. Sep. 1930” stamped in violet ink in upper outer corner of rear free endleaf verso. Small rectangular black on white printed paper ticket of “C.A. Heinrich // Buchbinder und // Galanteriearbeiter // GOERLITZ.” in lower outer corner of rear pastedown endleaf. Portrait, (2 ll.), 749 pp., (1 l.). $800.00 First edition of this adaptation. -
Rui André De Macedo Fernandes Wenceslau De Moraes
Rui André de Macedo Fernandes Wenceslau de Moraes O contexto histórico e reflexões sobre a vida, a obra e o orientalismo Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Ciências Militares Navais, na especialidade de Marinha Alfeite 2020 Rui André de Macedo Fernandes Wenceslau de Moraes O contexto histórico e reflexões sobre a vida, a obra e o orientalismo Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Ciências Militares Navais, na especialidade de Marinha Orientação de: António Costa Canas Co-orientação de: Alexandre Manuel Ribeiro Cartaxo O Aluno Mestrando, O Orientador, Rui Fernandes António Costa Canas Alfeite 2020 “A sabedoria não reside na fixação nem na mudança, mas na dialética entre os dois. Um constante ir e vir: a sabedoria reside no momentâneo.” Octavio Paz, O macaco gramático III A conclusão deste estudo, e eventualmente, qualquer tipo de sucesso que venha a ter, representa o resultado de um apoio constante dos meus mais próximos. Dedico este trabalho à minha família, à minha Maria e ao meu camarada Fonseca. V Agradecimentos Defendo a ideia de que os militares portugueses têm um papel preponderante na preservação e estudo da História de Portugal. Nesse aspeto, tive o privilégio de conviver e trabalhar com um dos militares que incansavelmente contribui para esse papel e brilhantemente orienta os militares mais jovens nesse sentido. Deixo o meu sincero agradecimento ao meu orientador, capitão-de-mar-e-guerra António Costa Canas. Do mesmo modo, agradeço ao capitão-de-mar-e-guerra Alexandre Manuel Ribeiro Cartaxo pelo precioso auxílio que prestou na qualidade de co-orientador. VII Resumo Wenceslau José de Sousa Moraes nasceu a 30 de maio de 1854 e faleceu a 1 de julho de 1929. -

Redalyc.Japan in the Works of Pierre Loti and Wenceslau De Moraes
Bulletin of Portuguese - Japanese Studies ISSN: 0874-8438 [email protected] Universidade Nova de Lisboa Portugal Vital, Natália Japan in the works of Pierre Loti and Wenceslau de Moraes Bulletin of Portuguese - Japanese Studies, núm. 9, december, 2004, pp. 43-73 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36100903 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative BPJS, 2004,Japan 9, in 43-73 the Works of Pierre Loti and Wenceslau de Moraes 43 JAPAN IN THE WORKS OF PIERRE LOTI AND WENCESLAU DE MORAES Natália Vital 1. Japan: place of passage or chosen homeland (biobibliographical elements) Pierre Loti, whose real name was Julien Viaud, born in 1850 in Roche- fort-sur-Mer, and Wenceslau de Moraes, born in Lisbon in 1854, were two aficionados of exoticism and two authors whose works are so intimately intertwined with their respective lives that it is almost impossible to separate fiction from autobiography. The French writer, a navy officer, embodied, both in his eyes as well as in the eyes of his readers, the ideal of an adventurer who travelled the world (Tahiti, Senegal, Turkey, Britain, Japan, Morocco, the Basque Country, India, Egypt) without ever settling in any single place. His most well known works are exotic novels in which the author/narrator/protagonist, Loti, is an improved version of Julien Viaud, who experiences numerous amorous adventures, all of which are doomed to fail on account of the ever present idea of an inevitable departure. -
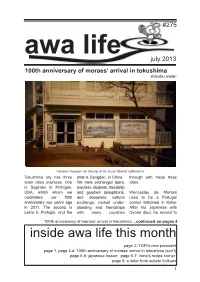
Inside Awa Life This Month
#275 july 2013 shinobu watari moraes' museum on the top of mt. bizan (bernd luehmann) Tokushima city has three third is Dangdon, in China. through with these three sister cities overseas. One We have exchanged talent, cities. is Saginaw in Michigan, teachers, students, friendship USA, which whom we and goodwill delegations, Wenceslau de Moraes celebrated our 50th and deepened cultural used to be a Portugal anniversary two years ago exchange, mutual under- consul stationed in Kobe. in 2011, The second is standing and friendships After his Japanese wife Leiria in Portugal, and the with many countries Oyone died, he moved to 100th anniversary of moraes’ arrival in tokushima inside awa life this month page 2: TOPIA new president page 1, page 3-4: 100th anniversary of moraes’ arrival in tokushima (con't) page 5-6: japanese lesson; page 6-7: irene's recipe corner page 8: a letter from suketo hoikuen 1 is a monthly publication of the Tokushima Prefectural International Exchange Association (TOPIA) Clement Plaza 6F 1-61 Terashima Honcho Nishi Tokushima City 770-0831 JAPAN Emma Boardman & Martin Rathmann tel: 088.656.3303 fax: 088.652.0616 Shinobu Watari, Bernd Luehmann, Kyoko [email protected] Kamura, Irene Wachuga, Kazue Inoue http://www.topia.ne.jp/ Download a PDF file of awa life or view the online version by going to TOPIA's website! TOPIA new president: katsuyoshi ebisuda My name is Katsuyoshi Ebisuda and it has come to be that I am the new president of the Tokushima Prefectural International Exchange Association (TOPIA). I am of the belief that however different our languages and cultures may be, and no matter how frustrating communication can sometimes seem, that on a grander scale we are all fellow human beings and as such we all share the same emotions.