A Bola Ensanguentada Dos Generais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

REVISTA AL PRESIDENTE Argentina´S Rivals E-Mail: [email protected] CLAUDIO TAPIA PREDIO JULIO HUMBERTO GRONDONA Interview – President Claudio Tapia Autopista Tte
3 COMITÉ EJECUTIVO ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO AFA Executive Committee PRESIDENTE President TESORERO Treasurer Sr. / Mr. Claudio Fabián Tapia Sr. / Mr. Alejandro Miguel Nadur (Presidente / President at Club Barracas Central) (Presidente / President at Club A. Huracán) VICEPRESIDENTE 1° vicepresident 1° PROTESORERO Protreasurer Dr. Daniel Angelici Sr. / Mr. Daniel Osvaldo Degano (Presidente / President at Club A. Boca Juniors) (Vicepresidente / Vicepresident at Club A. Los Andes) VICEPRESIDENTE 2° vicepresident 2° VOCALES Vocals Sr. / Mr. Hugo Antonio Moyano Dr. Raúl Mario Broglia (Presidente / President at Club A. Independiente) (Presidente / President at Club A. Rosario Central) Dr. Pascual Caiella VICEPRESIDENTE 3° vicepresident 3° (Presidente / President at Club Estudiantes de La Plata) Sr. / Mr. Guillermo Eduardo Raed Sr. / Mr. Nicolás Russo (Presidente / President at Club A. Mitre - Santiago del Estero) (Presidente / President at Club A. Lanús) Sr. / Mr. Francisco Javier Marín SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA (Vicepresidente / Vicepresident at Club A. Acassuso) Executive Secretary to Presidency Sr. / Mr. Adrián Javier Zaffaroni Sr. / Mr. Pablo Ariel Toviggino (Presidente / President at Club S. D. Justo José Urquiza) Dra. María Sylvia Jiménez SECRETARIO GENERAL (Presidente / President at Club San Lorenzo de Alem - Catamarca) Sr. / Mr. Víctor Blanco Rodríguez Sr. / Mr. Alberto Guillermo Beacon (Presidente / President at Racing Club) (Presidente / President at Liga Rionegrina de Fútbol) PROSECRETARIO Sr. / Mr. Marcelo Rodolfo Achile (Presidente / President at Club Defensores de Belgrano) MIEMBROS SUPLENTES Alternate Members SUPLENTE 1 Alternate 1 SUPLENTE 4 Alternate 4 SUPLENTE 7 Alternate 7 Dr. José Eduardo Manzur A designar Sr. / Mr. Dante Walter Majori (Presidente / President at Club D. Godoy To be designed (Presidente / President at Club S. -

Mundo Vinotinto: Pasado, Presente Y Futuro De La Selección Nacional De Fútbol De Venezuela
Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Comunicación Social MUNDO VINOTINTO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE VENEZUELA Trabajo Especial de Grado al título de Licenciado en Comunicación Social Autor Francisco Ríos C.I. 19.885.137 Tutor Prof. Luis Emilio Delgado Hernández C.I. 6.524.881 Caracas, julio 2019 1 AGRADECIMIENTOS El primer agradecimiento siempre será a Dios y a la Virgen del Valle. A todos mis abuelos, quienes no pueden estar de forma física en la presentación de este trabajo ni en el acto de grado, pero siempre sentí su compañía en cada día, en los buenos y los no tan buenos. A la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, por permitirme estudiar una segunda carrera bajo su manto y tutela. Le agradeceré toda la vida a este recinto por albergarme durante más de diez años en sus pasillos y escuelas. Hoy digo con un orgullo profundo y entrañable, que soy doblemente ucevista. A mis padres, quienes me dieron todo su apoyo cuando les comuniqué que estudiaría una segunda carrera y que esa profesión sería comunicación social. Gracias por ayudarme a cumplir mi sueño. Sufrieron mis desveladas, sacrificios y mi estrés. Nunca claudicaron, siempre estuvieron conmigo y me apoyaron cuando nadie pensaba que podía con dos carreras. Hoy, les regalo un segundo título y les prometo que seguiré trabajando de la misma manera para que se sigan orgulleciendo del periodista que tienen por hijo. Al profesor Luis Delgado, más que un tutor ha sido un amigo y compañero. -

La Influencia Del Narcotráfico En La Nacionalización Delfútbol Colombiano De 1982 a 1996
LA INFLUENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN LA NACIONALIZACIÓN DELFÚTBOL COLOMBIANO DE 1982 A 1996 MARIO ALEXANDER VELÁSQUEZ TOLOZA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS ESCUELA DE HISTORIA BUCARAMANGA 2013 LA INFLUENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN LA NACIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL COLOMBIANO DE 1982 A 1996 MARIO ALEXANDER VELÁSQUEZ TOLOZA Trabajo realizado para optar al Título de Historiador. Director: WILLIAM BUENDÍA ACEVEDO UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS ESCUELA DE HISTORIA BUCARAMANGA 2013 3 4 DEDICATORIA A mi padre, por haberme aportado sus cuadernos de fútbol. A mi madre, por su constante apoyo en este camino. A mi esposa, pues ella siempre me motivó a terminar el presente trabajo. “Porque la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenece primariamente y por sí misma, no por accidente” (aristóteles, física 192b, 20). 5 AGRADECIMIENTOS El autor expresa sus agradecimientos a: En primera instancia a mi padre, pues gracias al aporte de sus cuadernos de fútbol, pude obtener una parte importante de la fuente primaria empleada en este trabajo. Gracias a él también conseguí revistas como El Grafico de Argentina, Los Mundiales de Fútbol y el Mundial 82, entre otras, las cuales fueron fundamentales para llevar a cabo mi investigación. A mi madre, y a mi esposa por haberme apoyado en los momentos difíciles, motivándome a seguir adelante ante las situaciones de adversidad. Al profesor William Buendía, pues él conoció de mi investigación desde cuando cursaba la materia de Estadística y fue él quien me aconsejo la manera de realizar la base de datos con los cuadernos de mi papá, además de las múltiples correcciones que le hicimos a este trabajo para que saliera de una forma adecuada. -
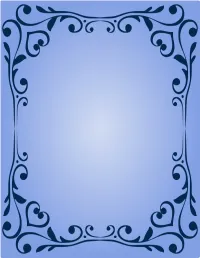
Boca-River.Pdf
Boca-River, historias de una pasión Luciano Wernicke 2013 Introducción: Pasión. No existe un vocablo más apropiado para definir el Superclásico. Boca Juniors y River Plate son los protagonistas del desafío futbolero más trascendente de la Argentina y del espectáculo deportivo más electrizante del mundo. La ferviente convocatoria de estos dos equipos ha trascendido las fronteras y ha trepado al Olimpo de los grandes shows. En Inglaterra se asegura que no hay que morir sin gozar, al menos una vez en la vida, de un Superclásico en la Bombonera o el Monumental. Boca-River, River-Boca. Se aman, se odian, se necesitan. No hay Superclásico sin uno de ellos. No hay fiesta si no están cara a cara. Los fanáticos xeneizes celebraron la máxima desgracia de sus primos pero, puertas adentro, a la hora del balance, debieron conceder que el título boquense de esa temporada no fue del todo legítimo: sin cruzarse con River en esa senda ganadora, el triunfo tuvo otro sabor. En 2013, los dos clubes más grandes de Argentina celebraron el centenario del Superclásico. 1913-2013, un siglo de fútbol, de gloria, de fanatismo. Historias de Boca 1) Nucazo El 29 de septiembre de 1996 se disputó un Superclásico apasionante que tuvo un final insólito. El duelo, que tuvo como escenario la Bombonera, había arrancado a favor de la escuadra xeneize, con un tanto de Roberto Pompei a los 5 minutos. River no se quedó e igualó a los 21 gracias al eficiente atacante chileno Marcelo Salas. En la segunda mitad, el uruguayo Gabriel Cedrés volvió a adelantar a Boca con un tiro penal, y diez minutos más tarde Juan Pablo Sorín consiguió un nuevo empate que parecía definitivo. -

La Stampa Olandese Elogia Kempes E Lancia Accuse Contro Gonella Di
l'Unità / martedì 27 giugno 1978 sport PAG. 13 Le reazioni dopo la conquista del « Mundial » da parte dell'Argentina Solo il PCI avanza sulle regionali precedenti (Dalld prima pagina) mentre ì ri-ultat demoor-tia ferina/ictio dello liste locali. senza tener conto del tatto ni e -ocialisti non sono rat' relegando ni -oc ondo pia-io die il POI ha migliorato le van/a dal 35.5 delle comuna frontali li in quanto una -cru il s.gnilic.it o politico deizli sue posizioni. Non molto di li di due anni fa al 3*ì.'J '<, spostamenti di voti che han verso il giudizio del segre di «-ci-sioni nei due p./ iti no coinvolto 1 partiti nazio tario liberale Zanone one perdendo invece sulle (KJIIIÌ ila mutato !a i,'eoj»rafia elet nali cerca di accreditare .. in -i La stampa olandese elogia Kempes che ani li'o--e de! '7<i. (jil.in torale liehiìlii'it'nto (/alenile (tei ;>' r Illuni.nani. ; Kiud /: a quo do aveva rae.munto la mai:- sto piopa-ito torniti.a:ì da! titi tiuilmonttli > o v'iie 'h'Ui Uioran/a as-olutu. Fonie due .-vocalista Aldo An.a.-i. da! de l'unico .successo del PL1 IH 1 punti la DC\ sulle comunali: I primi Bernardo d'Arezzo o dal uoe- connine di Santina e pentono 0.5 punti i soc il rale Valer.o Zanixie Per so Piu attento nel giudi.' o -.1 «-ti A Santina fWreellii il stenere infa'ti la te-i di una secretano del PSDI P.er Lin- commenti «rt-'ieiale flessione . -

Historias SELECCIONADAS Historias Curiosidades Del Equipo De Todos Seleccionadas Guillermo Enrique Knoll
TapaFinalSeleccion 17/03/06 16:04 Page 1 al arco Ediciones Guillermo Knoll Guillermo Knoll historias SELECCIONADAS historias Curiosidades del equipo de todos seleccionADAS Guillermo Enrique Knoll Nació el 11 de febrero de Curiosidades 1959 en la Ciudad de Buenos Aires. Es Periodista del equipo y Docente del Círculo de la Prensa. Integró la redacción de todos de la recordada revista Sólo Fútbol y, junto con Pablo Ramírez, participó en la confección de la historia de All Boys. En radio trabajó con Roberto Perfumo en historias seleccionadas “Perfumo, el fútbol y la gente” (radio Splendid); en “La Deportiva” (radio del Plata); en “Mundo Ascenso” (La Red); y en “La vuelta”, con Ovidio Martínez (FM Identidad), entre otros. Guillermo Knoll “Historias Seleccionadas” es su primer libro. Diseño Federico Sosa Impreso en MPS, marzo de 2006. Fecha de catalogación 14-03-2006 Knoll, Guillermo Historias Seleccionadas. 1° ed. Buenos Aires: Al Arco, 2006. 96 p. 20x14 cm. ISBN 987-22257-3-7 1. Fútbol. I. Título CDD 796 Guillermo Knoll Historias SELECCIONADAS Curiosidades del equipo de todos dedicatoria A Nancy, quien con su apoyo incondicional siempre estuvo a mi lado, en las buenas y en las malas. A Jesi y a Brian, quienes a pesar de su juventud siem- pre entendieron mi pasión por el periodismo. A mis viejos, los primeros “hinchas” de este periodista. A la memoria de mi suegra, quien alguna vez, antes de dejarnos, me presagió un futuro como comunicador. 5 agradecimientos A Alejandro Fabbri y Ariel Scher, por confiar en el proyecto y recomendarlo a la editorial. A Roberto Perfumo, quien prácticamente sin cono- cerme me permitió compartir su programa radial y así darme mi primera gran oportunidad en los medios. -

Communique 9
The Football Association’s International Newsletter Issue Nine Communiqué Communiqué Issue Nine Shoulder to CONMEBOL President Dr Nicolás Leoz, • CONMEBOL Co-operation Programme gets under way FA Chairman Geoff Thompson, and • Training elite referees in the CONCACAF region shoulder with President of the Paraguay • Sponsoring the library in Botswana’s new HQ FA Oscar Harrison at the launch of • Goodwill initiative with Turkish FA football as a two recent workshops which • Ecuador, Malaysia and the USA welcome FA speakers inaugurated the FA-CONMEBOL • Latest from Michael Moriarty, The FA’s man in Kabul power for good Co-operation Programme. • Developments at Wembley with WNSL CEO Michael Cunnah CONMEBOL Workshops launch FA-CONMEBOL Over 70 coaches, technical directors, managers and senior administrators from the ten South American football federations made up a distinguished audience at the first two FA-CONMEBOL workshops, held in Paraguay in September. The FA delegation was treated to a fine Paraguayan welcome as riders on horseback and dancers in traditional dress provided a positive note on which to conduct the proceedings. The FA delegation is welcomed at Dr Leoz’s home outside Asunción winning team of FC manager Graham Taylor. Player 1978. They were development, international football addressed by strategies, team building and coach Delegates consider issues raised at the Robin Russell, The education were all on the agenda. Strategic Planning Workshop for Coaches FA’s Technical Co- ordinator and Concurrently, The FA’s Senior Sponsorship -

Pesadilla.Pdf
Pesadilla Retratos de un fútbol en crisis Grosso, Cristian Pesadilla : retratos de un fútbol en crisis / Cristian Grosso ; Fernando Pacini. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Alarco Ediciones, 2016. 128 p. ; 20 x 14 cm. ISBN 978-987-1367-65-8 1. Fútbol. I. Pacini, Fernando II. Título CDD A863 Ediciones Al Arco: www.librosalarco.com.ar e-mail: [email protected] Diseño de tapa e interior: Ana Paoletti. e-mail: [email protected] Ilustración de tapa: Sebastián Domenech Twitter: @domenechs Instagram: @domenechs_art Para Franco, que desde su llegada le dio razón a todo, y Gabriela, la dulce inspiración. A Dalia y Aníbal, la incondicionalidad del corazón. A los amigos de allá, de acá y a mi familia rosarina. A Javier Zanetti, dueño de una sensibilidad a prueba del estrellato. A Gabriel Heinze, el villano favorito para imaginar un fútbol más sano. A Eduardo Urtasun y Gabriel Wainer, porque obligan a discutir con argumentos. A la memoria de Raúl Lamas, un auténtico caballero. Por sus manos y su corazón pasaron en los últimos 20 años todos los cracks argentinos. A Marcelo Bielsa, Diego Simeone, Gerardo Martino y José Pekerman, un póquer tan variado que me obligó a mirar más allá de lo evidente. Cristian Grosso | 5 | Para mi maravillosa Julia. A mi familia y a mis amigos. A Adrián Paenza. Él también hace rato que es familia. A Santi Segurola. Cuando sea grande quisera ser como él. A César Menotti, a Marcelo Bielsa, a Gerardo Martino, y en ellos, a todos los entrenadores que me ayudaron a pensar mejor el fútbol. -

Fútbol Y Dictadura: Analysing the Effects of the 1978 World Cup on Argentinian Internal Politics and Its Representation in the Italian and Spanish Media
Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Contemporary History Fútbol y Dictadura: Analysing the effects of the 1978 World Cup on Argentinian internal politics and its representation in the Italian and Spanish media PROF. CHRISTIAN BLASBERG ANTONIO CEFALÙ (ID: 081562) SUPERVISOR CANDIDATE Academic Year 2018/2019 Table of contents 1. Introduction 3 1.1 Literature Review 6 2. The 1978 World Cup and the dictatorship 9 2.1 Hosting a World Cup: the long road to the Mundial 10 2.2 Victory, Torture and Doubts 15 2.3 Nationalism and the anti-Argentina campaign 20 2.4 Conclusions: has the dictatorship politically benefitted from the World Cup? 24 3. Two views from overseas: An analysis of Corriere della Sera and El País’ approaches to reporting the World Cup 27 3.1 “Videla passes, Argentina stays”: Corriere della Sera and its “benevolent” commentaries 28 - The P2 Lodge and the Italo-Argentinian relations - Corriere della Sera and P2 - Analysing Corriere della Sera - A necessary comparison: La Repubblica and its denunciations to the regime 3.2 El País: Completeness of information before personal opinions 40 - Analysing El País: The period preceding the World Cup - Analysing El País: kick-off 3.3 Conclusions: the multiple faces of newsmaking 47 4. Conclusions 51 Bibliography 54 Abstract (in Italian) 59 2 1. Introduction In 1978, Argentina was living one of the darkest times in its history. While, during the daytime, Generals of the Armed Forces were sitting in the Casa Rosada administering the State, in the night, innumerable Ford Falcons patrolled all the corners of the country in the hunt for la subversión. -

75 a MANERA DE PROLOGO La Escuela Nacional De Entrenadores
75 A MANERA DE PROLOGO La Escuela Nacional de Entrenadores, por decisión de su Director, envió al Campeonato del Mundo de Fútbol celebrado en Alemania del 13 de junio al 7 de julio de 1.974, a cuatro de sus miembros (Don Eduardo Toba, Don Miguel Munoz, Don José Santamaría y Don Eusebio Martín), con el fin de presenciar dicha competición y emitir el oportuno informe que sería trasladado posteriormente a las Escuelas regionales y a los propios Entrenadores. Mi misión, que en principio era de coordinador, su frió una alteración como consecuencia de la renuncia de Don José Iglesias (otro de los designados) al que su Club negó el oportuno permiso. Es por ello que, manteniendo mi punto de residencia en Frankfurt, tuve que realizar constantes desplazamientos para poder cumplir esta misión y parte de la que en principio le corres pondía al Sr. Iglesias. Los desplazamientos me llevaron a Berlín, Dussel dorf, Gelsenkirchen, Dortmund, Stuttgart y Munich donde, combinan do los horarios de trenes, pude presenciar un total de 14 parti dos en directo, de los que cuatro lo fueron en dos días, a dos par tidos por día. Dichos partidos fueron los siguientes: 14.6 ALEMANIA F. - CHILE 13.6 BRASIL - YUGOSLAVIA 15.6 POLONIA - ARGENTINA 18.6 ESCOCIA - BRASIL 19.6 HOLANDA - SUECIA 22.6 ESCOCIA - YUGOSLAVIA 23.6 POLONIA - ITALIA 26.6 HOLANDA - ARGENTINA 26.6 YUGOSLAVIA - ALEMANIA F. 30.6 ALEMANIA D. - HOLANDA 30.6 ALEMANIA F. - SUECIA 3.7 POLONIA - ALEMANIA F. 6.7 BRASIL - POLONIA 7.7 HOLANDA - ALEMANIA F. El resto de los partidos los vi por TV., u tos y otros en diferido, en el Centro de Prensa situado en el Ho tel Intercontinental de Frankfurt o en el Hotel Hessischer Hof en el que me alojaba. -

Lautaro Ya Sabe Celebrar La Política Juega Entre Barcelona Por Duplicado Con Inter Y Real Madrid Mauricio Sassone Y Julian Romero Lautaro Mourin
El Bicho, en la El Globo se quedó punta Argentinos con el clásico El le ganó al Rojo y árbitro denunció a Beccacece está en los dirigentes. la cornisa. Publicación de distribución gratuita - www.elequipo-deportea.com "Nuestro fútbol se construye #3 desde otro editada por los lado" alumnos de Deportea Las bases de la Liga femenina profesional de la boca de sus oct. 21 protagonistas. 2019 SUPERCLÁSICO La definición Boca y River se enfrentan por un puesto en la final de la Libertadores el martes a las 21.30 en La Bombonera. El equipo de Gallardo tiene dos goles de ventaja. PAG.2 oct. 21 2019 LA SEMANA l LA SEMANA l LA SEMANA l LA SEMANA l LA SEMANA l LA SEMANA l LA SEMANA l LA SEMANA l LA GallaRDO GImnasIA - UNIÓN 3 13 El verdugo La cuarta derrota de Maradona TEVEZ FÚTBOL FEMENINO 4 17 Todo o nada Separemos las aguas ENTREVIsta A ASTRADA MUNDIal DE RUGBY 5 22 El DT de la eliminación del 2004 Reino Unido vs Hemisferio Sur San LORENZO - HURACÁN MPU 11 24 Al Tribunal de Disciplina Roja a TyC LO BUENO LO MALO NAIM Chamorro NAHUEL NEGRETI Carballo arios jugadores chilenos mostraron, en sus redes so- l tenista argentino Diego Schwartzman denunció ciales, su apoyo al pueblo y el repudio a la represión amenazas deun usuario en Instagram tras perder en V ordenada por el presidente Sebastián Piñera, que E la primera ronda del ATP 250 de Ambereres ante el decretó el estado de emergencia y toque de queda, ante las rumano Marius Copil, por 6-4, 5-7 y 7-6 (7),y pidió la protestas por el aumento en la tarifa del subte. -

Informe Anual Dto. De Relaciones Internacionales
INFORME ANUAL DTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES 2020 RESUMEN DEL REGISTRO MENSUAL DE ACTIVIDADES AÑO 2020 A lo largo del año 2020, el “Departamento de Relaciones Internacionales de Racing Club de Avellaneda”, ha desarrollado una serie de actividades en el marco del fomento, desarrollo y proyección, a nivel internacional, del Club, tanto sea en material social, comercial, deportiva, cultural y solidaria, con el objeto de alcanzar un posicionamiento a nivel global, que facilite y estimule el adecuado relacionamiento de Racing Club con Instituciones sociales, deportivas, oficiales y gubernamentales, así como también con empresas privadas, corporaciones, y personas aficionadas y allegadas al deporte en general radicadas en el exterior de Argentina. El reporte de actividades para el Año 2020 constituye una síntesis ejecutiva mensual de las principales tareas y acciones ejecutadas, de modo de propiciar un registro de las mismas, pero que también, a su vez, siente las bases de un trabajo serio y comprometido de cara al año 2021, apuntando a posicionar a la Institución en los estándares de vinculación Internacional adecuado a los tiempos que corren. En un año tan especial como el 2020, las gestiones del Departamento se han visto afectadas y adecuadas a la situación de pandemia, que ha no solamente resultado en gestiones sociales y humanitarias, sino que también en un sinnúmero de reuniones que se han mantenido via redes sociales (las más destacadas serán incluídas en el presente resúmen). RESUMEN DEL REGISTRO MENSUAL DE ACTIVIDADES AÑO 2020 ENERO CUMPLEAÑOS CLUBES: CUMPLEAÑOS JUGADORES, EX JUGADORES, DT’S: EVERTON RACING CLUB DE LENS SOLARI CRUZEIRO RUBEN O. CAPRIA S.S.