Uma Estratégia Intermunicipal De Equipamentos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Queijo Serra Da Estrela’
C 127/10EN Official Journal of the European Union 8.6.2007 COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2007/C 127/06) This publication confers the right to object to the amendment application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 (1). Statements of objections must reach the Commission within six months from the date of this publication. AMENDMENT APPLICATION COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 Amendment application pursuant to Article 9 and Article 17(2) ‘QUEIJO SERRA DA ESTRELA’ EC No: PT/PDO/117/0213/16.05.2002 PDO ( X ) PGI ( ) Amendment(s) requested Heading(s) in the specification: Name of product X Description of product Geographical area Proof of origin X Method of production Link X Labelling National requirements Amendment(s): Description of product: Since time immemorial, production of Queijo Serra da Estrela has followed one of two patterns: cheese for immediate consumption, usually referred to as Serra da Estrela, and cheese to be consumed over a period, the Queijo Serra da Estrela Velho. The latter is identical to the former as regards the breeds from which the milk is obtained, the way in which the animals are fed and reared, the milk produced and transported, the cheese manufactured, etc; the only difference concerns ripening, which requires more time. Serra da Estrela Velho cheese clearly presents different sensorial characteristics, being smaller, darker and having a sharper taste and aroma than the Serra da Estrela. -
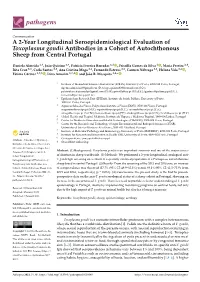
A 2-Year Longitudinal Seroepidemiological Evaluation of Toxoplasma Gondii Antibodies in a Cohort of Autochthonous Sheep from Central Portugal
pathogens Communication A 2-Year Longitudinal Seroepidemiological Evaluation of Toxoplasma gondii Antibodies in a Cohort of Autochthonous Sheep from Central Portugal Daniela Almeida 1,†, João Quirino 1,†, Patrícia Ferreira Barradas 1,2 , Priscilla Gomes da Silva 1 , Maria Pereira 3,4, Rita Cruz 3,5, Carla Santos 3,5, Ana Cristina Mega 3,6, Fernando Esteves 3,5, Carmen Nóbrega 3,6, Helena Vala 3,6 , Fátima Gärtner 1,7,8 , Irina Amorim 1,7,8 and João R. Mesquita 1,2,* 1 Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar (ICBAS), University of Porto, 4050-313 Porto, Portugal; [email protected] (D.A.); [email protected] (J.Q.); [email protected] (P.F.B.); [email protected] (P.G.d.S.); [email protected] (F.G.); [email protected] (I.A.) 2 Epidemiology Research Unit (EPIUnit), Instituto de Saúde Pública, University of Porto, 4050-091 Porto, Portugal 3 Agrarian School of Viseu, Polytechnic Institute of Viseu (ESAV), 3500-606 Viseu, Portugal; [email protected] (M.P.); [email protected] (R.C.); [email protected] (C.S.); [email protected] (A.C.M.); [email protected] (F.E.); [email protected] (C.N.); [email protected] (H.V.) 4 Global Health and Tropical Medicine, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 1349-008 Lisboa, Portugal 5 Centre for Studies in Education and Health Technologies (CI&DETS), 3500-606 Viseu, Portugal 6 Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB), University of Trás-os-Montes e Alto Douro, 5001-801 Vila Real, Portugal 7 Institute of Molecular Pathology and Immunology, University of Porto (IPATIMUP), 4099-002 Porto, Portugal 8 Institute for Research and Innovation in Health (i3S), University of Porto, 4099-002 Porto, Portugal * Correspondence: [email protected] Citation: Almeida, D.; Quirino, J.; † Shared first authorship. -

Departamento De História, Artes E Humanidades Mestrado Em História, Arqueologia E Património Universidade Autónoma De Lisboa “Luis De Camões”
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, ARTES E HUMANIDADES MESTRADO EM HISTÓRIA, ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA “LUIS DE CAMÕES” Centro Interpretativo e Roteiro Arqueológico para o concelho de Trancoso: Época Clássica e Idade Média Dissertação para obtenção do grau de Mestre em História, Arqueologia e Património Autora: Maria de Fátima Barreiros da Silva Franco Orientador: Professor Doutor Adolfo da Silveira Martins Coorientadora: Professora Doutora Alexandra Águeda de Figueiredo Número da candidata: 20151164 Setembro de 2019 Lisboa Dedicatória Dedico este trabalho ao meu marido, meus filhos e aos meus netos. 1 Agradecimentos À Universidade Autónoma de Lisboa que aceitou a realização deste mestrado. À Associação de Proteção da Natureza do Concelho de Trancoso pelo apoio prestado. À Dra. Maria do Céu Ferreira, responsável pelo gabinete de arqueologia da Câmara Municipal de Trancoso, pelo precioso apoio na cedência de bibliografia. À junta de Freguesia de Cótimos, em particular ao Sr. Presidente Eugénio Manuel Xavier Ferreira, que se disponibilizou para prestar toda a informação sobre o Centro Interpretativo de Cogula. Ao meu orientador, Prof.º. Doutor Adolfo Silveira Martins que aceitou acompanhar e orientar-me neste processo de crescimento. À minha coorientadora, Prof.ª Doutora Alexandra Águeda Figueiredo, pela disponibilidade e compreensão. Ao meu marido, devo um agradecimento muito especial, pela enorme paciência, interesse e disponibilidade com que me acompanhou nesta jornada, sem o seu apoio não teria atingido o objetivo final. A todos muito obrigada. 2 Resumo Este trabalho centra-se numa proposta de criação de um Centro Interpretativo e de um Roteiro Arqueológico no concelho de Trancoso, direcionados para a valorização, preservação e sustentabilidade do património cultural, nomeadamente do património arqueológico. -

Guarda Aguiar Da Beira Aguiar Da Beira Agregação União Das Freguesias De Aguiar Da Beira E Coruche
Reorganização Administrativa do Território das Freguesias - (RATF) Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro - Reorganização Administrativa do Território das Freguesias; Declaração de Retificação n.º 19/2013, de 28 de março; Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro - Reorganização Administrativa de Lisboa Distrito Concelho Freguesia (JF) Informação adicional Alteração RATF Freguesia criada/alterada pela RATF Informação adicional Guarda Aguiar da Beira Aguiar da Beira Agregação União das freguesias de Aguiar da Beira e Coruche Guarda Aguiar da Beira Carapito Sem alteração Guarda Aguiar da Beira Cortiçada Sem alteração Guarda Aguiar da Beira Coruche Agregação União das freguesias de Aguiar da Beira e Coruche Guarda Aguiar da Beira Dornelas Sem alteração Guarda Aguiar da Beira Eirado Sem alteração Guarda Aguiar da Beira Forninhos Sem alteração Guarda Aguiar da Beira Gradiz Agregação União das freguesias de Sequeiros e Gradiz Guarda Aguiar da Beira Pena Verde Sem alteração Guarda Aguiar da Beira Pinheiro Sem alteração Guarda Aguiar da Beira Sequeiros Agregação União das freguesias de Sequeiros e Gradiz Guarda Aguiar da Beira Souto de Aguiar da Beira Agregação União das freguesias de Souto de Aguiar da Beira e Valverde Guarda Aguiar da Beira Valverde Agregação União das freguesias de Souto de Aguiar da Beira e Valverde União das freguesias de Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Guarda Almeida Ade Agregação Mesquitela Guarda Almeida Aldeia Nova Agregação União das freguesias de Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova Guarda Almeida Almeida Sem alteração Guarda -

Celorico Da Beira Na 'Época Moderna
Época Moderna 1 93 CELORICO DA BEIRA NA 'ÉPOCA MODERNA Margarida Sobral Neto Professóra da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra Investigadora do Centro de História da Sociedade e da Cultura O TERRITÓRIO E OS PODERES A cidade de Celorico é actualmente sede de um concelho, constituído pelas freguesias de Santa Maria e S. Pedro (integradas no núcleo urbano), situando-se no termo as de Açores, Baraçal, Cadafaz, Carrapichana, Casas do Soeiro, Cortiçô da Serra, Fornotelheiro, Lajeosa do Mondego, Unhares, Maçal do Chão, Mesquitela, Minhoca!, Prados, Rapa, Ratoeira, Salgueirais, Vale de Azares, Velosa, Vide de Entre Vinhas e Vila Boa do Mondego. A configuração administrativa do município de Celorico data do século XIX, período em que o poder central, sediado em Lisboa, operou uma profunda reorganização administrativa do país. Esta mudança traduziu-se na reconfiguração do mapa concelhio, através da redução de dois terços dos municípios, e na sua integração em distritos, instância intermédia entre o poder central e o poder local. O território actual do concelho de Celorico é, assim, fruto da agregação numa única administrativa de seis concelhos que gozavam, na época moderna, do estatuto de vila: as vilas de Açores, Baraçal, Celorico, Fornotelheiro, Unhares e Mesquitela. Na paisagem arquitectónica destas localidades sobre~ivem alguns dos espaços de exercício do poder local e símbolos do poder concelhio, caso das casas da câmara e da misericórdia de Celorico da Beira e Unhares ou dos pelourinhos de Açores, Baraçal, Fornotelheiro, Unhares e Mesquitela. 94 1 Margarida Sobral Neto Fig. 1 - Símbolos do poder concelhio em Unhares da Beira De notar, no entanto, que a esmagadora maioria das Sobral da Serra, Soutinho, Souto Moninho, Tiracáo, Velosa, freguesias do concelho de Celorico já o integravam antes Vide de Entre as Vinhas e Vila Cortês e as quintas: dos Alhais, das reformas administrativas liberais. -

PDM De Manteigas Revisão
PDM de Manteigas Revisão Estudos de Base Volume II Sistema Sócio Económico Junho 2009 REVISÃO DO PDM DE MANTEIGAS ESTUDOS DE BASE VOLUME II – Sistema Socioeconómico Junho de 2009 Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. II 1 035.04.PDM.EP.MD.II_C.doc Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. II 2 035.04.PDM.EP.MD.II_C.doc “(...) Chamamos pois cidadão de uma cidade àquele que possui a faculdade de intervir nas funções deliberativa e judicial da mesma, e cidade geral ao número total destes cidadãos, bastante para as necessidades da vida.” In “Aristóteles, Política, Livro III, Cap. I Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. II 3 035.04.PDM.EP.MD.II_C.doc Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. II 4 035.04.PDM.EP.MD.II_C.doc INDICE GERAL 1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 10 2. ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO E TERRITORIAL .............................................. 10 2.1 Enquadramento Administrativo................................................................................................................... 10 2.2 Enquadramento territorial ........................................................................................................................... 12 3. ESTRUTURA POPULACIONAL......................................................................................... 12 3.1 Evolução da População Residente ............................................................................................................ -

Serra Da Estrela Cheese
The production and processing of sheep's milk in Portugal : Serra da Estrela cheese Barbosa M. in Bougler J. (ed.), Tisserand J.-L. (ed.). Les petits ruminants et leurs productions laitières dans la région méditerranéenne Montpellier : CIHEAM Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 12 1990 pages 97-102 Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI910174 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- To cite this article / Pour citer cet article -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barbosa M. The production and processing of sheep's milk in Portugal : Serra da Estrela cheese. In : Bougler J. (ed.), Tisserand J.-L. (ed.). Les petits ruminants et leurs productions laitières dans la région méditerranéenne. Montpellier : CIHEAM, 1990. p. 97-102 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 12) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ciheam.org/ http://om.ciheam.org/ CIHEAM -

Flyer Do Tribunal Da Comarca Da Guarda
COMPETÊNCIA TERRITORIAL MAPA JUDICIÁRIO COMARCA DE GUARDA MORADAS Sede: Guarda Guarda Secções da Guarda 23 COMARCAS Instância Central - Secção Cível e Secção Criminal Instância Central: Tribunal da Relação competente: Coimbra Instância Local - Secção Cível e Secção Criminal Secção Cível e Secção Criminal - distrito da Guarda; O território nacional divide-se em 23 comarcas. Ministério Público - Procuradoria Área de competência territorial: Municípios de Aguiar Rua Coronel Arlindo de Carvalho | 6301-855 Guarda Secção do Trabalho - distrito da Guarda. Em cada comarca existe um Tribunal Judicial Instância Local - Secção Cível e Secção Criminal – municípios da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Instância Central - Secção do Trabalho Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Ministério Público - Procuradoria de Guarda, Manteigas e Sabugal. de 1.ª Instância, designado pelo nome da comarca onde se encontra instalado. Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova Av. Coronel Arlindo de Carvalho, Edifício CRSS | 6301-855 Guarda de Foz Côa. Secção de Almeida Almeida Instância Local - Secção de Competência Genérica – A Comarca da Guarda passa a dispor de uma rede de serviços Instância Local - Secção de Competência Genérica Ministério Público - Procuradoria município de Almeida. judiciais, de nível diferenciado, desdobrada em Instâncias Praça da Liberdade | 6350-130 Almeida Centrais e Instâncias Locais. Secção de Celorico da Beira Celorico da Beira Instância Local - Secção de Competência Genérica – TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA Instância Local - Secção de Competência Genérica Ministério Público - Procuradoria município de Celorico da Beira. Praça da República | 6360-306 Celorico da Beira Secção de Figueira de Castelo Rodrigo GUARDA Figueira de Castelo Rodrigo Instância Local - Secção de Competência Genérica – Instância Local - Secção de Competência Genérica município de Figueira de Castelo Rodrigo. -

2009-1 Celorico Da Beira.Pdf
Celorico da Beira Através da História FICHA TÉCNICA TÍTULO Celorico da Beira através da História COORDENADORES António Carlos Marques / Pedro C. Carvalho AUTORES Raquel Vilaça, Pedro C. Carvalho, Catarina Tente Maria Helena da Cruz Coelho, Margarida Neto João Paulo Avelãs Nunes FOTOGRAFIAS António Marques / João Lobão Catarina Tente Danilo Pavone (n.º fotos …) Marco Pitt DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA Fernanda Sousa José Luís Madeira (n.º figuras …) Sara Almeida (…) CAPA TIRAGEM Marco Pitt 1000 Exemplares DESIGN GRÁFICO E PAGINAÇÃO IMPRESSÃO E ACABAMENTO Marco Pitt (…) EDIÇÃO ISBN Câmara Municipal de Celorico da Beira (…) COLABORAÇÃO DEPÓSITO LEGAL Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (…) Celorico da Beira Através da História Índice Geral APRESENTAÇÃO PRÉ E PROTO HISTÓRIA Celorico antes dos Romanos - Raquel Vilaça ÉPOCA ROMANA Há 2000 anos em Celorico da Beira - Pedro C. Carvalho (Entre as encostas da Estrela e o vale do Mondego no tempo dos Romanos) ALTA IDADE MÉDIA Dos “Bárbaros” ao Reino de Porugal - Catarina Tente O território de Celorico da Beira nos séculos V a XII BAIXA IDADE MÉDIA Celorico Medieval - Cristina Pimenta / Helena Cruz Coelho Um cruzamento de Homens e Bens na Paz e na Guerra ÉPOCA MODERNA Celorico da Beira na Época Moderna - Margarida Sobral Neto ÉPOCA CONTEMPORÂNEA Celorico da Beira e a História Contemporânea de Portugal - João Paulo Avelãs Nunes Apresentação É com enorme prazer que o Município de Celorico da Beira apresenta um novo estudo sobre a História da vila e do seu termo. Esta edição, de cariz histórico, tem como objectivo principal dar a conhecer a todos os Celoricenses as suas raízes e sua história. -

O E-Government No Distrito Da Guarda
O E-GOVERNMENT NO DISTRITO DA GUARDA Ascensão Braga ([email protected]) Instituto Politécnico da Guarda Departamento de Gestão Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50-6300-559 Guarda Maria Manuela dos Santos Natário ([email protected]) Instituto Politécnico da Guarda Departamento de Ciências Sociais e Humanas Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50-6300-559 Guarda RESUMO A Sociedade da Informação é já uma realidade e tem desencadeado um conjunto de transformações estruturais, económicas, sociais e culturais graças à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação. Estas têm fortes repercussões no potencial de desenvolvimento dos países e das suas regiões. Desde a presidência portuguesa da União Europeia (2000) que têm sido desenvolvidas as iniciativas e-Europe com intuito de fomentar a Sociedade da Informação no sector público, no sector privado e nos cidadãos, quer através de estratégias de mobilização da procura para novos serviços quer pela expansão da oferta de infra-estruturas e equipamentos de acesso. Neste contexto, as autarquias e o poder local têm de seguir as tendências gerais desta evolução intensificando a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, quer a nível interno quer na prestação de serviços. Assim, pretende-se com este trabalho analisar de que forma a Administração Pública local do distrito da Guarda (em particular as Câmaras Municipais) está a lidar com as Tecnologias de Informação e Comunicação na sua relação com os cidadãos e na implantação do e-Government. PALAVRAS CHAVE: Sociedade da Informação, Administração Local, e- Government 1- Introdução Actualmente, quer queiramos quer não, todos estamos envolvidos na Sociedade da Informação (SI) e desde que nos levantamos até que nos deitamos somos afectados directa ou indirectamente pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o que acontece em casa, no trabalho, no lazer, independentemente do local geográfico onde nos situamos, uma vez que perante esta nova realidade as distâncias geográficas já não fazem sentido. -

PMEPC De Celorico Da Beira
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL DE CELORICO DA BEIRA PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO Janeiro|2012 Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Celorico da Beira Parte I – Enquadramento geral do plano Câmara Municipal de Celorico da Beira Data: 27 de Janeiro de 2012 Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Celorico da Beira Equipa técnica EQUIPA TÉCNICA CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA Direcção do projecto José Francisco Gomes Monteiro (Eng.) Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira José Luis Saúde Cabral (Dr.) Vice-Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira Coordenação Teresa Cardoso Lic. Eng. Florestal (ISA-UTL) Equipa técnica Teresa Cardoso Lic. Eng. Florestal (ISA-UTL) Marisa Silva Lic. Geografia (FLUC) AMCB - Associação de Municípios Cova da Beira Direcção e Coordenação do Projecto Carlos Santos Lic Economia (ULHT) Equipa técnica Lic. Eng. Ordenamento de Recursos Naturais e Ambiente Jorge Antunes (ESACB-IPCB) Lic. Geografia – Área de Especialização em Estudos Ambientais Márcio Gomes (UC) Parte I - Enquadramento geral do plano Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Celorico da Beira Equipa técnica METACORTEX, S.A. Direcção técnica Lic. Eng. Florestal (ISA-UTL); Mestre em Recursos Naturais (ISA-UTL) José Sousa Uva [cédula profissional n.º 38804] Gestora de projecto Marlene Marques Lic. Eng. Florestal (ISA-UTL); Mestre em Georrecursos (IST-UTL) Co-gestor de projecto Tiago Pereira da Silva Lic. Eng. Florestal (ISA-UTL) Equipa técnica Marlene Marques Lic. Eng. Florestal (ISA-UTL); Mestre em Georrecursos (IST-UTL) Tiago Pereira da Silva Lic. Eng. Florestal (ISA-UTL) Paula Amaral Lic. -
O Risco De Incêndio Florestal E a Prática Da Pastorícia Em 4 Concelhos Da Serra Da Estrela: Tentativa De Correlação
territorium 7. 2000 O risco de incêndio florestal e a prática da pastorícia em 4 concelhos da Serra da Estrela: tentativa de correlação Adélia Nunes * Resumo: Neste artigo relaciona-se o risco de incêndio florestal com a prática da pastorícia em 4 concelhos da região demarcada do queijo da Serra da Estrela- Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia e Seia- com base na análise estatística dos fogos florestais que aí se verificaram ao longo dos últimos 19 anos. Palavras chave: Risco de incêndio florestal, Serra da Estrela. Résumé: Dans cet article I'auteur met en relation le risque d'incendie de fôret avec Ia pratique du pâturage en 4 départements de la région démarquée du fromage de la Serra da Estrela - Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia et Sei a - ayant pour base I' analyse statistique des feux de fôret locaux tout au Iong des dernieres 19 années. Mots clés: Risque d'incendie de fôret, Serra da Estrela. Abstract: The aim of this article is the study of possible relations between forest fire hazards and pasture practices in 4 counties of the demarcated region of the Serra da Estrela cheese- Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia e Seia- based on statistical analysis of the last 19 years fores! fires registered there. Key words: Forest fire hazards, Serra da Estrela. 1. Introdução florestal. Torna-se imprescindível um estudo sistemático desse risco o que implica aperceber-se, Portugal é anualmente flagelado por inúmeros registar e medir, tanto quanto possível, as estreitas fogos que, a um ritmo preocupante, conduzem à relações entre causas, factores e efeitos que, com destruição de vastas manchas florestais.