Intermidialidade E Sentido Entre Dom Casmurro E Capitu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Machado De Assis E a Tradição Dos Comediantes Estoicos1
Machado de Assis em linha, Rio de Janeiro. v. 6, n. 12, p. 138-153, dezembro 2013 MACHADO DE ASSIS E A TRADIÇÃO DOS COMEDIANTES ESTOICOS1 Daniela Soares Portela UEMG / Iel-Unicamp / CNPq Frutal, MG / Campinas, SP, Brasil Resumo: Hugh Kenner (2011) considera que Flaubert seria a matriz dos escritores considerados como "comediantes estoicos", seguido por Joyce e Beckett. Esse termo definiria aqueles escritores que percebem a literatura como um sistema fechado de signos, em que as 26 letras do alfabeto e suas possibilidades comutativas, assim como os lugares adequados dos diversos atos de falas a situações específicas de comunicação, são os recursos que permitem ao escritor a criação de uma técnica que diferencia as possibilidades da comunicação escrita das práticas de oitiva. Ao seguir essa tradição, Machado de Assis desqualifica toda uma herança literária, rompe com a ilusão do projeto de totalidade da estética realista queirosiana e denuncia o aspecto arbitrário do signo linguístico e toda a matéria empírica representada por ele. Palavras-chave: iconografia; oitiva; fragmentação; materialidade do suporte. Machado de Assis and the tradition of the Stoic comedians Abstract: Hugh Kenner (2011) believes that Flaubert would be the chief writer in the group of "Stoic comedians", followed by Joyce and Beckett. This term defined those writers who deemed literature to be a closed system of signs, in which the 26 letters of the alphabet and their commutative possibilities, as well as the appropriate places of different acts of speech in specific situations within communication, are the resources that enable the writer to create a technique that distinguishes the possibilities of written communication from the spoken word. -

Actors and Accents in Shakespearean Performances in Brazil: an Incipient National Theater1
Scripta Uniandrade, v. 15, n. 3 (2017) Revista da Pós-Graduação em Letras – UNIANDRADE Curitiba, Paraná, Brasil ACTORS AND ACCENTS IN SHAKESPEAREAN PERFORMANCES IN BRAZIL: AN INCIPIENT NATIONAL THEATER1 DRA. LIANA DE CAMARGO LEÃO Universidade Federal do Paraná (UFPR) Curitiba, Paraná, Brasil ([email protected]) DRA. MAIL MARQUES DE AZEVEDO Centro Universitário Campos de Andrade, UNIANDRADE Curitiba, Paraná, Brasil. ([email protected]) ABSTRACT: The main objective of this work is to sketch a concise panorama of Shakespearean performances in Brazil and their influence on an incipient Brazilian theater. After a historical preamble about the initial prevailing French tradition, it concentrates on the role of João Caetano dos Santos as the hegemonic figure in mid nineteenth-century theatrical pursuits. Caetano’s memorable performances of Othello, his master role, are examined in the theatrical context of his time: parodied by Martins Pena and praised by Machado de Assis. References to European companies touring Brazil, and to the relevance of Paschoal Carlos Magno’s creation of the TEB for a theater with a truly Brazilian accent, lead to final succinct remarks about the twenty-first century scenery. Keywords: Shakespeare. Performances. Brazilian Theater. Artigo recebido em 13 out. 2017. Aceito em 11 nov. 2017. 1 This paper was first presented at the World Shakespeare Congress 2016 of the International Shakespeare Association, in Stratford-upon-Avon. LEÃO, Liana de Camargo; AZEVEDO, Mail Marques de. Actors and accents in Shakespearean performances in Brazil: An incipient national theater. Scripta Uniandrade, v. 15, n. 3 (2017), p. 32-43. Curitiba, Paraná, Brasil Data de edição: 11 dez. -
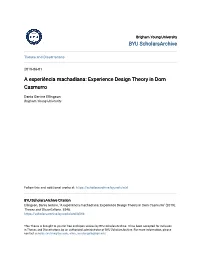
Experience Design Theory in Dom Casmurro
Brigham Young University BYU ScholarsArchive Theses and Dissertations 2019-06-01 A experiência machadiana: Experience Design Theory in Dom Casmurro Dania Genine Ellingson Brigham Young University Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/etd BYU ScholarsArchive Citation Ellingson, Dania Genine, "A experiência machadiana: Experience Design Theory in Dom Casmurro" (2019). Theses and Dissertations. 8546. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/8546 This Thesis is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. A experiência machadiana: Experience Design Theory in Dom Casmurro Dania Genine Ellingson A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts James R. Krause, Chair Anna-Lisa Halling Marlene Esplin Department of Spanish and Portuguese Brigham Young University Copyright © 2019 Dania Genine Ellingson All Rights Reserved ABSTRACT A experiência machadiana: Experience Design Theory in Dom Casmurro Dania Genine Ellingson Department of Spanish and Portuguese, BYU Master of Arts The intricate and complex writing style of Machado de Assis’ novel Dom Casmurro create a unique and powerfully engaging reader experience. While much has been discussed with regard to narratology and reader-response theory in Dom Casmurro, Machado’s writing recalls many principles found in the cross-disciplinary field of experience design. Through an analysis of the novel using flow and co-creation theories, we see that Machado designs an extraordinary reader experience through narrational scaffolding and co-creative invitations. -

Dom Casmurro and the Ufos: a Canonical Text As Pulp Fiction
53 DOM CASMURRO AND THE UFOS: A CANONICAL TEXT AS PULP FICTION Mail Marques de Azevedo Centro Universitário Campos de Andrade RESUMO:A tendência de reescrever obras canônicas como “mash-ups” ─ termo utilizado para descrever a remixagem de música, vídeo-clips e filme na internet ─ de literatura de massa alcançou o Brasil. Em 2010, pulicaram-se quatro romances que adicionam o sobrenatural e o grotesco a obras de Machado de Assis, José de Alencar e Bernardo Guimarães. Zumbis, vampiros, bruxas e seres extraterrestres tornam-se parte da ação, ou, como no caso de Dom Casmurro e os discos voadores, foco principal deste trabalho, personagens no enredo. A influência avassaladora do cinema e da televisão sobre as gerações mais novas cobra o seu tributo. Escritores devem decidir se aderem ou não aos recursos da mídia audiovisual, a fim de atrair leitores, nutridos neles desde a infância. Argumentamos que tais decisões seriam a causa da proliferação de híbridos de alta cultura e cultura popular, de textos canônicos associados a ficção científica, terror gótico ou outros gêneros de maior impacto junto ao público. As vendas de tais romances foram significativas, embora não atingissem os níveis de bestsellers de obras similares nos Estados Unidos. É indiscutível, porém, que a atmosfera de suspense e fantasia, acrescida do efeito serio-cômico criado pela justaposição de arte elevada e literatura de massa representa passo importante na popularização dos clássicos. O fato de que os quatro livros foram escritos por demanda de editores apoia nosso argumento de que fatores sociais e econômicos estão envolvidos. PALAVRAS-CHAVE: Mash-ups. -

Ressurreição: Uma Adaptação De Otelo? O Germe De Dom Casmurro?
ISSN 1980-7856 jul.-dez/2018, n. 20, v. 2 Ressurreição: uma adaptação de Otelo? O germe de Dom Casmurro? Valdiney Valente Lobato de Castro (FAMAP)* Alan Victor Flor da Silva (UFPA)** Resumo: Quando Machado de Assis, em 1872, publicou pelas prensas do francês Garnier, o romance Ressurreição, seu nome já estava consolidado nas letras nacionais. Geralmente a crítica especializada descuida-se dessa obra em virtude dos grandes sucessos do autor, como Dom Casmurro, escrito em 1899. Em O Otelo brasileiro de Machado de Assis, Helen Caldwell, embora não tenha se dedicado exatamente ao romance de estreia de Machado, afirmou que Ressurreição não apenas era uma adaptação de Otelo, como também o germe de Dom Casmurro, considerado pela autora outra adaptação mais sofisticada da mesma peça teatral shakespeariana. O objetivo deste trabalho é estabelecer uma comparação entre Ressurreição, Dom Casmurro e Otelo, considerando as personagens principais (heróis, heroínas e antagonistas), com o intuito de travar um diálogo entre essas obras literárias e a crítica de Helen Caldwell. Nessa comparação, ao se travar um diálogo entre as três obras, possibilita-se refletir acerca da noção de construção de personagem, do papel do narrador e da recepção do leitor. Palavras-chave: Ressurreição; Otelo; Dom Casmurro; Machado de Assis; William Shakespeare Abstract: When Machado de Assis, in 1872, published by the presses of the French Garnier, the novel Resurreição, his name was already consolidated in the national letters. Often specialized criticism is neglected in this work by virtue of the great successes of the author, such as Dom Casmurro, written in 1899. Although Helen Caldwell, in O Otelo do Brasil de Machado de Assis, has not exactly dedicated herself to Machado’s first novel, she stated that Ressurreição was not only an adaptation of Othello but also the germ of Dom Casmurro. -

English A2 HL II
IB Literature II—Pfeiffer Year Two, First Semester 2012 June-July Vacation Assignment Machado de Assis, Dom Casmurro (1899) There is no way of emending a confused book, but everything can be O, beware, my lord, of jealousy! put into books with omissions. I never get upset when I read one of this It is the green-eyed monster which doth mock latter type. What I do, when I get to the end, is shut my eyes and think The meat it feeds on. That cuckold lives in bliss of all the things I didn't find in it. How many delightful things occur to Who, certain of his fate, loves not his wronger; me then! What profound reflections! But O, what damned minutes tells he o’er (Bento Santiago, Dom Casmurro, 111) Who dotes, yet doubts; suspects, yet strongly loves! (Iago to Othello, Othello, 3.3.195-200) The above quotes tie together two texts in the IB Literature curriculum. The quote from Shakespeare‟s 1622 tragedy is a fitting transition into our vacation reading, Machado de Assis‟s 1899 novel, Dom Casmurro. Machado alludes several times to Othello; his novels narrator takes the role of the husband who feels he has been wronged. Over the vacation please do the following and return to our first class in August with them in hand and completed. Doing this holiday work well is important because this will be an essential novel for you in Grade 12: it is one of the four Part 3 novels you may use on next May‟s IB Exam Paper 2. -

The Case of Machado De Assis
Master among the Ruins* ! 1 Michael Wood i |: Abstract. This essay explores two “mysteries” in Machado de Assis’ work and reputation: the sudden shift of tone and manner from his early “romantic” novels to those of his middle and late career; and his recurring appearances and disappearances on the scene of world literature. The argument, illustrated through the gap between proverbs and lived life in the later novels, is that Machado’s elusiveness is his mastery and his identity. He is historicist in his very irony. 1 . The works of Machado de Assis are full of melancholy wisdom, or what looks like melancholy wisdom: slightly weary, slightly bitter, highly amused. Jokes, fables, epigrams, and analogies flourish so profusely in these pages that they cer- tainly add up to a signature. But do they add up to a voice? And if so, whose voice? Antonio Candido, the great Brazilian critic, suggested long ago that, in Machado, “the most disconcerting surprises” appear “in inverse ratio to the ele- gance and discretion of his prose” ( 106 ). Thus in the novel Quincas Borba, a poor woman is sitting, weeping, by her still-burning cottage. A drunken man comes along and asks if ifs all right if he lights his cigar from the flames. We draw the moral readily enough—about indifference to distress that is not ours, about exploiting the misery of others—and we think we know where we are. Machado draws this moral too, although he scarcely pauses over it before he is on to another, far more unexpected one. The drunkard, he says, shows true respect for “the principle of property—to the point of not lighting his cigar without first asking permission of the owner of the ruins” {Qiiincas Borba 168 ). -

With Machado: Arche-Writings of the Abyss
Posthumous Persona(r)e: Machado de Assis, Black Writing, and the African Diaspora Literary Apparatus by Damien-Adia Marassa Department of English Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Frederick C. Moten, Supervisor ___________________________ Priscilla Wald, Supervisor ___________________________ Joseph Donahue ___________________________ Nathaniel Mackey ___________________________ Justin Read Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of English in the Graduate School of Duke University 2018 ABSTRACT Posthumous Persona(r)e: Machado de Assis, Black Writing, and the African Diaspora Literary Apparatus by Damien-Adia Marassa Department of English Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Frederick C. Moten, Supervisor ___________________________ Priscilla Wald, Supervisor ___________________________ Joseph Donahue ___________________________ Nathaniel Mackey ___________________________ Justin Read An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of English in the Graduate School of Duke University 2018 Copyright by Damien-Adia Marassa 2018 Abstract Posthumous Persona(r)e: Machado de Assis, Black Writing, and the African Diaspora Literary Apparatus analyzes the life writings of Machado de Assis (1839-1908) in light of the conditions of his critical reception and translation in English -

O Conceito De Memória Na Obra De Machado De Assis
Péres, S. P. & Massimi, M. (2008). O conceito de memória na obra de Machado de Assis. Memorandum, 15, 2034. Retirado em / / , da World Wide Web http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a15/permas02.pdf 20 O conceito de memória na obra de Machado de Assis The concept of memory in the w ork of Machado de Assis Sávio P assafaro Péres Marina Massimi Universidade de São Paulo Brasil Resumo Este artigo busca elucidar como Machado de Assis desenvolveu o tema da memória nos contos “Dona Paula”, “Missa do Galo” e no romance “Dom Casmurro”. No conto “Dona Paula”, podemos encontrar uma complexa relação entre a memória, o inconsciente e o conteúdo emocional da memória. Em “Missa do Galo”, Machado cria um narrador capaz de relatar uma vivência passada, mas que, ainda assim, não toma consciência do sentido não verbal do episódio vivido; todavia, no momento em que o narrador expressa sua experiência, ele anuncia nas entrelinhas e no estilo narrativo esse sentido não verbal. E no romance “Dom Casmurro”, observamos como Machado representou a memória não como coisa fixa, mas como algo que pode se alterar e se reorganizar pela linguagem expressiva e se deformar pela imaginação e por fatores inconscientes. P alavraschave: memória; Machado de Assis; história da psicologia. Abstract This paper intends to elucidate the conceptions of memory in the work of Machado de Assis. For that, we analyzed the short stories “Dona Paula”, “Missa do Galo” and the novel Dom Casmurro. In the short story Dona Paula, there is a complex relationship between memory, unconscious and the emotional content of memory. -

A Dissolução Do Limite Entre a Loucura E a Sanidade Na Obra O Alienista De Machado De Assis a Partir Da Perspectiva Nietzschiana Sobre a Moral
ERA O ALIENISTA UM ALIENADO?: A DISSOLUÇÃO DO LIMITE ENTRE A LOUCURA E A SANIDADE NA OBRA O ALIENISTA DE MACHADO DE ASSIS A PARTIR DA PERSPECTIVA NIETZSCHIANA SOBRE A MORAL WAS THE ALIENIST HIMSELF AN ALIENATED? THE DISSOLUTION OF THE BOUNDARY BETWEEN MADNESS AND SANITY IN THE BOOK, THE ALIENIST, OF MACHADO DE ASSIS. A READING FROM A NIETZSCHEAN PERSPECTIVE ON MORALITY Marco Antonio Sabatini Ribeiro1 Resumo: Analisarei o método científico da personagem Simão Bacamarte do livro O Alienista de Machado de Assis a partir do pensamento de Nietzsche sobre a moral. Percebo que os estudos comportamentais do protagonista da obra machadiana são semelhantes durante o desenrolar de toda sua história: o que se modifica gradualmente é a intensidade classificatória entre o “certo” e o “errado” através da relativização e do detalhamento dos costumes do louco e do são. Os estudos psicológicos de Bacamarte se baseiam em suas próprias concepções morais permitindo a aproximação filosófica com os textos nietzschianos que estudam a moral cuja “fundamentação” científica a transforma em um discurso normativo. No entanto, a intensificação desse discurso revela que o “certo” e o “errado” procuram abarcar as (des)semelhanças idiossincráticas enquanto método de avaliação comportamental – sem levar em conta que o seu julgamento é apenas uma interpretação, entre muitas, da existência. Dessa forma, a hipótese é a de que, quando levada ao extremo, a delimitação entre a loucura e a sanidade dissolve o seu próprio limite, pois a peculiaridade presente em cada pessoa representa um conjunto único de vivências e costumes que impossibilitam a comparação entre o certo e o errado, o são e o louco. -

FLA Category3 Latinamerica.Pdf
1 The College of Charleston History 262: Colonial Latin America Section 001 T/R Maybank 306 10:50-12:05 Dr. Timothy Coates Office: Maybank 325; Telephone: 953-8031 Fax: 953-6349 (do not fax me assignments, they get lost) E-mail: [email protected] (do not email assignments, they also get lost) Office hours: T/R 2-4 and by appointment. Course Description (from the catalog): “A survey of Spanish and Portuguese colonial America to 1825. Topics include native populations on the eve of conquest, exploration and conquest by Europeans, the development of multiracial societies, the colonial economies, the institutions of Ibero- American empires, the social, economic, and intellectual roots of revolution and independence movements.” This course has been approved to satisfy Category 3 of the Foreign Language Alternative program. Upon completion of this course, students will contextualize and analyze artifacts, practices, and perspectives from cultures in a specific world region (program learning outcome 3). Prerequisites: History 115 and 116. Organization, Objectives, and Grading: The organization of this class is based on thematic units, with lectures and discussion days as outlined below. The requirements do not assume a familiarity with (or previous coursework in) Latin America, nor do they assume the student speaks Spanish or Portuguese. This is an introductory survey. The objectives are to: 1. Introduce students to major economic, political, and social themes in colonial Latin American history; 2. Increase students’ awareness and appreciation of the rich cultural past of Latin America; 3. Develop critical skills in reading for content, effective writing, listening, and speaking; 4. Encourage students to explore an independent topic related to this course; 5. -

99 Mania De Saber: Ironia E Melancolia Em O Alienista, De Machado De Assis*
ARTIGOS ano VI, n. 2, jun/2003 Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., VI, 2, 99-113 Mania de saber: ironia e melancolia em O alienista, de Machado de Assis* Ana Cleide Guedes Moreira e Manoel Tosta Berlinck 99 A ironia, como figura do cômico que expressa oposição, isto é, posição contrária ao sabido, ou suposto saber, pode ser ainda uma estrada real para o inconsciente, em certos casos, na interpretação analítica de pacientes melancólicos, bem assim em narrativas de rara beleza, em escritores criativos. A irônica composição do personagem central de O alienista, em Machado de Assis, é tomada aqui como expressão literária da mania de saber. Palavras-chave: Psicopatologia fundamental, literatura, mania, ironia * Trabalho apresentado na Mesa-redonda “Ironia e melancolia”, no VI Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, em Recife, PE, setembro de 2002. REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL ano VI, n. 2, jun/2003 Tem causado certa sensação em Paris a loucura de que foi acometida a Sra. O’Connell, célebre pintora, que está presentemente recolhida ao hospital dos alienados pobres. A Estação: Jornal Ilustrado para a familia, Rio de Janeiro, 29 fev. 1880. Noticiário. A literatura que tem se ocupado da análise da obra machadiana é extensa e tem dado conta da extrema fecundidade desse autor brasileiro justamente reputado como um dos grandes da literatura ocidental. Há um crescente e novo interesse nela, desde a discussão desencadeada por Roberto Schwarz para quem, no percurso machadiano, pode identificar-se os paradoxos e impasses da própria modernidade no Brasil (Andrade, 1999). Machado teria liderado, entre nós, a passagem para a modernidade, não apenas por sua obra, como também literalmente, por seu hábito de congregar e reunir em torno de si velhos e novos escritores de nossas letras, um 100 movimento que acabou permitindo a criação da Academia Brasileira de Letras, da qual foi o primeiro presidente.