As Políticas Públicas Curitibanas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
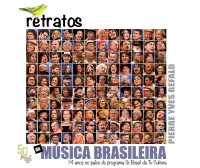
RETRATOS DA MÚSICA BRASILEIRA 14 Anos No Palco Do Programa Sr.Brasil Da TV Cultura FOTOGRAFIAS: PIERRE YVES REFALO TEXTOS: KATIA SANSON SUMÁRIO
RETRATOS DA MÚSICA BRASILEIRA 14 anos no palco do programa Sr.Brasil da TV Cultura FOTOGRAFIAS: PIERRE YVES REFALO TEXTOS: KATIA SANSON SUMÁRIO PREFÁCIO 5 JAMELÃO 37 NEY MATOGROSSO 63 MARQUINHO MENDONÇA 89 APRESENTAÇÃO 7 PEDRO MIRANDA 37 PAULINHO PEDRA AZUL 64 ANTONIO NÓBREGA 91 ARRIGO BARNABÉ 9 BILLY BLANCO 38 DIANA PEQUENO 64 GENÉSIO TOCANTINS 91 HAMILTON DE HOLANDA 10 LUIZ VIEIRA 39 CHAMBINHO 65 FREI CHICO 92 HERALDO DO MONTE 11 WAGNER TISO 41 LUCY ALVES 65 RUBINHO DO VALE 93 RAUL DE SOUZA 13 LÔ BORGES 41 LEILA PINHEIRO 66 CIDA MOREIRA 94 PAULO MOURA 14 FÁTIMA GUEDES 42 MARCOS SACRAMENTO 67 NANA CAYMMI 95 PAULINHO DA VIOLA 15 LULA BARBOSA 42 CLAUDETTE SOARES 68 PERY RIBEIRO 96 MARIANA BALTAR 16 LUIZ MELODIA 43 JAIR RODRIGUES 69 EMÍLIO SANTIAGO 96 DAÍRA 16 SEBASTIÃO TAPAJÓS 44 MILTON NASCIMENTO 71 DORI CAYMMI 98 CHICO CÉSAR 17 BADI ASSAD 45 CARLINHOS VERGUEIRO 72 PAULO CÉSAR PINHEIRO 98 ZÉ RENATO 18 MARCEL POWELL 46 TOQUINHO 73 HERMÍNIO B. DE CARVALHO 99 CLAUDIO NUCCI 19 YAMANDU COSTA 47 ALMIR SATER 74 ÁUREA MARTINS 99 SAULO LARANJEIRA 20 RENATO BRAZ 48 RENATO TEIXEIRA 75 MILTINHO EDILBERTO 100 GERMANO MATHIAS 21 MÔNICA SALMASO 49 PAIXÃO CÔRTES 76 PAULO FREIRE 101 PAULO BELLINATI 22 CONSUELO DE PAULA 50 LUIZ CARLOS BORGES 76 ARTHUR NESTROVSKI 102 TONINHO FERRAGUTTI 23 DÉRCIO MARQUES 51 RENATO BORGHETTI 78 JÚLIO MEDAGLIA 103 CHICO MARANHÃO 24 SUZANA SALLES 52 TANGOS &TRAGEDIAS 78 SANTANNA, O Cantador 104 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) PAPETE 25 NÁ OZETTI 52 ROBSON MIGUEL 79 FAGNER 105 (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) ANASTÁCIA 26 ELZA SOARES 53 JORGE MAUTNER 80 OSWALDO MONTENEGRO 106 Refalo, Pierre Yves Retratos da música brasileira : 14 anos no palco AMELINHA 26 DELCIO CARVALHO 54 RICARDO HERZ 80 VÂNIA BASTOS 106 do programa Sr. -

GIACOMO BARTOLONI Violão: a Imagem Que Fez Escola. São Paulo
GIACOMO BARTOLONI Violão: a imagem que fez escola. São Paulo 1900-1960 Tese apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis da Universidade Estadual Paulista, para obtenção do título de Doutor em História. Orientador: Profª. Drª. Palmira Petratti Teixeira ASSIS 2000 2 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Biblioteca da F.C.L. – Assis – UNESP Bartoloni, Giacomo B292v Violão: a imagem que faz escola. São Paulo 1900 - 1960. Giacomo Bartoloni. Assis, 2000. 310 p. Tese – Doutorado – Faculdade de Ciências e Letras de Assis – Universidade Estadual Paulista. 1. Música – História – Violão 2. São Paulo (cidade) – História. CDD 780.9 981.611 3 DADOS CURRICULARES GIACOMO BARTOLONI NASCIMENTO: 22.3.1957 – São Paulo/SP FILIAÇÃO - Manlio Bartoloni e Angiolina Serpa Bartoloni 1977/1980 - Curso de Graduação: Curso de Bacharelado em Música, Habilitação em Instrumento (Violão), Faculdades de Artes Alcântara Machado de São Paulo. 1991/1995 - Curso de Pós-Graduação em Artes (Música), Mestrado no Instituto de Artes de São Paulo – UNESP. 1988/1995 - Professor Auxiliar de Ensino (MS-1) do Departamento de Música do Instituto de Artes de São Paulo – UNESP. 1995/2000 - Professor Assistente do Departamento de Música do Instituto de Artes de São Paulo – UNESP. 4 para Laura e para nossos filhos Fábio, Bruno e Felipe 5 AGRADECIMENTOS A concretização deste trabalho só foi possível com o estímulo e a colaboração de instituições e pessoas. Manifestamos nosso gratidão aos que contribuíram e em particular: aos meus orientadores no decorrer de minha vida profissional, os professores Henrique Pinto, Marília Pini, Roger Cotte (in memoriam), Maria de Lourdes Sekeff Zampronha, Attilio Mastrogiovanni, Antonio Celso Ferreira e em especial à Dr.ª Palmira Petratti Teixeira; à Capes e à Reitoria da UNESP, pelo auxílio financeiro necessário ao desenvolvimento deste projeto; aos colegas do Departamento de Música, em que destacamos os professores Gisela Nogueira, Martha Herr, John Edward Boudler e em especial o Vice-Diretor do Instituto de Artes, Dr. -

Comunicato Stampa Ascoli Musiche, Lunedì 4 Marzo Al
COMUNICATO STAMPA ASCOLI MUSICHE, LUNEDÌ 4 MARZO AL TEATRO VENTIDIO BASSO TOQUINHO IN CONCERTO CON 50 ANNI DI SUCCESSI Lunedì 4 marzo Ascoli Musiche – su iniziativa del Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, Atena e Medusa Eventi – ospita una leggenda vivente della musica internazionale, Toquinho. Accordi e armonie uniche faranno rivivere i grandi successi mondiali dell’artista accompagnato dalla sua inconfondibile chitarra. Il maestro ripercorrerà la sua carriera attraverso le sue indimenticabili canzoni dando vita a uno spettacolo all’insegna della storia della musica brasiliana e mondiale, un’emozione unica e irripetibile. Dopo il successo del 2017 Toquinho ritorna in Europa con un omaggio alla musica brasiliana, 50 Anni di successi, e un tributo a tutti quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia. Accompagnato dal talento delle cantante Greta Panettieri proporrà i duetti che lo hanno reso celebre in Italia e non solo. La “saudade” di Tom Jobim, che quest’anno avrebbe compiuto 90 anni, e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri, si trasforma sul palco in uno spettacolo di grande fascino. Il concerto entra direttamente in quell'anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli “Afro Sambas”, ripercorrendo tutti i brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo. Milioni di appassionati hanno dentro il cuore le melodie di La voglia e la pazzia, L’incoscienza e l’allegria, Senza paura, Samba della Benedizione, Samba per Vinicius, Aquarello, solo per citarne alcune delle canzoni legate alla carriera di grandi successi dell’artista. -

Consulte Aqui a Agenda Música Brasileira 2019
2019 Texto Luís Pimentel Ilustrações Amorim Capa e Projeto Gráfico Hortensia Pecegueiro Esta edição conta com o apoio do Instituto Memória Musical Brasileira – IMMuB Diretor Presidente - IMMuB João Carino Direção Executiva Luiza Carino Diagramação Leticia Lima Agenda Música Brasileira Direitos Reservados Myrrha Comunicação Ltda. Rua Maria Eugênia, 206/101 – CEP: 22261-080 – Rio de Janeiro – RJ Tel: (21) 2535.8220 / 99648.9910 [email protected] 2019 Feriados e Datas Comemorativas 01/01 Confraternização Universal 12/06 Dia dos Namordos 05/03 Carnaval 20/06 Corpus Christi 08/03 Dia Internacional da Mulher 11/08 Dia dos Pais 19/04 Paixão de Cristo / Sexta Feira Santa 07/09 Independência do Brasil 21/04 Páscoa / Tiradentes 12/10 N. Sra. Aparecida / Dia das Crianças 22/04 Descobrimento do Brasil 02/11 Finados 01/05 Dia do Trabalho 15/11 Proclamação da República 12/05 Dia das Mães 20/11 Dia da Consciência Negra 25/12 Natal JANEIRO 01 TERÇA 02 QUARTA Nesta data nasceram os composi- 8h tores David Nasser (1917), em Jaú/ SP, Chico Feitosa (1935), no Rio de Janeiro, e Eduardo Dusek (1954), 9h também no Rio. David Nasser, parceiro, entre outros, de Herivelto 10h Martins, Nássara e Haroldo Lobo, morreu no Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro de 1980. Chico 11h Feitosa, o Chico Fim de Noite, autor, com Ronaldo Bôscoli, do clássico da MPB Fim de noite, morreu no Rio, 12h no dia 31 de março de 2004. 13h 8h 14h 9h 15h 10h 16h 11h 17h 12h 18h 13h 14h Morre no Rio de Janeiro, em 1997, o violonista e compositor Dilermando Reis, nascido em 29 de setembro 15h de 1916, em Guaratinguetá (SP). -

A Bossa Nova: Uma Representação Cultural Do Brasil Nos Estados Unidos
Universidade de Brasília – UnB Instituto de Ciências Humanas – IH Departamento de História - HIS A Bossa Nova: Uma Representação Cultural do Brasil nos Estados Unidos WÉDYLON DA COSTA RABELO Brasília, 2019 WÉDYLON DA COSTA RABELO A Bossa Nova: Um Representação Cultural do Brasil nos Estados Unidos Trabalho de Conclusão de Curso do aluno graduando em História/Licenciatura Wédylon da Costa Rabelo, sob a orientação do Professor Dr. Virgílio Caixeta Arraes. Banca Examinadora _____________________________________________ Prof. Dr. Virgílio Caixeta Arraes (Orientador) ______________________________________________ Profª. Drª. Albene Miriam Menezes Klemi ________________________ Profª Dr. Ebnezer Maurílio Nogueira da Silva Agradecimentos Agradeço aos meus pais, José da Costa Rabelo e Zilda Sardinha da Costa Rabelo, ao meu irmão, Weverson da Costa Rabelo, pela paciência, apoio e carinho que tiveram comigo durante toda trajetória acadêmica e na elaboração deste trabalho. Agradeço também ao meu irmão mais velho, Wesley da Costa Rabelo e o seu filho, meu sobrinho querido, Leonardo Rabelo, pela assistência afetiva mesmo que de longe. Não poderei deixar de salientar a importância que os meus amigos da graduação que me acompanharam afavelmente na produção deste TCC tiveram para que eu pudesse ter perseverança e alegria ao longo de todo o curso. Meus agradecimentos a prestatividade e a essencial orientação do professor Virgílio Arraes para a elaboração desta pesquisa, e expresso minha alegria dele ter aceitado orientar este projeto. Um agradecimento, infelizmente em um momento póstumo, ao ilustre gênio da música popular brasileira, João Gilberto, que faleceu durante produção deste projeto, no sábado dia 06 de julho, a quem eu muito admirei e que por ele eu me envolvi definitivamente com a Bossa Nova. -

Relatório De Músicas Veiculadas
Relatório de Programação Musical Razão Social: Universidade José do Rosário Velano CNPJ: 17878554001160 Nome Fantasia: Rádio Universidade FM Dial: 106,7 Cidade: Alfenas UF: MG Execução Data Hora Descrição Intérprete Compositor Gravadora Ao Vivo Mecânico 01/01/2017 07:00:00 Hino Nacional Brasileiro ABERTURA Francisco Manuel da Silva e Osório Duque X Estrada 01/01/2017 07:03:33 Abertura da Emissora CAMILO ZAPONI X 01/01/2017 07:04:51 Prefixo Marcos Tadeu X 01/01/2017 07:05:28 Estudo Nº 11, em Mi Menor Turibio Santos Heitor Villa-Lobos Kuarup Discos X 01/01/2017 07:09:04 Estudo Nº 1, em Mi Menor Turibio Santos Heitor Villa-Lobos Kuarup Discos X 01/01/2017 07:10:57 Estudo Nº 6, em Mi Menor Turibio Santos Heitor Villa-Lobos Kuarup Discos X 01/01/2017 07:12:38 Estudo Nº 9, em Fá Sustenido Menor Turibio Santos Heitor Villa-Lobos Kuarup Discos X 01/01/2017 07:15:24 Nossa Senhora do Livramento Flávio Henrique e Chico Amaral Flávio Henrique X 01/01/2017 07:18:21 Duas Marias Flávio Henrique e Chico Amaral Chico Amaral X 01/01/2017 07:22:45 Sete Batutas e Um Auditor Flávio Henrique e Chico Amaral Flávio Henrique e Chico Amaral X 01/01/2017 07:25:15 Cinema Nacional Flávio Henrique e Chico Amaral Flávio Henrique e Chico Amaral X 01/01/2017 07:29:26 Choro Negro Leo Gandelman Paulinho da Viola e Fernando Costa Polygram X 01/01/2017 07:34:15 Pequenos Grãos Leo Gandelman Leo Gandelman e William Magalhães Phillips X 01/01/2017 07:39:58 Furuvudé Leo Gandelman Leo Gandelman e William Magalhães Phillips X 01/01/2017 07:45:24 O Cara Leo Gandelman Leo Gandelman -

RÁDIO NACIONAL FM BRASÍLIA DF CNPJ : Nome Fantasia
Relatório de Programação Musical Razão Social: RÁDIO NACIONAL FM BRASÍLIA DF CNPJ : Nome Fantasia: RÁDIO NACIONAL FM Dial: 96.1 Cidade: Brasília UF: DF Execução Data Hora Descrição Intérprete Compositor Gravadora 01/02/2016 01:55:57 Meu Avô Fabiano Borges Rafael Rabello 01/02/2016 01:56:19 Essa Moça Tá Diferente Roberto Menescal Chico Buarque 01/02/2016 02:53:59 Pesadelo Gisele Meira Maurício Tapajós / Paulo César Pinheiro 01/02/2016 02:54:59 Deixa A Menina Vittor Santos & Conexão Rio Chico Buarque 01/02/2016 03:56:56 Mariazinha Sentada Na Pedra Choro & Companhia Ernesto Nazareth 01/02/2016 03:57:06 Choro De Arcanjo Orquestra Tabajara Jard's Macalé 01/02/2016 04:58:41 Batucada Tamba Trio Luiz Bonfá 01/02/2016 06:00:03 A Ponte acústico Lenine & Gog Lenine / Lula Queiroga 01/02/2016 06:04:46 Sina Djavan Djavan 01/02/2016 06:10:11 Canto De Ossanha Daúde Baden Powell / Vinicius de Moraes 01/02/2016 06:14:31 Refazenda Gilberto Gil Gilberto Gil 01/02/2016 06:17:53 I Remember Rio Jaime Valle & Grupo João Bosco / Aldir Blanc 01/02/2016 06:21:58 Maria Rita João Nogueira Luiz Grande 01/02/2016 06:25:10 Bicho De Sete Cabeças instr. Zé Ramalho & Geraldo Azevedo Zé Ramalho / Geraldo Azevedo / Renato Rocha 01/02/2016 06:29:27 Velha Infância Os Tribalistas Arnaldo Antunes/ Carlinhos Brown/ Marisa Monte 01/02/2016 06:33:26 Lágrimas De Diamante Paulinho Moska Paulinho Moska 01/02/2016 06:36:47 Coisas Banais Teresa Cristina & Arlindo Cruz Candeia / Paulinho da Viola 01/02/2016 06:40:10 Só Tinha De Ser Com Você Vanessa da Mata Tom Jobim / Aloysio de Oliveira -

Universidade Estadual De Campinas Instituto De Artes
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ARTES Victor Rocha Polo O VIOLÃO E A GUITARRA DE LULA GALVÃO: UM ESTUDO SOBRE SUA ATUAÇÃO MUSICAL EM DIFERENTES FORMAÇÕES INSTRUMENTAIS THE GUITAR STYLE OF LULA GALVÃO: A STUDY ON HIS MUSICAL PERFORMANCE IN DIFFERENT INSTRUMENTATIONS CAMPINAS 2018 Victor Rocha Polo O VIOLÃO E A GUITARRA DE LULA GALVÃO: UM ESTUDO SOBRE SUA ATUAÇÃO MUSICAL EM DIFERENTES FORMAÇÕES INSTRUMENTAIS THE GUITAR STYLE OF LULA GALVÃO: A STUDY ON HIS MUSICAL PERFORMANCE IN DIFFERENT INSTRUMENTATIONS Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Música na área de concentração em Música: Teoria, Criação e Prática Dissertation presented to the Institute of Arts of the University of Campinas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Music: Theory, Creation and Practice Orientador: Hermilson Garcia do Nascimento ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO DEFENDIDA PELO ALUNO VICTOR ROCHA POLO, E ORIENTADA PELO PROF. DR. HERMILSON GARCIA DO NASCIMENTO. CAMPINAS 2018 Agência(s) de fomento e nº(s) de processo(s): CAPES Ficha catalográfica Universidade Estadual de Campinas Biblioteca do Instituto de Artes Silvia Regina Shiroma - CRB 8/8180 Polo, Victor Rocha, 1994- P766v O violão e a guitarra de Lula Galvão : um estudo sobre sua atuação musical em diferentes formações instrumentais / Victor Rocha Polo. – Campinas, SP : [s.n.], 2018. Orientador: Hermilson Garcia do Nascimento. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. 1. Galvão, Lula, 1962-. 2. Música popular. 3. Música - Execução. 4. Violão. -

12083435 Toquinho Miolo.Indd 1 14/9/2010 15:07:31 2
MÚSICA MUSICA COLECAO COLECAO acervo João Carlos Pecci João Carlos Pecci Nasceu em 17 de março de 1942, em São Paulo. Filho de uma família de classe média, aos 23 anos completou o curso de Ciências Econômicas da PUC e, com quase 26 chegava até o 5º ano de Direito da USP. Então, a vida lhe ofereceu caminhos novos através de uma guinada aparentemente cruel: a paraplegia, causada por um acidente de automóvel na via Dutra, em 1968. A partir daí, a paralisia física lhe revelou valores muito mais sensíveis. Aprofundou-se, como autodidata, pelos caminhos da pintura. Expôs quadros na Praça da República, aprendeu a discernir em função da simplicidade e da humildade do homem da rua. Evoluiu, valorizou a própria arte, participou de Salões de Arte, ganhando alguns modestos prêmios. Com várias exposições individuais e coletivas, faz da pintura um trabalho, uma brincadeira vibrante e gostosa, uma necessidade cotidiana, um amor a mais em sua vida. Outra arte que dá sentido à sua vida é a literatura. Seui primeiro livro, Minha Profi ssão é Andar, (Summus Editorial), de 1980, soma hoje 33 no ar solto acorde edições e foi o precursor, no Brasil, da literatura produzida por defi ci- entes físicos ou pessoas a eles ligadas. Adotado em escolas e faculdades, ofereceu-lhe a oportunidade de falar para milhares de estudantes em palestras que, por sua transparência e objetividade, induziram muitos jovens a optar pelos cursos de Fisioterapia. Outros livros se seguiram: Existência (1984 – Summus Editorial), uma seqüência de crônicas e poesias. O Ramo de Hortências (1987), um romance que aborda os opostos inevitáveis: as limitações e Toquinho as grandiosidades humanas. -

The Space of Six Months on the London- Buted Parrot Label
known as the “wailer from Wales,” he's Tom Jones, an English singing gift to the U.S. who can boast three successive hits here in the space of six months on the London- buted Parrot label. The first was “It's Not Unusual,” followed by “What's New Pussycat?” ond the current “With These Hands.” The first two hits are also the main-titles of ssful LP dates. An interesting aspect to Jones' appeal is that he has a multi-market following, ranging from the rock, to pop, to blues-soul to ballad and to novelty. Jones, d the most promising male vocalist in a recent Cash Box deejay poll, will make his third appearance on the Ed Sullivan Show on Sunday, Oct. 3, with the program originating, or, from Los Angeles. In addition, he will be appearing in-person at the “It's Boss” club in L.A. the week of Sept. 20. y BillyJoe (Down in the Boondocks) Royal hits again with a new smash single... CL 2403/CS 9203 Stereo both from the hit album Everything’s going for C0HJM6A REG PRINTED >N USA, COLUMBIA RECORDS Gdsh Box CashBox Vol. XXVM—Number 8 September 11, 1965 FOUNDED BY BILL GERSH Gash Box (Publication Office) 1780 Broadway New York, N. Y. 10019 (Phone: JUdson 6-2640) CABLE ADDRESS: CASHBOX. N. Y. JOE ORLECK President and Publisher NORMAN ORLECK Vice President GEORGE ALBERT Vice President Pacesetters MARTY OSTROW General Manager MUSIC & RECORDS RIAL IRV LICHTMAN Editor-in-Chief DICK ZIMMERMAN Associate Editor MIKE MARTUCCI Editorial Assistant JERRY ORLECK Editorial Assistant MARV GOODMAN Editorial Assistant Every industry has its pacesetters, of money, effort and, very importan TOM McENTEE Editorial Assistant those companies that year-in-and-year- in the context of the business, tii [USING BILL STUPER out take the lead in giving their par- into the nurturing of talent, with t HARVEY GELLER, Hollywood ticular fields of endeavor the kind of knowledge that the dividends of si ED ADLUM product and salesmanship that set cess (if there is acceptance at all!) nr General Manager COIN MACHINES & VENDING patterns for other firms to adopt or not be realized for many months, p LEE BROOKS. -

Note Al Programma
NOTE AL PROGRAMMA Le terre d’America hanno sempre vissuto forti influenze di derivazione europea in ogni genere dell’arte musicale. Questo per ragioni storiche che hanno visto, dalla cosiddetta “scoperta dell’America” e successivamente ad essa, grandi spostamenti sociali dal Vecchio Continente verso il Nuovo Mondo, con la conseguente commistione di usi, costumi e creatività dei vari popoli coinvolti. Un evento massiccio e a tappe che ha rappresentato uno dei primi capitoli di quel fenomeno di fusioni etniche e culturali che oggi definiamo “globalizzazione”. In Brasile questo mix di apporti ha generato un folklore musicale urbano caratterizzato da un melos di stampo indigeno e portoghese, una visione armonica di derivazione anche francese e da una sensibilità ritmica afro- portoghese e amerindia. Nel concerto odierno viene offerto uno spaccato della musica e della poesia brasiliana che pone al centro l’opera di Antonio Carlos Jobim (1927-1994) e del poeta e musicista Vinicius de Moraes (1913-1980), senza trascurare gli apporti di altri importanti musicisti - fra questi, Dilermando Reis (1916-1977), Americo Jacomino (1989-1928), Chico Buarque de Hollanda (1944), Paulinho Nogueira (1929-2003), Newton Mendonça (1927-1960), João Bosco (1946), Toquinho (1946) e Mutinho (1941) - che hanno contribuito a superare i confini fra le varie espressioni musicali, rendendo peraltro evidenti i profondi legami che esistono fra la tradizione popolare e quella definita “classica”. Sì perché una musica dalla ritmica così sofisticatamente incisiva, come quella brasiliana, ben si sposa con le strutture razionali e metricamente strutturate della musica barocca europea e quella di Bach in particolare. Mentre le dissonanze accattivanti e non laceranti dell’aspetto armonico, nel rivelare la loro discendenza francese, richiamano a volte con forza le atmosfere evanescenti e iridescenti dell’Impressionismo.