Questões Indígenas No Esporte Australiano1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report
ANNUAL REPORT Contents AIEF Annual Report 2009 1 Messages from our Patrons 2 2 Chairman’s Overview – Ray Martin AM 4 3 Chief Executive’s Report – Andrew Penfold 6 4 AIEF Scholarship Programme 8 5 AIEF 2009 Partner Schools: Kincoppal – Rose Bay School 12 Presbyterian Ladies’ College, Sydney 14 St Catherine’s School, Waverley 16 St Scholastica’s College, Glebe 18 St Vincent’s College, Potts Point 20 Other Partnerships and Scholarships 22 6 Student Overviews – Current and Past Students at 2009 Partner Schools 24 7 Financial Summary 34 APPENDIX A Governance and People 38 B Contact and Donation Details 40 1 Messages from our Patrons Her Excellency Professor Marie Bashir AC CVO Governor of New South Wales Patron-in-Chief It is an honour to be the Patron-in-Chief of the Australian Indigenous Education Foundation and to be able to follow the growth and development of the organisation over the past 12 months in its resolve and drive to create opportunities for a quality education for more Indigenous children across the nation. AIEF is an excellent example of how individuals and corporate organisations can make a difference to the lives of Indigenous children by facilitating access to educational opportunities that would not otherwise be available to them, and to do so in an efficient framework that provides clear, transparent and regular reporting. This initiative also benefits non-Indigenous children in our schools by providing the opportunity for our non-Indigenous students to form bonds of friendship with, and cultural understanding of, their Indigenous classmates. In this way, we are together working towards a brighter future for all Australians and empowering Indigenous children to have real choices in life. -

Health and Physical Education
Resource Guide Health and Physical Education The information and resources contained in this guide provide a platform for teachers and educators to consider how to effectively embed important ideas around reconciliation, and Aboriginal and Torres Strait Islander histories, cultures and contributions, within the specific subject/learning area of Health and Physical Education. Please note that this guide is neither prescriptive nor exhaustive, and that users are encouraged to consult with their local Aboriginal and Torres Strait Islander community, and critically evaluate resources, in engaging with the material contained in the guide. Page 2: Background and Introduction to Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Physical Education Page 3: Timeline of Key Dates in the more Contemporary History of Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Physical Education Page 5: Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Physical Education Organisations, Programs and Campaigns Page 6: Aboriginal and Torres Strait Islander Sportspeople Page 8: Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Physical Education Events/Celebrations Page 12: Other Online Guides/Reference Materials Page 14: Reflective Questions for Health and Physical Education Staff and Students Please be aware this guide may contain references to names and works of Aboriginal and Torres Strait Islander people that are now deceased. External links may also include names and images of those who are now deceased. Page | 1 Background and Introduction to Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Physical Education “[Health and] healing goes beyond treating…disease. It is about working towards reclaiming a sense of balance and harmony in the physical, psychological, social, cultural and spiritual works of our people, and practicing our profession in a manner that upholds these multiple dimension of Indigenous health” –Professor Helen Milroy, Aboriginal Child Psychiatrist and Australia’s first Aboriginal medical Doctor. -

Australia and the Pacific
AUSTRALIA AND THE PACIFIC: THE AMBIVALENT PLACE OF PACIFIC PEOPLES WITHIN CONTEMPORARY AUSTRALIA Scott William Mackay, BA (Hons), BSc July 2018 Submitted in total fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Australian Indigenous Studies Program School of Culture and Communication The University of Melbourne 0000-0002-5889 – Abstract – My thesis examines the places (real and symbolic) accorded to Pacific peoples within the historical production of an Australian nation and in the imaginary of Australian nationalism. It demonstrates how these places reflect and inform the ways in which Australia engages with the Pacific region, and the extent to which Australia considers itself a part of or apart from the Pacific. While acknowledging the important historical and contemporary differences between the New Zealand and Australian contexts, I deploy theoretical concepts and methods developed within the established field of New Zealand- centred Pacific Studies to identify and analyse what is occurring in the much less studied Australian-Pacific context. In contrast to official Australian discourse, the experiences of Pacific people in Australia are differentiated from those of other migrant communities because of: first, Australia’s colonial and neo-colonial histories of control over Pacific land and people; and second, Pacific peoples' important and unique kinships with Aboriginal Australians. Crucially the thesis emphasises the significant diversity (both cultural and national) of the Pacific experience in Australia. My argument is advanced first by a historicisation of Australia’s formal engagements with Pacific people, detailing intersecting narratives of their migration to Australia and Australia’s colonial and neo- colonial engagements within the Pacific region. -
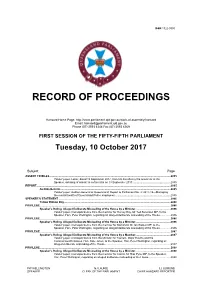
Record of Proceedings
ISSN 1322-0330 RECORD OF PROCEEDINGS Hansard Home Page: http://www.parliament.qld.gov.au/work-of-assembly/hansard Email: [email protected] Phone (07) 3553 6344 Fax (07) 3553 6369 FIRST SESSION OF THE FIFTY-FIFTH PARLIAMENT Tuesday, 10 October 2017 Subject Page ASSENT TO BILLS ..............................................................................................................................................................2885 Tabled paper: Letter, dated 13 September 2017, from His Excellency the Governor to the Speaker, advising of assent to certain bills on 13 September 2017. .................................................2885 REPORT...............................................................................................................................................................................2885 Auditor-General ................................................................................................................................................2885 Tabled paper: Auditor-General of Queensland: Report to Parliament No. 2: 2017-18—Managing the mental health of Queensland Police employees. ........................................................................2885 SPEAKER’S STATEMENT ..................................................................................................................................................2886 Yellow Ribbon Day ...........................................................................................................................................2886 -

What's the Score? a Survey of Cultural Diversity and Racism in Australian
What’s the score? A survey of cultural diversity and racism in Australian sport © Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2006. ISBN 0 642 27001 5 This work is copyright. Apart from any use permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced without prior written permission from the Human Rights and Equal Opportunity Commission. Requests and enquiries concerning the reproduction of materials should be directed to the: Public Affairs Unit Human Rights and Equal Opportunity Commission GPO Box 5218 Sydney NSW 2001 [email protected] www.humanrights.gov.au Report to the Department of Immigration and Citizenship. The report was written and produced by Paul Oliver (Human Rights and Equal Opportunity Commission). Cover photograph: Aboriginal Football, © Sean Garnsworthy/ALLSPORT. Aboriginal boys play a game of Australian Rules football along the beach in Weipa, North Queensland, June 2000. Contents Foreword 5 Introduction 7 Project Overview and Methodology 1 Executive Summary 19 National Sporting Organisations Australian rules football: Australian Football League 2 Athletics: Athletics Australia 41 Basketball: Basketball Australia 49 Boxing: Boxing Australia Inc. 61 Cricket: Cricket Australia 69 Cycling: Cycling Australia 8 Football (Soccer): Football Federation Australia 91 Hockey: Hockey Australia 107 Netball: Netball Australia 117 Rugby league: National Rugby League and Australian Rugby League 127 Rugby union: Australian Rugby Union 145 Softball: Softball Australia 159 Surf lifesaving: Surf Life Saving Australia -

THE SOUTH SEA ISLANDERS of MACKAY, QUEENSLAND, AUSTRALIA by CLIVE MOORE
THE SOUTH SEA ISLANDERS OF MACKAY, QUEENSLAND, AUSTRALIA by CLIVE MOORE From: Fitzpatrick, Judith M. (ed.), Endangered Peoples of Oceania: Struggles to Survive and Thrive, Westport (Ct), Greenwood Press, 2001 (pp 167-81) CULTURAL OVERVIEW The People Today approximately fifteen thousand Australians claim descent from Pacific Islanders taken to Queensland as indentured labourers between 1863 and 1904. Sixty- two thousand contracts were issued to around fifty thousand Islanders under the terms of the Masters and Servants Act and other legislation enacted to govern their employment.1 Queensland is huge, two and a half times as big as Texas. Until about 1880 the Islanders could be employed in any pastoral or maritime industry in the colony, but thereafter they were restricted to the sugar industry along the east coast. The majority were from eighty islands in Melanesia, mainly those included in the New Hebrides (present-day Vanuatu) and the Solomon Islands, but also from the Loyalty Islands off New Caledonia and the eastern archipelagoes of Papua New Guinea, plus a few from Tuvalu and Kiribati. Roughly one-third were from the Solomons and two-thirds fromVanuatu. The Setting The Pioneer Valley at Mackay, located midway between Brisbane and Cairns on the coast of central Queensland, is the largest sugar-producing area in Australia and has always had the largest Pacific Islander population, although the residual Islander community there is different in that Islanders of Solomons descent predominate. Descendants of nineteenth-century immigrants from the Pacific Islands, who prefer to be known as South Sea Islanders, are very visible around Mackay, making up around twenty-five hundred of the eighty thousand urban population. -

Reflecting on Race, Politics and Sport1
1 Reflecting on Race, Politics and Sport 1 Colin Tatz is Visiting Professor in Politics and International Relations at the Australian National University and founding director of the Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies, Sydney. Email: [email protected] ABSTRACT: This essay is a reflective overview of Aboriginal and Islander sport, locating their sporting achievements across the decades and in the contexts of several policy eras: the genocidal period, the protection- segregation regime, the assimilation and integration ages, the present era of ‘autonomy’. The essay focuses on the obstacles in the way of sporting success to the point where these minorities have not only become predominant in the ‘stadium sports’ but have come into their own in sports either previously closed to them or not readily accessible. While sport has done much for individuals, sport as such has had little impact on many communities now in states of distress. KEYWORDS: Aboriginal history, Aboriginal life on reserves, discrimination in sport, sporting triumphs 1 Revised version of a keynote address presented at Sporting Traditions XX: Old Stories — New Histories, Darwin, 1 July 2015. Sporting Traditions, vol. 32, no. 2 (November 2015), pp. 1–11. © Australian Society for Sports History, www.sporthistory.org 2 VOLUME 32 no 2 NOVEMBER 2015 Colin Tatz Reflecting on Race, Politics and Sport 3 Just over three decades ago I wrote the opening article in the first volume to discover just how bad it could be in the allegedly more enlightened state of this journal — ‘Race, Politics and Sport’. It was almost identical to the of Victoria, where I had the good and bad fortune to become a member text of my inaugural professorial lecture at Macquarie University in Sydney. -

2 June 2017 Service Delivery in Indigenous Communities
cl- Post Office YARRABAH 4871 Phone (07) 4056 9120 56 Sawmill Road YARRABAH Fax (07) 4056 9167 www.yarrabah.qld.gov.au Email: [email protected] ABN 30 977 526 871 2 June 2017 Service delivery in Indigenous Communities Queensland Productivity Commission PO Box 12112 George Street, QLD, 4003 YARRABAH ABORIGINAL SHIRE COUNCIL’S SUBMISSION TO THE QUEENSLAND PRODUCTIVITY COMMISSION – SERVICE DELIVERY IN REMOTE AND DISCRETE ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER COMMUNITIES Yarrabah Aboriginal Shire Council (‘YASC’ or ‘Council’ or ‘Yarrabah Council’) understand that the Queensland Productivity Commission has been asked to examine what the Queensland Government spends on services to remote and discrete communities. The aim of the inquiry is to identify what works well to improve outcomes for remote and discrete Aboriginal and Torres Strait Islander communities, and why; and what could be improved. In undertaking the inquiry, Council understands that the Commission will investigate and report on: The levels and patterns of government investment in services to remote and discrete Aboriginal and Torres Strait Islander communities in Queensland, including key drivers of expenditures and how these have, and are likely to, change over time; Interactions between investments made by State, Commonwealth, and local governments, as well as the private sector, including the role of third party service providers; The range of service delivery programs in remote and discrete Aboriginal and Torres Strait Islander communities, whether programs are related to response, management and/or prevention and early intervention, and whether there is duplication or a lack of coordination across programs; Best practice approaches for evaluating the effectiveness and efficiency of service delivery in remote and discrete Aboriginal and Torres Strait Islander communities. -

Looking to Their Futures with the Help of Some 'Former Origin Greats'
Thursday 1 August 2013 Issue 134 Looking to their futures with the help of some ‘Former Origin Greats’ in Townsville A group of Palm Island students from Bwgcolman State High School were amongst thousands who attended the fifth ‘FOGS’ Careers Expo in Townsville last week. Former Origin Greats who Scott, Sam Backo, Steve work, in hospitality and were there to try and Price, Gary Belcher, Steve others. More than 55 inspire students into a Walters, Steve Renouf exhibits provided information good career included Gene and Allan Langer. The at the expo, showcasing Miles, Greg Dowling, Colin event featured a diverse a variety of prominent range of prominent employment providers. Queensland FOGS executive chairman employment, Gene Miles said since the education and inception on FOGS expos training providers in 2008, these events with exhibits presented an array of on mining and employment and training construction, opportunities for attendees business, hospitality across the state. as well as health “(It allows) individuals to and government. talk to real people who are Pictured Top L-R: Josiah James, Renzi Watson, Palm students able to provide guidance Jalun Lowatta-Creed, Luke James, Joseph Murgha, Sarah Dalton, Julie Pearson, Gladys Ayden & Koipe career preferences and fundamentally an Castors; Above Right: Moewaiya Youngblutt; included becoming idea or direction for their Above: Jenny Pryor with her grandson Tremayne Pryor-Murray & Sam Backo, Gene Miles & Colin Scott. a mechanic, office future,” Mr Miles said. Motel expansion welcomed Palm Island Council has successfully bid for an infrastructure grant to expand the Palm Island Motel to more than double its current size. -

Emerging Issues in Land and Sea Management
Emerging Issues in Land and Sea Management Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies A workshop to map current and future research and resource needs Report of a workshop held on Wednesday 4th June 2014 at the National Native Title Conference, Coffs Harbour, NSW Prepared by Dermot Smyth, Rod Kennett, Tran Tran, Acacia Prince-Pike and Melanie Dulfer-Hyams for the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies Contents Introduction and purpose of the workshop .............................................................................................................. 2 The Way Forward ........................................................................................................................................................................ 3 Workshop Agenda ...................................................................................................................................................................... 3 Scoping Paper............................................................................................................................................................................... 4 Framing Talks ................................................................................................................................................................................ 5 Framing Talk 1: Consistency, communication and empowerment ..................................................... 5 Chrissy Grant, Deputy Chair, Indigenous Advisory Committee to the -
Official Hansard No
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA PARLIAMENTARY DEBATES SENATE Official Hansard No. 9, 2001 THURSDAY, 28 JUNE 2001 THIRTY-NINTH PARLIAMENT FIRST SESSION—NINTH PERIOD BY AUTHORITY OF THE SENATE INTERNET The Votes and Proceedings for the House of Representatives are available at: http://www.aph.gov.au/house/info/votes Proof and Official Hansards for the House of Representatives, the Senate and committee hearings are available at: http://www.aph.gov.au/hansard SITTING DAYS—2001 Month Date February 6, 7, 8, 26, 27, 28 March 1, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29 April 2, 3, 4, 5, May 22, 23, 24 June 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 August 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 September 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 October 15, 16, 17, 18, 22, 23,24, 25 November 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 December 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 RADIO BROADCASTS Broadcasts of proceedings of the Parliament can be heard on the following Parliamentary and News Network radio stations, in the areas identified. CANBERRA 1440 AM SYDNEY 630 AM NEWCASTLE 1458 AM BRISBANE 936 AM MELBOURNE 1026 AM ADELAIDE 972 AM PERTH 585 AM HOBART 729 AM DARWIN 102.5 FM CONTENTS Petitions— International Covenant on Civil Rights ....................................................... 25311 Notices— Presentation ................................................................................................. 25311 Committees— Selection of Bills Committee— Extension of Time ................................................................................... 25312 Report..................................................................................................... -

110125 Fox Sports to Screen Triple M Legends of Origin Match Live
Media Release 252525 January 2012011111 FOX SPORTS TO SCREEN ‘‘‘TRIPLE‘TRIPLE M LEGENDS OF ORIGINORIGIN’’’’ MATCH LIVE FOX SPORTS today announced that it will broadcast Sydney’s TRIPLE M LEGENDS OF ORIGINORIGIN match from Parramatta Stadium LIVE this Thursday, January 27 at 7.7.00000pm0pm AEDST on FOX SPORTS 1HD and FOX SPORTS 1. Featuring an all-star line-up of Australian sporting heroes, more than 20,000 tickets have been sold to the match to raise money for the Premier’s Flood Relief fund. The Queensland and New South Wales sides will battle it out for the Jordan Rice Shield. The unique co-production between FOX SPORTS and Triple M will screen LIVE on FOX SPORTS 1HD and FOX SPORTS 1 from 7.00pm, with HG Nelson (Greig Pickhaver), Andrew JohnsJohns, Greg Martin and Dan Ginnane calling all the action which will be simulcast on Triple M live on 104.9FM in Sydney and 104.5 FM in Brisbane plus on digital radio station Barry.com.au . Australia’s leading general sports website www.foxsports.com.au and www.triplem.com.au will also feature live streams of the broadcast. A score of the greatest names in State of Origin history (full line-up below) will be involved in the match that will be played in four 15 minute quarters, with the Queensland side coached by Wally Lewis and Phil Gould at the helm of New South Wales. Lewis, Gould and match referee Bill Harrigan will be miked up throughout the match. The match will also see FOX SPORTS commentators go head-to-head, with New South Wales legends Greg Alexander and Brett Kimmorley as well as Queensland heroes Gary Belcher and Gorden Tallis among those strapping on the boots.