Elisa Moretti Pavanello a Aplicação Das Condições
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Issues Paper on Exploring Space Technologies for Sustainable Development and the Benefits of International Research Collaboration in This Context
United Nations Commission on Science and Technology for Development Inter-sessional Panel 2019-2020 7-8 November 2019 Geneva, Switzerland Issues Paper on Exploring space technologies for sustainable development and the benefits of international research collaboration in this context Draft Not to be cited Prepared by UNCTAD Secretariat1 18 October 2019 1 Contributions from the Governments of Austria, Belgium, Botswana, Brazil, Canada, Japan, Mexico, South Africa, Turkey, the United Kingdom, United States of America, as well as from the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, the Food and Agriculture Organization, the International Telecommunication Union, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction and the World Food Programme are gratefully acknowledged. Contents Table of figures ....................................................................................................................................... 3 Table of boxes ......................................................................................................................................... 3 I. Introduction .................................................................................................................................... 4 II. Space technologies for the Sustainable Development Goals ......................................................... 5 1. Food security and agriculture ..................................................................................................... 5 2. Health applications .................................................................................................................... -

Iraq and International Terrorism
Artur WEJKSZNER Institute of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznañ Iraq and international terrorism Introduction Terrorism, most generally understood as killing in order to achieve political gain, has accompanied humanity since the dawn of history.1 This simplified definition, which is only one of many, does not aim at explaining its essence. Over more than two centuries of attempts at fully explaining it, the idea has turned out to be very difficult to grasp and, to make matters worse, due to ideological reasons, has acquired contradic- tory connotations.2 To date several hundred definitions have been formulated, defini- tions which, in all cases, do not describe the phenomenon satisfactorily.3 For the sake of this article, however, it is worth making one more attempt. Terrorism is intimately con- nected with three matters: violence, terror and politics. If these elements are considered central to this phenomenon, then the definition proposed by Bruce Hoffman is fairly important and useful. According to his definition, terrorism is the conscious creation of terror and the use of violence or threats of violence when striving to attain political change. Terrorism is conceived purposefully so that it would have a long term psycho- logical impact, going considerably beyond the immediate victim. By means of public- ity, accomplished as a result of violence, terrorists hope to achieve influence and power in order to bring about changes at a local or international level.4 Across its existence, the phenomenon has gone through various evolutionary phases. One of the latest phases is the era of international terrorism. It is difficult to pre- 1 In Conor Gearty’s opinion we can read about terrorists in historical legends, among others in Flavius who wrote about the so called sykariuses (assassins with daggers).The precursors of terrorists were also assassins (an Ishmael Shiite sect), who murdered the leaders and participants of crusades to the Holy Land (C. -

Innovation Fair
ECOSOC 2013 SUBSTANTIVE SESSION Geneva, July 2013 INNOVATION FAIR UNITAR participation This brief is based on the guidelines provided by the Office for ECOSOC Support and Coordination of DESA (in particular the background note on the Ministerial Review segment). Areas selected by UNITAR and suggested activities to be showcased: 1. Promoting food and water security - Show case: UNOSAT water resources mapping using satellite remote sensing; 2. Social media: An innovative tool for advocacy - Show case: the use of crowd sourcing and collaborative mapping in emergency response and disaster reduction. Criteria The initiatives above were selected among the applied technology and innovation work developed at UNITAR with technology partners because they meet the following criteria suggested by DESA: 1. Utilize science, technology and culture to contribute to sustainable development; 2. Demonstrate strong links between STI and Culture and the global development agenda; 3. Encourage sustainability and replicability; 4. Promote women’s inclusion; and 5. Promote partnerships and foster synergetic activities with other stakeholders. Application 1 UNOSAT water resources mapping using satellite remote sensing Description: UNOSAT is implementing in Chad an innovative project combining technology, innovation, satellite mapping and academic knowledge. Since 2012 UNOSAT and the Swiss Development Cooperation are engaged in implementing an innovative water management and capacity development activity in Chad with the ambitious aim of combining technology and learning to strengthen the national capacity in the area of water resources discovery, mapping and management. The project uses extensive radar and optical satellite technology to map water reserves that are not visible on the surface and contributes to mapping the entire water resources of the country for more efficient water management. -

LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY the Syrian Conflict: Through the Lens of Realpolitik by Alexander Ortiz a Thesis Submitted in Part
LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY The Syrian Conflict: Through the Lens of Realpolitik By Alexander Ortiz A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements For the degree of Master of Arts in International Affairs School of Arts and Sciences January 2014 To loved ones v Acknowledgments To Professors Salamey, Skulte-Ouasis, and Baroudi. Thank You for everything. Your guidance and help over the length of the program has been much appreciated. To Professor Rowayheb, thank you for being on my thesis board. vi The Syrian Conflict: Through the Lens of Realpolitik Alexander Ortiz Abstract This thesis examines power relations in the security vacuum created by the Syrian conflict. The conflicting nature of Syrian domestic politics has created a political stalemate that needs outside support to be resolved. Inaction on the part of the greater international community has allowed for regional powers to become highly entrenched in the conflict. Regional involvement and the demographics of Syrian parties have been used by popular mediums to describe the conflict as sectarian by nature. The central point of this thesis is to show that the veneer of sectarianism by all parties, both Syrian and regional, is primarily a by-product of competitive self-interest. This is done by showing that the relationships made between Syrian groups and their patrons are based on self-interest and the utility provided in these temporary unions. The seminal political theories of Locke and Hobbes concerning the foundations of political power show the Syrian groups to be acting upon political necessity, not sect. The ambitions of regional powers are analyzed through realist theory to explain power relations in an unregulated political environment both in Syria and in the region. -

The Muslim Brotherhood in Syria Year of Origin
MUSLIM BROTHERHOOD IN SYRIA Name: The Muslim Brotherhood in Syria Year of Origin: 1945 Founder(s): Mustafa al-Sibai Place(s) of Operation: Syria Key Leaders: • Mohammad Hekmat Walid: Comptroller general [Image: Al Jazeera] • Hussam Ghadban: Deputy Comptroller general [Image not available] • Mohammad Hatem al-Tabshi: Head of Shura Council [Image not available] • Omar Mushaweh: Head of media and communications [Image; source: Fox News via Omar Mushaweh] • Mulham Droubi: Spokesman [Image; source: Syria Mubasher] • Zuhair Salem: Spokesman [Image; source: Twitter] • Mohammad Riad al-Shaqfeh: Former comptroller general [Image: AFP/Getty Images] • Mohammad Farouk Tayfour: Former deputy comptroller general [Image: please take from MB entity report] • Ali Sadreddine al-Bayanouni: Former comptroller general [Image: please take from MB entity report] • Issam al-Attar: Former comptroller general [Image: Bernd Arnold] Associated Organization(s): • Al-Ikhwan al-Muslimin1 • Syrian Ikhwan2 The Syrian Muslim Brotherhood (i.e., the Syrian Brotherhood or the Brotherhood) was formed in 1945 as an affiliate of the Egyptian Muslim Brotherhood.3 The Syrian Brotherhood actively participated in Syrian politics until 1963, when the incoming pan-Arab Baath party began restricting the movement before ultimately banning the party in 1964.4 In 1964, Brotherhood member Marwan Hadid formed a violent offshoot—known as the Fighting Vanguard—whose members waged numerous terror attacks against the regime in the 1970s and early ’80s. In 1982, in order to quell a Brotherhood uprising in the city of Hama, then-Syrian President Hafez al- Assad dealt a near-fatal blow to the group, killing between 10,000 and 40,000 armed 1 Raphaël Lefèvre, Ashes of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria (Oxford: Oxford University Press, 2013), 24. -

Revision to the Programme Budget for the Biennium 2020-2021
UNITAR/BT/61/4 CORRIGENDUM Revision to the Programme Budget for the Biennium 2020-2021 Adopted by Board of Trustees at its Sixty-First Session Unedited and unformatted Revision to the Programme Budget for the Biennium 2020-2021 This page is intentionally left blank. ii Revision to the Programme Budget for the Biennium 2020-2021 Table of Contents LIST OF ABBREVIATIONS.............................................................................................................. IV INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 PROPOSED REVISION TO THE BUDGET ....................................................................................... 2 COST RECOVERY ........................................................................................................................... 4 OPERATIONAL RESERVES ............................................................................................................ 6 STAFFING ........................................................................................................................................ 6 RESULTS ....................................................................................................................................... 11 STRATEGIC OBJECTIVES (SO). RESULTS AREAS AND OUTPUTS ........................................... 17 Strategic Objective 1.1 ................................................................................................................. 17 Strategic -
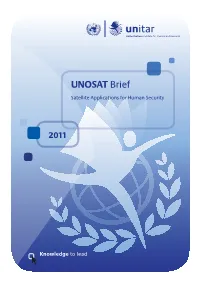
UNOSAT Brief Satellite Applications for Human Security
UNOSAT Brief Satellite Applications for Human Security 2011 Knowledge to lead Applying New Solutions for Human Security The United Nations Institute for Training and Research - Operational Satellite Applications Programme (UNITAR /UNOSAT) – is a centre of excellence for geogra- phic information and satellite imagery analysis to support the United Nations sys- tem and its member states. UNOSAT work includes analysis, mapping, and knowledge and capacity development in three main areas: Humanitarian Relief and Emergency Response, Human Security, and Strategic Territorial Planning and Monitoring. In each of these areas UNOSAT mobilizes the research and innovation skills within its team and throughout its partnerships to deliver the potential of satellite applications and geospatial information through professional imagery analysis and Geographic Information System solutions. Each year UNOSAT publishes a thematic brief illustrating achievement and results in one of the application areas in which the organization has made significant gains. This year’s brief is devoted to satellite applications for human security, with a specific focus on conflict analysis, human rights, international humanitarian law (IHL), and how technology can improve the lives of those at risk by creating human-centred solutions. Since 2001 UNOSAT has been innovating in the field of applied geospatial solutions and imagery analysis. Since 2003 the Programme has operated a 24/7 humanitarian mapping service available to the international humanitarian community at large. The service produces dedicated geospatial information and in-field technical assis- tance during humanitarian emergency response operations. Starting in 2009 UNOSAT expanded its work to applications relating to human security, in particular for the protection of human rights and the documentation of gross violations of international humanitarian law. -

Won't You Be My Neighbor
Won’t You Be My Neighbor: Syria, Iraq and the Changing Strategic Context in the Middle East S TEVEN SIMON Council on Foreign Relations March 2009 www.usip.org Date www.usip.org UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE – WORKING PAPER Won’t You Be My Neighbor UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE 1200 17th Street NW, Suite 200 Washington, DC 20036-3011 © 2009 by the United States Institute of Peace. The views expressed in this report do not necessarily reflect the views of the United States Institute of Peace, which does not advocate specific policy positions. This is a working draft. Comments, questions, and permission to cite should be directed to the author ([email protected]) or [email protected]. This is a working draft. Comments, questions, and permission to cite should be directed to the author ([email protected]) or [email protected]. UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE – WORKING PAPER Won’t You Be My Neighbor About this Report Iraq's neighbors are playing a major role—both positive and negative—in the stabilization and reconstruction of post-Saddam Iraq. In an effort to prevent conflict across Iraq's borders and in order to promote positive international and regional engagement, USIP has initiated high-level, non-official dialogue between foreign policy and national security figures from Iraq, its neighbors and the United States. The Institute’s "Iraq and its Neighbors" project has also convened a group of leading specialists on the geopolitics of the region to assess the interests and influence of the countries surrounding Iraq and to explain the impact of these transformed relationships on U.S. -

Transformations in United States Policy Toward Syria Under Bashar
Nova Southeastern University NSUWorks Department of Conflict Resolution Studies Theses CAHSS Theses and Dissertations and Dissertations 1-1-2017 Transformations in United States Policy toward Syria Under Bashar Al Assad A Unique Case Study of Three Presidential Administrations and a Projection of Future Policy Directions Mohammad Alkahtani Nova Southeastern University, [email protected] This document is a product of extensive research conducted at the Nova Southeastern University College of Arts, Humanities, and Social Sciences. For more information on research and degree programs at the NSU College of Arts, Humanities, and Social Sciences, please click here. Follow this and additional works at: https://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd Part of the Social and Behavioral Sciences Commons Share Feedback About This Item NSUWorks Citation Mohammad Alkahtani. 2017. Transformations in United States Policy toward Syria Under Bashar Al Assad A Unique Case Study of Three Presidential Administrations and a Projection of Future Policy Directions. Doctoral dissertation. Nova Southeastern University. Retrieved from NSUWorks, College of Arts, Humanities and Social Sciences – Department of Conflict Resolution Studies. (103) https://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd/103. This Dissertation is brought to you by the CAHSS Theses and Dissertations at NSUWorks. It has been accepted for inclusion in Department of Conflict Resolution Studies Theses and Dissertations by an authorized administrator of NSUWorks. For more information, please contact [email protected]. -

Results Report
2019 Results Report KNOWLED GE T O LEAD Contents Foreword 4 Introduction 6 Our Primary Output - Trained Beneficiaries 8 Partnerships - A Key Pillar to Programming 16 Peace 18 People 38 Planet 46 Prosperity 60 Multilateral Diplomacy 74 Accelerating the 2030 Agenda 88 Satellite Analysis and Applied Research 98 Financial Information 106 Foreword Nikhil Seth 5 I am pleased to present the 2019 Results Report and social inclusion pillar of our work. In addition of the United Nations Institute for Training and to our training services, other important results Research (UNITAR), which summarizes and achieved include geospatial analyses and reports highlights some of the main achievements from our issued to the international humanitarian community diverse programming over the past year. in response to requests for technical assistance. UNITAR helps Member States and other United The release of this report coincides with the Nations stakeholders implement the 2030 Agenda onset of the COVID-19 health pandemic, bringing for Sustainable Development by providing unfortunate suffering, loss of life, hardship, and modern and innovative learning services that uncertainty to people around the world. COVID-19 meet internationally recognized quality standards. is a stark reminder of our interdependent and Our activities, and the results they produce, vary vulnerable world. Much more than a reflection of tremendously in scale and impact. Ranging from the marked growth that UNITAR has achieved in short, intensive executive-type training to mid- its planet pillar programming, this year’s cover to large-sized capacity development projects spanning months and indeed years, the outcomes speaks to the fragility of our planet and to the need of our work are both immediate, by contributing for learning which will continue to shape how we to the development of knowledge and skill sets respond to challenges ahead. -

April 22, 1980 Minutes of Conversation Between Todor Zhivkov and Hafez Al-Assad, Damascus
Digital Archive digitalarchive.wilsoncenter.org International History Declassified April 22, 1980 Minutes of Conversation between Todor Zhivkov and Hafez Al-Assad, Damascus Citation: “Minutes of Conversation between Todor Zhivkov and Hafez Al-Assad, Damascus,” April 22, 1980, History and Public Policy Program Digital Archive, Central State Archive, Sofia, Fond 1-B, Record 60, File 264. Translated by Assistant Professor Kalina Bratanova; Edited by Dr. Jordan Baev and Kalin Kanchev. Obtained by the Bulgarian Cold War Research Group. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/112728 Summary: The two leaders talk about recent developments in the Middle East, US-Arab relations, and Soviet support for Arab regimes. Original Language: Bulgarian Contents: English Translation Scan of Original Document Minutes of Conversation between Todor Zhivkov and Hafez Al-Assad Damascus, 22 April 1980 OFFICIAL TALKS Between the First secretary of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party and Chairman of the State Council of the People's Republic of Bulgaria Todor Zhivkov and the Secretary General of the Arab Socialist Party /Ba'th/ and President of the Arab Republic of Syria Hafiz Al-Assad [1], The talks were attended by: From the Bulgarian side: Petar Mladenov [2] , CC BCP Politburo member and Minister of Foreign Affairs; Andrey Lukanov[3] , CC BCP associate-member and Deputy Chairman of the Council of Ministers; Milko Balev[4] , CC BCP Secretary and Chief of comrade T. Zhivkov's office; Vassil Tzanov[5] , CC BCP member and Chairman of the National Agrarian Industrial Union; George Pavlov, CC BCP member and Chairman of the Bulgarian part of the Joint Bulgarian–Syrian Commission for Economic and Technical Cooperation; and Stefan Mitev, Ambassador of the PR Bulgaria to Syria. -

United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI) 2018
United Nations Activities on Artifi cial Intelligence (AI) United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI) 2018 Table of Contents Foreword v Introduction vii Annex: Activities on Artificial Intelligence vii Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 8 International Civil Aviation Organization 11 International Labour Organisation 13 International Telecommunication Union 15 United Nations Programme on HIV/AIDS 18 United Nations Conference on Trade and Development 19 United Nations Department of Economic and Social Affairs 21 United Nations Development Programme 22 United Nations Economic Commission for Europe 24 United Nations Environment Programme 26 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 28 United Nations Population Fund 30 United Nations Global Pulse 32 United Nations High Commissioner for Refugees 34 United Nations Children’s Fund 35 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 38 United Nations Institute for Disarmament Research 40 United Nations Industrial Development Organization 42 United Nations Office for Disaster Risk Reduction 44 United Nations Institute for Training and Research 46 United Nations Office for Disarmament Affairs 48 United Nations Office for Outer Space Affairs 50 United Nations University 52 World Food Programme 54 World Health Organization 56 World Intellectual Property Organization 58 World Bank Group 59 iii Foreword Recent progress in Artificial Intelligence has been im- mense and exponential. The technology is making its way out of research labs and into our everyday lives, prom- ising to help us tackle humanity’s greatest challenges. As the UN specialized agency for information and com- munication technologies, ITU believes in the power of AI for good, and organizes the “AI for Good” series since 2017.