Golbery: Preâmbulo Para Um Enigma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA Henrique De Freitas Chim
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA Henrique de Freitas Chimenes Gil Pensamento Geopolítico Brasileiro: Golbery do Couto e Silva, Mário Travassos e a Bacia do Prata São Paulo 2017 Henrique de Freitas Chimenes Gil Pensamento Geopolítico Brasileiro: Golbery do Couto e Silva, Mário Travassos e a Bacia do Prata Trabalho de Graduação Individual (TGI) apresentado ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Geografia. Área de Concentração: Geografia Humana Orientador: Prof. Dr. Wagner Costa Ribeiro São Paulo 2017 Aprovado em: Banca Examinadora Prof.: Wagner Costa Ribeiro (orientador) Instituição: Universidade de São Paulo Julgamento:_________________________Assinatura:________________________ Prof.: Instituição: Julgamento__________________________Assinatura:_______________________ Prof.: Instituição: Julgamento__________________________Assinatura:_______________________ DEDICATÓRIA Dedico este trabalho aos meus pais com amor, admiração e gratidão por seu apoio, carinho e presença ao longo do período de elaboração deste trabalho. AGRADECIMENTOS Ao Prof. Dr. Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, pela confiança depositada, orientação e oportunidade de aprendizado. Aos membros do Grupo de Estudo do Laboratório de Geografia Política pelas discussões realizadas e conselhos que ajudaram bastante na execução deste trabalho. Aos meus pais Miguel Izildo Chimenes Gil e Lucia Helena de Freitas pelo apoio fundamental dado em muitos momentos. Aos amigos (não dará para nomear todos) que criei neste seis anos de graduação e que foram essenciais para levar a vida acadêmica. À Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) pela estrutura e apoio oferecido para a realização do trabalho. -

DISPUTAS POLÍTICAS NAS MEMÓRIAS MILITARES Diálogos - Revista Do Departamento De História E Do Programa De Pós-Graduação Em História, Vol
Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História ISSN: 1415-9945 [email protected] Universidade Estadual de Maringá Brasil Pinheiro Mancuso, Amanda CADA MEMÓRIA, UMA HISTÓRIA: DISPUTAS POLÍTICAS NAS MEMÓRIAS MILITARES Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, vol. 15, núm. 1, enero-abril, 2011, pp. 177-195 Universidade Estadual de Maringá Maringá, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305525027010 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Diálogos, v. 15, n. 1, p. 177-195, 2011. DOI: 10.4025/dialogos.v15i1.426 CADA MEMÓRIA, UMA HISTÓRIA: DISPUTAS POLÍTICAS NAS MEMÓRIAS MILITARES* Amanda Pinheiro Mancuso ** Resumo. A escassez de documentos oficiais sobre os anos do regime militar no Brasil (1964-85) abriu espaço para que as memórias se transformassem em documentos sobre uma época. Até que outros documentos se tornem públicos, os testemunhos memorialísticos devem ser lidos como documentos históricos, pois são um núcleo de informações sobre a repressão. Nesse sentido, examinamos neste artigo a memória do general Sylvio Frota, cujo episódio de sua saída do governo Geisel transformou-se em marco do processo de distensão política, buscando contribuir com as discussões sobre uma fase ainda delicada da história do Brasil Palavras-chave: regime militar; memória; militares EACH MEMORY, A HISTORY: POLITICAL DISPUTES IN THE ARMY MEMORIES Abstract. The lack of official documentation regarding the years of the military dictatorship in Brazil (1964-85) opened room for the memories to become documents about this period. -

Modelo De Capa TD
1670 MILITARES E POLÍTICA NO BRASIL Antônio Jorge Ramalho da Rocha I SSN 1415 - 4765 9 7 7 1 4 1 5 4 7 6 0 0 1 47 1 6 7 0 TEXTO PARA DISCUSSÃO Brasília, outubro de 2 0 1 1 MILITARES E POLÍTICA NO BRASIL* Antonio Jorge Ramalho da Rocha** * Este texto para discussão foi produzido com as informações disponíveis até abril de 2010. ** Professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB) e assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR). Governo Federal Texto para Secretaria de Assuntos Estratégicos da Discussão Presidência da República Ministro Wellington Moreira Franco Publicação cujo objetivo é divulgar resultados de estudos direta ou indiretamente desenvolvidos pelo Ipea, os quais, por sua relevância, levam informações para profissionais especializados e estabelecem um espaço para sugestões. Fundação pública vinculada à Secretaria As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e de Assuntos Estratégicos da Presidência da de inteira responsabilidade do(s) autor(es), não exprimindo, República, o Ipea fornece suporte técnico necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa e institucional às ações governamentais – Econômica Aplicada ou da Secretaria de Assuntos possibilitando a formulação de inúmeras Estratégicos da Presidência da República. políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro – e disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus técnicos. É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde -

Golbery: Preâmbulo Para Um Enigma
Golbery: Preâmbulo para um enigma José Amaral Argolo Doutor em Comunicação e Cultura (ECO-UFRJ), Pós-Doutorado em Jornalismo (ECA-USP), Professor Associado da Escola de Comunicação da UFRJ e Assessor Permanente do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra. Resumo Anotações sobre as relações entre Golbery do Couto e Silva e a Imprensa durante os governos militares — Para uma tentativa de (des)construção da mais conhecida Eminência Parda do Regime que se seguiu à deposição do Presidente João Goulart — A Escola Superior de Guerra e sua importância na formulação de políticas de Estado. Palavras-Chave: História das Revoluções Brasileiras. Pensamento Político e Militar no Brasil Contemporâneo. Imprensa Brasileira. Governos Militares Pós-1964. Jornalismo Especializado. Abstract: Notes on relations between Golbery do Couto e Silva and the Press during the military governments — In an attempt to (de)construction of the best known eminence grise of the Regime that followed the overthrow of President João Goulart — The National War College and its importance in the formulation of state policies. Keywords: History of Brazilian Revolutions. Brazilian Military and Political Thought in Contemporary Brazil. Brazilian Press. Military Post-1964 governments. Specialized Journalism. Personagem emblemática, Golbery do Couto e Silva projetou-se como estrategista político e autor de uma tese polêmica e premonitória intituladaConjuntura Política Nacional ― O Poder Executivo, apresentada em 1980 durante conferência na Escola Superior de Guerra (ESG), cujos extratos sobre os movimentos pendulares de compressão e descompressão do Poder no Brasil foram publicados como apêndices 72 à Geopolítica do Brasil (Editora José Olympio [trabalho esse ainda hoje debatido nas universidades]). -
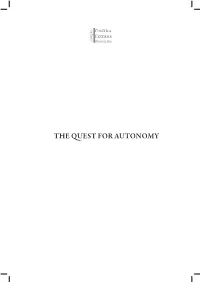
The Quest for Autonomythe Quest For
Política Externa coleção Brasileira THE QUEST FOR AUTONOMY MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS Foreign Minister Ambassador Luiz Alberto Figueiredo Machado Secretary-General Ambassador Eduardo dos Santos ALEXANDRE DE GUSMÃO FOUNDATION President Ambassador Sérgio Eduardo Moreira Lima Institute of Research on International Relations Director Ambassador José Humberto de Brito Cruz Center for Diplomatic History and Documents Director Ambassador Maurício E. Cortes Costa Editorial Board of the Alexandre de Gusmão Foundation President Ambassador Sérgio Eduardo Moreira Lima Members Ambassador Ronaldo Mota Sardenberg Ambassador Jorio Dauster Magalhães e Silva Ambassador Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão Ambassador Tovar da Silva Nunes Ambassador José Humberto de Brito Cruz Minister Luís Felipe Silvério Fortuna Professor Francisco Fernando Monteoliva Doratioto Professor José Flávio Sombra Saraiva Professor Antônio Carlos Moraes Lessa The Alexandre de Gusmão Foundation (Funag) was established in 1971. It is a public foundation linked to the Ministry of External Relations whose goal is to provide civil society with information concerning the international scenario and aspects of the Brazilian diplomatic agenda. The Foundation’s mission is to foster awareness of the domestic public opinion with regard to international relations issues and Brazilian foreign policy. Andrew James Hurrell THE QUEST FOR AUTONOMY THE EVOLUTION OF BRAZIL’S ROLE IN THE INTERNATIONAL SYSTEM, 1964 – 1985 Brasília – 2013 Copyright © Fundação Alexandre de Gusmão Ministério das Relações Exteriores Esplanada dos Ministérios, Bloco H Anexo II, Térreo, Sala 1 70170-900 Brasília-DF Telephones: +55 (61) 2030-6033/6034 Fax: +55 (61) 2030-9125 Website: www.funag.gov.br E-mail: [email protected] Editorial Staff: Eliane Miranda Paiva Fernanda Antunes Siqueira Gabriela Del Rio de Rezende Guilherme Lucas Rodrigues Monteiro Jessé Nóbrega Cardoso Vanusa dos Santos Silva Graphic Design: Daniela Barbosa Layout: Gráfica e Editora Ideal Impresso no Brasil 2014 H966 Hurrell, Andrew James. -

Ernesto Geisel: O General Da “Abertura”?
ERNESTO GEISEL: O GENERAL DA “ABERTURA”? PEDRO ERNESTO FAGUNDES1 Resumo: Nossa meta é analisar as narrativas sobre o processo de transição democrática no Brasil. Analisaremos os trabalhos que tratam da participação de diferentes segmentos da sociedade nos debates, principalmente, sobre a Anistia. Destaque para as disputas de narrativas em torno do general Ernesto Geisel. Palavras-chave: Ernesto Geisel; Anistia; Ditadura Militar. Abstract: Our goal is to analyze the narratives about the process of democratic transition in Brazil. We will analyze the works that deal with the participation of different segments of society in the debates, mainly on Amnesty. Highlight for the disputes of narratives around the general Ernesto Geisel. Keywords: Ernesto Geisel; Amnesty; Military dictatorship. 1. Prorfessor do Departamento de Arquivolgia da Universidade Federal do Espírito Santo e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS). Ernesto Geisel: um documento indiscreto Brasil teve um reencontro, em 10 de maio de 2018, com uma das figuras mais controversas da sua história recente. Nessa data, Matias Spektor, pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), divulgou numa rede social Oum memorando proveniente do Departamento de Estado dos EUA. O autor do escrito foi William Colby, diretor da Agência Central de Inteligência (CIA). O documento descrevia uma reunião, realizada em maio de 1974, entre o general Ernesto Geisel, recém empossado na presidência, com integrantes da cúpula da Comunidade de Informação. Entre os presentes dois personagens centrais dos órgãos de repressão: os generais João Batista Figueiredo e Confúcio Danton de Paula Avelino, que na época, atuavam respectivamente, na chefia do Serviço Nacional de Informação (SNI) e no Centro de Informações do Exército (CIE). -

Jun 0 R 1987 Lbraries
THE EVOLUTION OF NATIONAL URBAN DEVELOPMENT POLICIES AND STRATEGIES IN BRAZIL: AN INSTITUTIONAL PERSPECTIVE OF THE POST-REVOLUTION YEARS by CALVIN JAMES CHAMPLIN B.S. Urban Planning, University of Utah (1985) Submitted to the Department of Urban Studies and Planning in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in City Planning at the Massachusetts Institute of Technology May 1987 @ Calvin J. Champlin 1987 The author hereby grants to MIT permission to reproduce and to distribute copies of this thesis document in whole or in part. Signature of Author V Department of Urban Studies and Planning May 11, 1987 Certified by - Dr. Alan M. Strout Senior Lecturer Thesis Supervisor Accepted by t bProfessor Phill p L. Clay Chairman of the MCPCommittee Department of Ur Studies and Planning MASSACHUSETTOF TECHNOLOGY STII JUN 0 R 1987 LBRARIES ROO THE EVOLUTION OF NATIONAL URBAN DEVELOPMENT POLICIES AND STRATEGIES IN BRAZIL: AN INSTITUTIONAL PERSPECTIVE OF THE POST-REVOLUTION YEARS by CALVIN JAMES CHAMPLIN Submitted to the Department of Urban Studies and Planning on May 11, 1987 in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master in City Planning ABSTRACT This thesis traced the evolution of National Urban Development Policies and Strategies in Brazil as guided by the military National Security State from 1964 to 1984. The thesis then focused on recent trends in such policies and strategies in Brazil, covering the period from 1985, year of the inception of the civilian New Republic, to 1987. Although the National Security State actively pursued a variety of National Urban Development Policies and Strategies between 1964 and 1984 and although the New Republic has reconfirmed their importance since 1985, this thesis demonstrated that, as a whole, such policies and strategies were not successful. -
A Reformulação Da Doutrina De Segurança Nacional Pela Escola Superior De Guerra No Brasil: a Geopolítica De Golbery Do Couto E Silva ∗
A reformulação da Doutrina de Segurança Nacional pela Escola Superior de Guerra no Brasil: ∗ a geopolítica de Golbery do Couto e Silva The reformulation of the Doctrine of National Security for the Escola Superior de Guerra in Brazil: the geopolitical of Golbery do Couto e Silva Ananda Simões Fernandes ** RESUMO ABSTRACT A adaptação da Doutrina de Segurança Nacio- The adaptation of the Doctrine of National Secu- nal, no Brasil, foi feita pela Escola Superior de rity in Brazil was made by the Superior School Guerra, um dos centros de ensino militar de of War, one of the centers of military education pensamento estratégico durante a década de of strategical thought during ’50. The notion of 1950. À doutrina difundida pelos Estados Uni- geopolitics studied since 1930 prominently dos e ensinada aos oficiais brasileiros na zona between the military intellectuality was adjus- do Canal do Panamá foi adequada a noção de ted to the doctrine spread out for the United geopolítica estudada desde 1930 destacada- States and taught to the Brazilian officers in mente entre a intelectualidade militar, assim the zone of the Canal of Panama as well as the como a ênfase em elementos mais pertinentes emphasis in more pertinent elements to the à realidade brasileira, como foi a maior impor- Brazilian reality, as it was the biggest impor- tância dada à guerra revolucionária, difundida tance given to the revolutionary war, spread por franceses e ingleses, em relação à guerra out for Frenchmen and English, in relation to total. Para essa reflexão, foram utilizados -

Universidade Federal Do Espírito Santo: a Repressão Política Em Tempos De Ditadura Militar E Os Desafios Do Negacionismo No Contexto Atual Brasileiro
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO: A REPRESSÃO POLÍTICA EM TEMPOS DE DITADURA MILITAR E OS DESAFIOS DO NEGACIONISMO NO CONTEXTO ATUAL BRASILEIRO Dinoráh Lopes Rubim Almeida1 RESUMO Esta pesquisa tem por objetivo retratar a repressão política sofrida pela comunidade acadêmica (estudantes e servidores) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no período da ditadura militar, em especial durante o governo do presidente Ernesto Beckmann Geisel (1974-1979). Busca também analisar a imagem construída em torno da figura do presidente Geisel como o estadista da distensão, ou seja, "da abertura política", bem como, analisar como esse perfil foi utilizado para a consolidação da transição democrática, onde há a passagem da política ditatorial militar para os civis, em 1985. Tudo isso nos antigos moldes da cultura política "conciliatória, elitista e autoritária", característica da história brasileira. O trabalho tem a vertente de desconstruir essa imagem de Geisel, a partir de argumentos devidamente documentados. Outro aspecto da pesquisa é fazer uma breve discussão sobre o negacionismo dessa história recente, que tem ganhado força a partir da ascensão de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Palavras-chave: Geisel. Negacionismo. Universidades. Repressão 1. A MEMÓRIA CONSTRUÍDA: GEISEL, O PRESIDENTE “SACERTODE” DA ABERTURA POLÍTICA? Há 57 anos, o Golpe civil-militar de 1964 retirou da presidência do Brasil João Belchior Marques Goulart, conhecido popularmente como "Jango". Iniciava-se a Ditadura Militar que se estendeu por 21 anos (1964-1985) e teve 05 presidentes da alta patente do Exército Brasileiro2. De modo autoritário, foi imposto o controle político, econômico e social no país. 1 Doutora em História Social das Relações Políticas – UFES; Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, área de atuação: História, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Campus de Vitória/ES. -

Geopolítica Brasileira E Relações Internacionais Nos Anos 50: O Pensamento Do General Golbery Do Couto E Silva Ministério Das Relações Exteriores
GEOPOLÍTICA BRASILEIRA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOS ANOS 50: O PENSAMENTO DO GENERAL GOLBERY DO COUTO E SILVA MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Ministro de Estado Embaixador Celso Amorim Secretário-Geral Embaixador Antonio de Aguiar Patriota FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO Presidente Embaixador Jeronimo Moscardo INSTITUTO RIO BRANCO (IRBR) Diretor Embaixador Georges Lamazière A Fundação Alexandre de Gusmão, instituída em 1971, é uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e tem a finalidade de levar à sociedade civil informações sobre a realidade internacional e sobre aspectos da pauta diplomática brasileira. Sua missão é promover a sensibilização da opinião pública nacional para os temas de relações internacionais e para a política externa brasileira. Ministério das Relações Exteriores Esplanada dos Ministérios, Bloco H Anexo II, Térreo, Sala 1 70170-900 Brasília, DF Telefones: (61) 3411-6033/6034 Fax: (61) 3411-9125 Site: www.funag.gov.br THIAGO BONFADA DE CARVALHO Geopolítica Brasileira e Relações Internacionais nos Anos 50: O Pensamento do General Golbery do Couto e Silva Brasília, 2010 Direitos de publicação reservados à Fundação Alexandre de Gusmão Ministério das Relações Exteriores Esplanada dos Ministérios, Bloco H Anexo II, Térreo 70170-900 Brasília – DF Telefones: (61) 3411-6033/6034 Fax: (61) 3411-9125 Site: www.funag.gov.br E-mail: [email protected] Capa: Mary Vieira - Ponto de Encontro, 1969 - polivolume de alumínio de configuração variável - 230 placas de alumínio móveis ao redor do eixo central mais blocos de mármore 160 x 100 x 28 cm Equipe Técnica: Eliane Miranda Paiva Maria Marta Cezar Lopes Cíntia Rejane Sousa Araújo Gonçalves Erika Silva Nascimento Júlia Lima Thomaz de Godoy Juliana Corrêa de Freitas Programação Visual e Diagramação: Juliana Orem e Maria Loureiro Impresso no Brasil 2010 Carvalho, Thiago Bonfada de. -
Mestrado 2019
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS NÍVEL DE MESTRADO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS LINHA DE PESQUISA: TERRITÓRIO, HISTÓRIA E MEMÓRIA IVAN AKSELRUD DE SEIXAS A ATUAÇÃO HISTÓRICA DO EXÉRCITO NA POLÍTICA NACIONAL E A OBRA “GEOPOLÍTICA DO BRASIL”, DO GENERAL GOLBERY DO COUTO E SILVA: IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E OBJETIVOS DE UM PROJETO DE PODER ORIENTADOR: PROF. DR. SAMUEL KLAUCK FOZ DO IGUAÇU – PR 2019 1 Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste. Seixas, Ivan Akselrud A atuação histórica do exército na política nacional e a obra ?Geopolítica do Brasil?, do General Golbery do Couto e Silva: : importância histórica e objetivos de um projeto de poder / Ivan Akselrud Seixas; orientador(a), Samuel Klauck, 2019. 109 f. Dissertação (mestrado), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Foz do Iguaçu, Centro de Educação, Letras e Saúde, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras, 2019. 1. Ditadura. 2. General Golbery. 3. Geopolítica. 4. Guerra Fria. I. Klauck, Samuel . II. Título. IVAN AKSELRUD DE SEIXAS A ATUAÇÃO HISTÓRICA DO EXÉRCITO NA POLÍTICA NACIONAL E A OBRA “GEOPOLÍTICA DO BRASIL”, DO GENERAL GOLBERY DO COUTO E SILVA: IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E OBJETIVOS DE UM PROJETO DE PODER Dissertação apresentada à Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – para obtenção do título de Mestre, junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociedade, -

The Interaction of Economics and Politics in Brazil
THE INTERACTION OF ECONOMICS AND POLITICS IN BRAZIL DURING THE MILITARY DICTATORSHIP A Thesis Presented to The Faculty of the Center of International Studies Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts Carolina Siqueira Conte June 2001 THE INTERACTION OF ECONOMICS AND POLITICS IN BRAZIL DURING THE MILITARY DICTATORSHIP BY CAROLINA SIQUEIRA CONTE has been approved for the Center of International Studies by Ismail Ghazalah Professor of Economics Josep Rota Director of the Center for International Studies 3 Table of Contents Page Introduction …………………………………………………………………7 I. Introduction to the Military Regime A. Brazil and the U.S. ..…………………………………..11 B. Dictatorship in Brazil – Historical Background …..….13 C. Violence in the Authoritarian Regime ………..………16 1. Explanations for the Violence ….….…..….……17 2. The Ones Who Fought ...……………..…………18 II. Before the Military Governments A. President Kubitschek ………………………………….21 B. President Quadros and President Goulart ….……….…22 III. The Military Governmnets A. President Castello Branco ……………………………..26 B. President Costa e Silva ….……………………………..28 C. President Médici .………………………………………31 D. President Geisel – Close to the End ……………………34 E. President Figueiredo ……………………………………40 IV. Analysis of the period A. Comparative Indexes ..………………………………….….47 B. Is There Any Solution? .…………………………………....58 4 Conclusion …………………………………………………………………60 Works Cited ……………………………………………………….……….64 5 List of Tables Table 1:Year Average Rate of Sectoral Distribution of GDP …………………...49