Baixar Baixar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Implementation and Its Consequences Hearing
IRAN NUCLEAR DEAL OVERSIGHT: IMPLEMENTATION AND ITS CONSEQUENCES HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED FOURTEENTH CONGRESS SECOND SESSION FEBRUARY 11, 2016 Serial No. 114–143 Printed for the use of the Committee on Foreign Affairs ( Available via the World Wide Web: http://www.foreignaffairs.house.gov/ or http://www.gpo.gov/fdsys/ U.S. GOVERNMENT PUBLISHING OFFICE 98–602PDF WASHINGTON : 2016 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Publishing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512–1800; DC area (202) 512–1800 Fax: (202) 512–2104 Mail: Stop IDCC, Washington, DC 20402–0001 VerDate 0ct 09 2002 09:54 Mar 24, 2016 Jkt 000000 PO 00000 Frm 00001 Fmt 5011 Sfmt 5011 F:\WORK\_FULL\021116\98602 SHIRL COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS EDWARD R. ROYCE, California, Chairman CHRISTOPHER H. SMITH, New Jersey ELIOT L. ENGEL, New York ILEANA ROS-LEHTINEN, Florida BRAD SHERMAN, California DANA ROHRABACHER, California GREGORY W. MEEKS, New York STEVE CHABOT, Ohio ALBIO SIRES, New Jersey JOE WILSON, South Carolina GERALD E. CONNOLLY, Virginia MICHAEL T. MCCAUL, Texas THEODORE E. DEUTCH, Florida TED POE, Texas BRIAN HIGGINS, New York MATT SALMON, Arizona KAREN BASS, California DARRELL E. ISSA, California WILLIAM KEATING, Massachusetts TOM MARINO, Pennsylvania DAVID CICILLINE, Rhode Island JEFF DUNCAN, South Carolina ALAN GRAYSON, Florida MO BROOKS, Alabama AMI BERA, California PAUL COOK, California ALAN S. LOWENTHAL, California RANDY K. WEBER SR., Texas GRACE MENG, New York SCOTT PERRY, Pennsylvania LOIS FRANKEL, Florida RON DESANTIS, Florida TULSI GABBARD, Hawaii MARK MEADOWS, North Carolina JOAQUIN CASTRO, Texas TED S. -

Us–India Relations Under the Modi Government Hearing
U.S.–INDIA RELATIONS UNDER THE MODI GOVERNMENT HEARING BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON ASIA AND THE PACIFIC OF THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED THIRTEENTH CONGRESS SECOND SESSION JULY 24, 2014 Serial No. 113–203 Printed for the use of the Committee on Foreign Affairs ( Available via the World Wide Web: http://www.foreignaffairs.house.gov/ or http://www.gpo.gov/fdsys/ U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 88–834PDF WASHINGTON : 2014 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512–1800; DC area (202) 512–1800 Fax: (202) 512–2104 Mail: Stop IDCC, Washington, DC 20402–0001 VerDate 0ct 09 2002 16:26 Oct 09, 2014 Jkt 000000 PO 00000 Frm 00001 Fmt 5011 Sfmt 5011 F:\WORK\_AP\072414\88834 SHIRL COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS EDWARD R. ROYCE, California, Chairman CHRISTOPHER H. SMITH, New Jersey ELIOT L. ENGEL, New York ILEANA ROS-LEHTINEN, Florida ENI F.H. FALEOMAVAEGA, American DANA ROHRABACHER, California Samoa STEVE CHABOT, Ohio BRAD SHERMAN, California JOE WILSON, South Carolina GREGORY W. MEEKS, New York MICHAEL T. MCCAUL, Texas ALBIO SIRES, New Jersey TED POE, Texas GERALD E. CONNOLLY, Virginia MATT SALMON, Arizona THEODORE E. DEUTCH, Florida TOM MARINO, Pennsylvania BRIAN HIGGINS, New York JEFF DUNCAN, South Carolina KAREN BASS, California ADAM KINZINGER, Illinois WILLIAM KEATING, Massachusetts MO BROOKS, Alabama DAVID CICILLINE, Rhode Island TOM COTTON, Arkansas ALAN GRAYSON, Florida PAUL COOK, California JUAN VARGAS, California GEORGE HOLDING, North Carolina BRADLEY S. SCHNEIDER, Illinois RANDY K. WEBER SR., Texas JOSEPH P. -
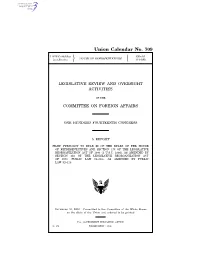
Union Calendar No. 709
1 Union Calendar No. 709 114TH CONGRESS " ! REPORT 2nd Session HOUSE OF REPRESENTATIVES 114–898 LEGISLATIVE REVIEW AND OVERSIGHT ACTIVITIES OF THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS ONE HUNDRED FOURTEENTH CONGRESS A REPORT FILED PURSUANT TO RULE XI OF THE RULES OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AND SECTION 136 OF THE LEGISLATIVE REORGANIZATION ACT OF 1946 (2 U.S.C. 190d), AS AMENDED BY SECTION 118 OF THE LEGISLATIVE REORGANIZATION ACT OF 1970 (PUBLIC LAW 91–510), AS AMENDED BY PUBLIC LAW 92–136 DECEMBER 30, 2016.—Committed to the Committee of the Whole House on the State of the Union and ordered to be printed U.S. GOVERNMENT PUBLISHING OFFICE 23–170 WASHINGTON : 2016 VerDate Sep 11 2014 03:37 Jan 05, 2017 Jkt 023170 PO 00000 Frm 00001 Fmt 4012 Sfmt 4012 E:\HR\OC\HR898.XXX HR898 SSpencer on DSK4SPTVN1PROD with REPORTS Congress.#13 U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE MEMBERSHIP 114TH CONGRESS EDWARD R. ROYCE, California, Chairman (25-19) CHRISTOPHER H. SMITH, New Jersey ELIOT L. ENGEL, New York ILEANA ROS-LEHTINEN, Florida BRAD SHERMAN, California DANA ROHRABACHER, California GREGORY W. MEEKS, New York STEVE CHABOT, Ohio ALBIO SIRES, New Jersey JOE WILSON, South Carolina GERALD E. CONNOLLY, Virginia MICHAEL T. MCCAUL, Texas THEODORE E. DEUTCH, Florida TED POE, Texas BRIAN HIGGINS, New York MATT SALMON, Arizona KAREN BASS, California DARRELL E. ISSA, California WILLIAM KEATING, Massachusetts TOM MARINO, Pennsylvania DAVID CICILLINE, Rhode Island JEFF DUNCAN, South Carolina ALAN GRAYSON, Florida MO BROOKS, Alabama AMI BERA, California PAUL COOK, California ALAN S. LOWENTHAL, California RANDY K. -

The Evolution of the Digital Political Advertising Network
PLATFORMS AND OUTSIDERS IN PARTY NETWORKS: THE EVOLUTION OF THE DIGITAL POLITICAL ADVERTISING NETWORK Bridget Barrett A thesis submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts at the Hussman School of Journalism and Media. Chapel Hill 2020 Approved by: Daniel Kreiss Adam Saffer Adam Sheingate © 2020 Bridget Barrett ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Bridget Barrett: Platforms and Outsiders in Party Networks: The Evolution of the Digital Political Advertising Network (Under the direction of Daniel Kreiss) Scholars seldom examine the companies that campaigns hire to run digital advertising. This thesis presents the first network analysis of relationships between federal political committees (n = 2,077) and the companies they hired for electoral digital political advertising services (n = 1,034) across 13 years (2003–2016) and three election cycles (2008, 2012, and 2016). The network expanded from 333 nodes in 2008 to 2,202 nodes in 2016. In 2012 and 2016, Facebook and Google had the highest normalized betweenness centrality (.34 and .27 in 2012 and .55 and .24 in 2016 respectively). Given their positions in the network, Facebook and Google should be considered consequential members of party networks. Of advertising agencies hired in the 2016 electoral cycle, 23% had no declared political specialization and were hired disproportionately by non-incumbents. The thesis argues their motivations may not be as well-aligned with party goals as those of established political professionals. iii TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES AND FIGURES .................................................................................................................... V POLITICAL CONSULTING AND PARTY NETWORKS ............................................................................... -

US Policy and Politics Fall Preview a Labor Day Beach Read Contents
dentons.com US Policy and Politics Fall Preview A Labor Day Beach Read Contents Introduction.................................................................................................3 Races.............................................................................................................4 State Initiatives of note............................................................................11 Transition Teams........................................................................................15 Dates to watch...........................................................................................16 Congress.....................................................................................................19 Puerto Rico................................................................................................23 Regulatory..................................................................................................31 Supreme Court.........................................................................................52 2 dentons.com Introduction This has been an historic and history-defying summer for US politics. Hillary Clinton has broken through the proverbial glass ceiling and become the first woman to receive a major party nomination for the highest office in the land. At the same time, she is a candidate who is below water in some polls by over 11% on her favorable/ unfavorable ratings (42%-53%) and believed by a majority of the electorate to be neither honest nor trustworthy. Yet, if the election were -

Clarification of Urban Institute Estimates of Uncompensated Care in Florida
April 21, 2015 Clarification of Urban Institute Estimates Of Uncompensated Care in Florida In 2012, we estimated that the total amount of uncompensated care provided on behalf of the uninsured in Florida would fall from $4.9 billion to $1.6 billion a year under the ACA with Medicaid expansion, a decrease of nearly 70 percent.1 Recently, the $1.6 billion has been quoted in letters from Justin M. Senior and six members of Florida’s Congressional delegation to CMS regarding the future of Florida’s Low Income Pool (LIP).2 While the Urban Institute does not have a position on the state’s waiver request for LIP, we are concerned that our estimate may have been misinterpreted as a measure of the need for LIP to continue funding uncompensated care under Medicaid expansion. The $1.6 billion estimate should not be used as an estimate of the amount that LIP would spend or need to spend on hospital care for the uninsured under Medicaid expansion. First, the estimate includes health care from all providers, not just hospitals. Second, it includes all funding sources for uncompensated care. Other programs besides the LIP waiver would continue to finance hospital uncompensated care in Florida. These include, but are not limited to, Disproportionate Share Hospital (DSH) funding under Medicare and Medicaid, Veterans Administration hospitals, and local government indigent care funding.3 Thus, the amount of uncompensated care funded through the LIP waiver would be a fraction of the $1.6 billion in total uncompensated care. We have not published an estimate of what that fraction would be because that would require much more detailed data than we currently have access to. -

Social Media Pages -- House
Social Media Pages -- House Need to know your members of Congress? Click here! Alabama Bradley Byrne (AL-1) Martha Roby (AL-2) Mike Rogers (AL-3) Robert Aderholt (Al-4) Mo Brooks (AL-5) Gary Palmer (AL-6) Terri Sewell (AL-7) Alaska Don Young (AKAL) Arizona Ann Kirkpatrick (AZ-1) Martha McSally (AZ-2) Raul Grijalva (AZ-3) Paul Gosar (AZ-4) Matt Salmon (AZ-5) David Schweikert (AZ-6) Ruben Gallego (AZ-7) Trent Franks (AZ-8) Kyrsten Sinema (AZ-9) Arkansas Rick Crawford (AR-1) French Hill (AR-2) Steve Womack (AR-3) Bruce Bruce Westerman (AR-4) California Doug LaMalfa (CA-1) Jared Huffman (CA-2) John Garamendi (CA-3) Tom McClintock (CA-4) Mike Thompson (CA-5) Doris Matsui (CA-6) Ami Bera (CA-7) Paul Cook (CA-8) Jerry McNerney (CA-9) Jeff Denham (CA-10) Mark DeSaulnier (CA-11) Nancy Pelosi (CA-12) Barbara Lee (CA-13) Jackie Speier (CA-14) Eric Swalwell (CA-15) Jim Costa (CA-16) Mike Honda (CA-17) Anna Eshoo (CA-18) Zoe Lofgren (CA-19) Sam Farr (CA-20) David Valadao (CA-21) Devin Nunes (CA-22) Kevin McCarthy (CA-23) Lois Capps (CA-24) Steve Knight (CA-25) Julia Brownley (CA-26) Judy Chu (CA-27) Adam Schiff (CA-28) Tony Cardenas (CA-29) Brad Sherman (CA-30) Pete Aguilar (CA-31) Grace Napolitano (CA-32) Ted Lieu (CA-33) Xavier Becerra (CA-34) Norma Torres (CA-35) Raul Ruiz (CA-36) Karen Bass (CA-37) Linda Sanchez (CA-38) Ed Royce (CA-39) Lucille Roybal-Allard (CA-40) Mark Takano (CA-41) Ken Calvert (CA-42) Maxine Waters (CA-43) Janice Hahn (CA-44) Mimi Walters (CA-45) Loretta Sanchez (CA-46) Alan Lowenthal (CA-47) Dana Rohrabacher (CA-48) Darrell Issa (CA-49) Duncan D. -

Florida 2016 Congressional Delegation (Democrats in Italic)
Leadership. Advocacy. Communication. Florida 2016 Congressional Delegation (Democrats in italic) District U. S. Senators & Counties Committees Representatives Include all or parts of (Library Related Committees & Subcommittees in Bold & Italic) Marco Rubio Statewide Commerce, Science and 284 Russell Senate Transportation, Subcommittee Office Building on Communications, Technology, Washington, DC, & the Internet; Foreign 20510 Relations; Select Committee on Phone: (202) 224- Intelligence; Small Business & 3041 Entrepreneurship Bill Nelson Statewide Aging; Commerce, Science 716 Hart Senate Transportation - Ranking Office Building Member; Armed Services; Phone: (202) 224- Finance 5274 1 Jeff Miller Escambia, Holmes, Armed Forces; Veterans’ Affairs, 336 Cannon Okaloosa, Santa Rosa, & Chairman; House Permanent Phone: (202) 225- Walton Select Committee on Intelligence 4136 2 Gwen Graham Bay, Calhoun, , Franklin, Armed Services, Agriculture 1213 Longworth Gadsden, Gulf, Holmes, Phone: (202) 225- Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Madison, Taylor, 5235 Wakulla, & Washington, 3 Ted Yoho Alachua, Bradford, Clay, Agriculture; Foreign Affairs 511 Cannon Columbia, Dixie, Gilchrist, Phone: (202) 225- Hamilton, Lafayette, 5744 Levy, Madison, Marion, Suwannee & Union 4 Ander Crenshaw Baker, Duval, & Nassau Appropriations 2161 Rayburn Phone: (202) 225- 2501 5 Corrine Brown Alachua, Clay, Duval, Transportation and 2111 Rayburn Lake, Marion, Orange, Infrastructure; Veteran’s Affairs Phone: (202) 225- Putnam, & Seminole 0123 6 Ron DeSantis Flagler, Putnam, -

Broward Metropolitan Planning Organization Federal Update December 16, 2014 - January 9, 2015
800 17th Street, NW, Suite 1100 Washington, DC 20006 T 202.955.3000 | F 202.955.5564 Broward Metropolitan Planning Organization Federal Update December 16, 2014 - January 9, 2015 Appropriations Update: On December 13, the Senate voted 56-40 in favor of a cromnibus appropriations measure for fiscal year 2015. The $1.092 trillion spending bill includes 11 out of the 12 annual appropriations bills, with the sole exception of the Department of Homeland Security (DHS). Senator Bill Nelson (D-Fla.) voted in favor of the measure, while Senator Marco Rubio (R-Fla.) voted against. DHS funding was excluded from the cromnibus so that the new Republican controlled Congress can formulate a strong response to the president's executive order on illegal immigration. Funding for DHS will be extended at current levels through February 27. Earlier in the week, on December 11, the House narrowly passed the bill by a vote of 219-206. In the House, 218 votes were required for passage. Republican leadership had to postpone the vote for several hours after dozens of members on both sides of the aisle voiced objections to the legislation. In the meantime, Congress was forced to adopt a two-day continuing resolution (CR) since the government had been operating under a CR that expired at midnight on December 11. As expected, President Obama later signed the bill into law on December 16. Overall, the bill provides $53.8 billion for transportation, housing, and urban development activities – $2.9 billion or 6 percent more than FY 2014. When taking into consideration obligations from Highway Trust Fund monies, advance appropriations, and receipts and collections, the overall funding totals $107.3 billion. -

Medidas Antidumping E Política Doméstica O Caso Da Citricultura Estadunidense
Medidas antidumping e política doméstica o caso da citricultura estadunidense Camilla Silva Geraldello SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros GERALDELLO, CS. Medidas antidumping e política doméstica: o caso da citricultura estadunidense [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, 187 p. ISBN 978-85- 7983-665-7. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0. Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. MEDIDAS ANTIDUMPING E MEDIDAS MEDIDAS POLÍTICA DOMÉSTICA O CASO DA CITRICULTURA ANTIDUMPING ESTADUNIDENSE CAMILLA SILVA GERALDELLO E POLÍTICA DOMÉSTICA DOMÉSTICA E POLÍTICA CAMILLA SILVA GERALDELLO CAMILLA SILVA Capa_Medidas_antidumping_(impresso).indd 1 28/11/2015 01:10:23 MEDIDAS ANTIDUMPING E POLÍTICA DOMÉSTICA Miolo_Medidas_antidumping_(GRAFICA).indd 1 31/12/2015 14:52:36 CONSELHO EDITORIAL ACADÊMICO Responsável pela publicação desta obra Samuel Alves Soares Suzeley Kalil Mathias Flávia de Campos Mello Sebastião Velasco e Cruz Miolo_Medidas_antidumping_(GRAFICA).indd 2 31/12/2015 14:52:47 CAMILLA SILVA GERALDELLO MEDIDAS ANTIDUMPING E POLÍTICA DOMÉSTICA O CASO DA CITRICULTURA ESTADUNIDENSE Miolo_Medidas_antidumping_(GRAFICA).indd 3 31/12/2015 14:52:47 © 2015 Editora Unesp Cultura Acadêmica Praça da Sé, 108 01001-900 – São Paulo – SP Tel.: (0xx11) 3242-7171 Fax: (0xx11) 3242-7172 www.culturaacademica.com.br www.livrariaunesp.com.br [email protected] CIP – Brasil. -

GUIDE to the 115Th CONGRESS
th GUIDE TO THE 115 CONGRESS - FIRST SESSION Table of Contents Click on the below links to jump directly to the page • House and Senate Calendar………..….….…………...1 • Federal Holidays………………………..………….……......2 • U.S. Senate……………………………………….………..……3 o Leadership…….…………………………………..…...4 o Committees………..…………………………………..5 o Health Committee Rosters………….…………..6 • U.S. House………………………………….…………….……..9 o Leadership…………………………………………..…10 o Committees…………………………………...……..11 o Health Committee Rosters………….………….12 • Health Professionals in the 115th Congress……..17 • Freshman Member Biographies……….…………..…18 o Senate………………………………..….…………..….18 o House…………………………………………..………..19 Prepared by Hart Health Strategies Inc. www.hhs.com, updated 2/5/17 Prepared by Hart Health Strategies Inc. www.hhs.com, updated 2/5/17 1 Office of Personnel Management (OPM) Federal Holidays: • Monday, January 2: New Year’s Day* • Monday, January 16: Birthday of Dr. Martin Luther King, Jr. • Friday, January 20: Inauguration Day ** • Monday, February 20: Washington’s Birthday (President’s Day)*** • Monday, May 29 2: Memorial Day • Tuesday, July 4: Independence Day • Monday, September 4: Labor Day • Monday, October 9: Columbus Day • Friday, November 10: Veteran’s Day**** • Thursday, November 23: Thanksgiving Day • Monday, December 25: Christmas Day * January 1, 2017 (the legal public holiday for New Year’s Day), falls on a Sunday. For most Federal employees, Monday, January 2, will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See section 3(a) of Executive order 11582, February 11, 1971.) ** Inauguration Day, January 20, 2017, falls on a Friday. An employee who works in the District of Columbia, Montgomery or Prince George's Counties in Maryland, Arlington or Fairfax Counties in Virginia, or the cities of Alexandria or Fairfax in Virginia, and who is regularly scheduled to perform nonovertime work on Inauguration Day, is entitled to a holiday. -

Representative Tom O'halleran Representative Andy Biggs Senator
Member-Elect Info (As of December 19, 2016) As members-elect prepare for their swearing-in on January 3rd, the information below provides interim contact information for each of the 63 newly elected members in both the House and Senate. This information was taken from campaign websites and other resources to assist with scheduling an in-person meeting with your new member in advance of their arrival to DC. For any questions, please don’t hesitate to reach out to [email protected]. Representative Tom O'Halleran Arizona (D-AZ-01) Seat previously held by: Ann Kirkpatrick (D) Contact Info Daniel Martin Special Assistant [email protected] Barry Klein Transition Aide [email protected] Representative Andy Biggs Arizona (R-AZ-05) Seat previously held by: Matt Salmon (R) Contact Info Adam Deguire Transition Co-Chair [email protected] Eddie Farnsworth Transition Co-Chair [email protected] Senator Kamala Harris California (D) Seat previously held by: Barbara Mikulski (D) Contact Info Brent Robinson Outreach Director [email protected] Representative Ro Khanna California (D-CA-17) Seat previously held by: Mike Honda (D) Contact Info Michael Ambler Transition Aide [email protected] Representative Jimmy Panetta California (D-CA-20) Seat previously held by: Sam Farr (D) Contact Info [email protected] Representative Salud Carbajal California (D-CA-24) Seat previously held by: Louis Capps (D) Contact Info Jeremy Tittle Chief of Staff [email protected] Representative Nanette Barragan California