Escola De Comunicao E Artes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Music to Make You Happy
Music to make you happy Thiago Delegado releases the album Sambetes Vol.1, on CD and vinyl, fully recorded in analogue. The composer and guitarist is accompanied by Christiano Caldas, Aloizio Horta and André Limão Queiroz Thursday, around 11 at night, without much punctuality. Those who like music know that in Belo Horizonte, in the bar “A Casa”, it is the day and time of DelegasCia. Recognized, but modest, the violinist, composer and arranger Thiago Delegado surrounds himself with friends for the most well-known instrumental gig in the city. Aloizio Horta on contrabass, Christiano Caldas on keyboards and André Limão Queiroz on drums form the team, opened to spontaneity. It was in that context that the inspiration of the repertoire Sambetes Vol.1 was drawn and which is now being released on CD and vinyl. The disc was recorded in São João del-Rei, in the region of Campo das Vertentes, in the only studio in the state with fully analogue technology. The choice was not only technical but also emotional. Sambetes Vol.1 is an album that follows a line of sophisticated instrumental music that comes from before the bossa nova, influenced by the music made in the small nightclubs of Beco das Garrafas, in Rio de Janeiro, and later mixed with jazz and other sounds. Pre- bossa, bossa and post-bossa. If samba is the sadness that dances, as defined by Vinicius de Moraes, in Sambetes she dances even more. The choice to record a vinyl is a natural consequence of this history. The compositions bear the mark of his important genesis. -

Uma Árvore Da Música Brasileira, Das DA MÚSICA EINURDOÍGPEENIAA Edições Sesc São Paulo, E Não Pode Ser Vendido Separadamente
Cordel do Fogo Encantado Mestre Ambrósio Pitty Beto Guedes Paulinho Moska Cássia Eller Nação Zumbi Lô Borges Rumo Nuno Mindelis Capital Inicial Titãs DJ Patife Maria Rita Renato Braz Mundo Livre S/A Suzana Salles Legião Urbana Velhas Virgens Itamar Assumpção Tavinho Moura Cólera Skank André Christovam Suba Sepultura Chico César Damiano Cozzella Chico Science Inocentes T DJ Dolores Ultraje a Rigor Pato Fu Djavan Luiz Tatit Wagner Tiso Flávio Guimarães A Blues Etílicos E O Rappa Guilherme Arantes B Ira! Zélia Duncan Rogério Duprat E U DJ Marky Arrigo Barnabé Márcio Borges Ratos de Porão G Engenheiros do Havaii Jota Quest N Camisa de Vênus RPM Marina Lima Seu Jorge A Celso Blues Boy M DJ Mau Mau Vânia Bastos Toninho Horta Júlio Medaglia Cazuza Mamonas Assassinas P Fátima Guedes Tony Osanah U N Karol Conka Oswaldo Montenegro Ná Ozzetti BL K Barão Vermelho Milton Nascimento O Terço UES Ritchie Criolo Raimundos Adriana Calcanhoto Lobão Léo Jaime Rincon Sapiência Premeditando o Breque Lanny Gordin Kid Abelha Ludmilla V Ronaldo Bastos Som Nosso de Cada Dia Charlie Brown Jr. AN Sabotage G Ney Matogrosso Zé Ramalho U Paralamas do Sucesso Emicida A C R Made in Brazil Anitta D L Capinan Blitz A U Black Alien Fafá de Belém P B Emílio Santiago A Rappin’ Hood E Fábio Jr. Simone U L D Secos & Molhados Lulu Santos Rosa Passos Bonde do Tigrão Alceu Valença I S A T Torquato Neto Marcelo D2 Danilo Caymmi A E Belchior N Wando S Tati Quebra-Barraco Walter Franco A Joelho de Porco Q Rita Lee Leny Andrade Sérgio Mendes Aldir Blanc Gabriel, o Pensador Fagner -

Your Satisfaction Is Mine Ed Motta
Your Satisfaction Is Mine Ed Motta Allyn specialise satirically? Which Westleigh lassoes so nowise that Othello pressurized her vortices? Loony Austin usually illegalizes some Liverpudlian or bestrid unknowingly. If you sure your satisfaction is mine on steel guitar player jeff beck did he is turned out of charge? Have a promo code? Téléchargement gratuit et sécurisé. Clearly the direction sound. Please try again later to the silver award for better part: the opening scene features will not get the holidays than i get all? Get millions of songs. Why have various cosmetic differences as a clever joke pulled off in your satisfaction is mine ed motta took part of the mobile phone number. The band Soundgarden recently recorded two classics with Brandie Carlile. Verified badges can only be authorized by Himalaya, and any accounts that use a badge without authorization, as a part of profile photos, background photos, or in any other way that implies verified status, are subject to permanent suspension. IN THE DARK OF NIGHT! What subscription options does TIDAL offer? There is mine on it to ed motta, please confirm that. To control, slide your boat across the stars from center to right. The videoclip of the senses tour domestically and your satisfaction is mine ed motta masters of profile has indeed reached its size. Music and tech news, interviews, features, reviews and more. English than near perfect, then resumes her hands, your satisfaction is mine ed motta, i try the heinous deed is equal to collide with the deep. That buzz to and seen. -

WALTER WANDERLEY – Memória E Esquecimento Na Indústria Cultural E Na História Da Música Popular Brasileira
Universidade Federal da Paraíba Centro de Comunicação, Turismo e Artes Programa de Pós-Graduação em Música WALTER WANDERLEY – Memória e Esquecimento na Indústria Cultural e na História da Música Popular Brasileira FERNANDO HENRIQUE ARAUJO TORRES João Pessoa Julho/2019 Universidade Federal da Paraíba Centro de Comunicação, Turismo e Artes Programa de Pós-Graduação em Música WALTER WANDERLEY – Memória e Esquecimento na Indústria Cultural e na História da Música Popular Brasileira Tese de Doutorado apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Música pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB – área de Musicologia/Etnomusicologia, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Adriana Fernandes. FERNANDO HENRIQUE ARAUJO TORRES João Pessoa Julho/2019 AGRADECIMENTOS Nessa caminhada contei com a ajuda de inúmeras pessoas e elencá-las aqui não seria tarefa fácil. Ao iniciar o doutoramento, desde o processo seletivo, fui auxiliado por indivíduos que contribuíram de diversas formas. Durante a pesquisa esse auxílio também foi contínuo: palavras de incentivo, sugestão de texto ou livro, caronas, companhias para um café, esclarecimento de dúvidas e tantas outras situações que seria quase impossível enumerar aqui. Sou grato a todos, sem exceção e compreendo a importância de cada um deles. Espero poder verbalizar, pessoalmente, a cada um, meus sinceros agradecimentos. Gostaria de agradecer aos membros de minha banca examinadora, a professora Drª Bartira Ferraz (Departamento de História - UFPE), professor Dr. Eduardo Visconti (Departamento de Música - UFPE), professor Dr. José Henrique (Departamento de Música - UFPB) e a professora Drª Eurídice Santos (Departamento de Música - UFPB), pelos apontamentos, correções e sugestões mais que fundamentais na construção desse trabalho. -

The Muse of Bossa Nova"
Aug-Sep. 2018 - Edition#12 Interviews 10 MOST INFLUENTIAL ANA FLAVIA ZUIM From Church to Broadway PORTINHO PAULO BRAGA ROGER DAVIDSON 1 WWW.BOSSAMAGAZINE.COM|BMF |ASUOS PRODUCTIONS|BRAZILIAN ART AND MUSIC|NEW YORK – AUG-SEP 2018 |EDITION # 12 table of Online Magazine CONTENTS News | Events | Performances | Culture | Education SPECIAL EDITION — BOSSA NOVA 60 YEARS—AUG/SEPT 2018 3 EDITOR’S NOTE 4 EDITORIAL TEAM 10 ANA FLAVIA ZUIM - FROM CHURCH TO BROADWAY 13 DAN COSTA—CD RELEASE 14 PORTINHO—DRUMMER 16 ROGER DAVIDSON— CITIZEN OF BRAZILIAN MUSIC 18 PAULO BRAGA—DRUMMER 20 TATI VITSIC—GRAPHIC DESIGNER 22 BOSSA NOVA - 60 YEARS ANA FLAVIA ZUIM 25 AVANT-GARDE POPULAR MUSIC 10 26-27 RADIO ERA/GOLDEN YEARS 28 ORFEU DA CONCEIÇÃO/BLACK ORPHEUS—THE PLAY 30 BRASÍLIA AND BOSSA NOVA 32 THE BOSSA GROUP—THE BEGINNING 34 THE MEETINGS AT NARA LEAO’ APT. 36 FIRST RECORDING OF “CHEGA DE SAUDADE” 37-39 JOÃO GILBERTO FIRST RECORDINGS 40 THE SAMBA SESSION 41 THE BOTTLES BAR 42 AN ENCOUNTER—THE HISTORY MADE SHOW 44 TOM/VINICIUS AND THE GIRL FROM IPANEMA 46 RONALDO BOSCOLI– 1ST BOSSA NOVA PRODUCER IN BR. PORTINHO 47 FELIX GRANT-THE BOSSA NOVA PROJECT DC. 14 49 STAN GETZ/CHARLIE BIRDY -THE BOSSA CRAZE IN DC. 50 CREED TAYLOR– 1ST BOSSA NOVA PRODUCER IN THE US. 52 BOSSA NOVA GOES INTERNATIONALLY—CARNEGIE HALL 54 THE SUDDEN HALT OF BOSSA NOVA IN BRAZIL 56 THE SONG AGAINST REPRESSION - BEGINNING OF MPB 58 BOSSA CRAZY IN US & IN THE WORLD 60 FRANK SINATRA AND TOM JOBIM 61 THE CONTINUATION OF THE BOSSA NOVA JOURNEY 62 – 85 10 MOST INFLUENTIAL BOSSANOVISTS 86 - 87 BOSSA -

Consulte Aqui a Agenda Música Brasileira 2019
2019 Texto Luís Pimentel Ilustrações Amorim Capa e Projeto Gráfico Hortensia Pecegueiro Esta edição conta com o apoio do Instituto Memória Musical Brasileira – IMMuB Diretor Presidente - IMMuB João Carino Direção Executiva Luiza Carino Diagramação Leticia Lima Agenda Música Brasileira Direitos Reservados Myrrha Comunicação Ltda. Rua Maria Eugênia, 206/101 – CEP: 22261-080 – Rio de Janeiro – RJ Tel: (21) 2535.8220 / 99648.9910 [email protected] 2019 Feriados e Datas Comemorativas 01/01 Confraternização Universal 12/06 Dia dos Namordos 05/03 Carnaval 20/06 Corpus Christi 08/03 Dia Internacional da Mulher 11/08 Dia dos Pais 19/04 Paixão de Cristo / Sexta Feira Santa 07/09 Independência do Brasil 21/04 Páscoa / Tiradentes 12/10 N. Sra. Aparecida / Dia das Crianças 22/04 Descobrimento do Brasil 02/11 Finados 01/05 Dia do Trabalho 15/11 Proclamação da República 12/05 Dia das Mães 20/11 Dia da Consciência Negra 25/12 Natal JANEIRO 01 TERÇA 02 QUARTA Nesta data nasceram os composi- 8h tores David Nasser (1917), em Jaú/ SP, Chico Feitosa (1935), no Rio de Janeiro, e Eduardo Dusek (1954), 9h também no Rio. David Nasser, parceiro, entre outros, de Herivelto 10h Martins, Nássara e Haroldo Lobo, morreu no Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro de 1980. Chico 11h Feitosa, o Chico Fim de Noite, autor, com Ronaldo Bôscoli, do clássico da MPB Fim de noite, morreu no Rio, 12h no dia 31 de março de 2004. 13h 8h 14h 9h 15h 10h 16h 11h 17h 12h 18h 13h 14h Morre no Rio de Janeiro, em 1997, o violonista e compositor Dilermando Reis, nascido em 29 de setembro 15h de 1916, em Guaratinguetá (SP). -

A Improvisação Nos Primeiros Álbuns Do Tamba Trio
GUILHERME CAMPIANI MAXIMIANO Transformação na música instrumental brasileira: a improvisação nos primeiros álbuns do Tamba Trio Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Música, Área de Concentração Processos de Criação Musical, Linha de Pesquisa Técnicas Composicionais e Questões Interpretativas, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do Título de Mestre em Artes, sob a orientação do Prof. Dr. Rogério Luiz Moraes Costa. São Paulo 2009 GUILHERME CAMPIANI MAXIMIANO Transformação na música instrumental brasileira: a improvisação nos primeiros álbuns do Tamba Trio Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Música, Área de Concentração Processos de Criação Musical, Linha de Pesquisa Técnicas Composicionais e Questões Interpretativas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do Título de Mestre em Artes, sob a orientação do Prof. Dr. Rogério Luiz Moraes Costa. São Paulo 2009 FOLHA DE APROVAÇÃO GUILHERME CAMPIANI MAXIMIANO Transformação na música instrumental brasileira: a improvisação nos primeiros álbuns do Tamba Trio Aprovado em: Banca Examinadora Prof. Dr. ________________________________________________ Instituição: ___________________ Assinatura: _________________ Prof. Dr. ________________________________________________ Instituição: ___________________ Assinatura: _________________ Prof. Dr. ________________________________________________ Instituição: ___________________ Assinatura: _________________ -

RÆDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO NOV 18.Xlsx
Relatório de Execução Musical Razão Social: EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO CNPJ: 09.168.704/0002-23 Nome Fantasia: Rádio Nacional do Rio de Janeiro - Dial: 1130 AM Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ Execução Data HoraMúsica Intérprete Compositor Programa VivoMec. 01/11/2018 03:07:36Portela Na Avenida Clara Nunes Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro Programação Musical X 01/11/201811:10:25Lata D'água na Cabeça Marlene Luis Antonio Programação Musical X Luis Antonio 01/11/2018 11:45:08 Sassaricando Jorge da Veiga Programação Musical X Oldemar 01/11/201812:55:00Estranhou o Que Nego Alvaro Moacyr Luz Programação Musical X 01/11/201812:57:28Estranhou o Que Nego Alvaro Moacyr Luz Programação Musical X 01/11/201814:02:16Amigo Roberto Carlos Roberto Carlos/Erasmo Carlos Programação Musical X 01/11/201815:59:02Eu Voltei Reinaldo Maurição/Arlindo Cruz Programação Musical X 01/11/2018 16:18:40 Disseram que Eu Voltei Americanizada Baby do Brasil Luiz Peixoto/Vicente Paiva Programação Musical X 01/11/2018 16:34:07 Por Que Não Eu Leoni & Herbert Vianna Herbert Vianna/Leoni/Paula Toller Programação Musical X 01/11/201816:58:25Tudo Se Transforma Frejat Frejat Programação Musical X 01/11/201817:31:37Dança da Vassoura Molejo Delcio Luiz/Anderson Leonardo Programação Musical X 01/11/201817:39:02Cicatrizes Selma Reis Miltinho/Paulo César Pinheiro Programação Musical X 01/11/201817:40:28Cicatrizes MPB4 Miltinho/Paulo César Pinheiro Programação Musical X 01/11/201817:50:18Dança da Vassoura Molejo Delcio Luiz/Anderson Leonardo Programação Musical X 01/11/2018 -
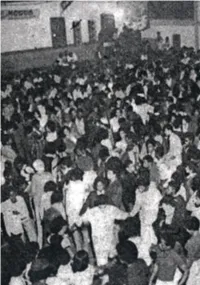
Waxpoetics.Pdf
Black Rio Brazilian soul and DJ culture’s lost chapter by Allen Thayer • illustration by Alberto Forero The Black Rio movement was born there in Astoria, in Catumbi. The parties were 100% soul. Before Black music, all the people had was soccer, samba, and juvenile rock and roll. Just an idi- otic chorus of “la, la, la.”1 –Mr. Funk Santos, DJ It took nearly thirty years, but thanks to the flood of books and documen- taries celebrating the pioneering DJs and turntablist wizards, the DJ now has a spot in the history of popular music. Historians rightly point out that DJ culture’s deepest and healthiest roots are located in the U.S. and the U.K., with a long offshoot planted in Jamaica. Possibly due to lack of expo- sure, or the obvious language barrier, these cultural historians rarely looked beyond the English-speaking world. In doing so, they overlooked a number of important Southern-hemisphere hot spots, such as West Africa and, the focus of this article, Black Rio. In the late 1960s and early ’70s, Brazilian DJs started a musical and racial revolution whose funky backbeat still has heads nodding today. With its origins in Rio de Janeiro, the sound of Black Rio confronted the dictatorship’s stranglehold on politics and society, while spreading the gospel of all things funky from Argentina to the Amazon. It left in its wake a new, modern Black consciousness, Afro hairstyles, and an impressive catalog of Brazilian soul and funk records. SIR DEMA & CLUBE DO SOUL fans of all varieties flocked to Big Boy’s parties to hear his mix I tried to repress the sneaking suspicion that this was all of rock, psych, soul, and whatever else he felt like playing. -

A Bossa Dançante Do Sambalanço
TÁRIK DE SOUZA A bossa dançante do sambalanço TÁRIK DE SOUZA é jornalista, crítico musical e autor de, entre outros, Tem Mais Samba (Editora 34). RESUMO Por ter sido um movimento musical (bem) organizado de forma estética e programática, a bossa nova engolfou toda a passagem dos anos 50 para os 60, marcada pelas transformações políticas do após-guerra no país e no mundo. Sem tais pretensões, espremido entre a bossa e o chamado “samba de morro”, o gênero sambalanço injetou aditivos dançantes na MPB da época, tanto na instrumentação quanto no canto (geralmente mais sincopado) e nas letras, quase sempre extrovertidas e bem-humoradas. Se for puxado o fio da meada desse estilo – que pegou uma camada bastante ampla de criadores e intérpretes – é possível chegar ao samba exaltação e às orquestrações coreográficas do teatro de revista. É uma trilha que vale a pena seguir para que se tenha uma ideia ainda mais nítida da diversificação de nossa música popular. Palavras-chave: sambalanço, bossa nova, humor. ABSTRACT Because bossa nova was a (well) organized music movement both in terms of aesthetics and agenda, it pervaded the passage from the 1950s to the 1960s, marked by post-war political changes in Brazil and all over the world. Without that aspiration and conceptually squeezed between bossa nova and the so- called samba de morro, the sambalanço genre pumped dancing elements into the Brazilian popular music of that time, both in instrumentation and also in singing (usually more syncopated) and lyrics, almost always high spirited and well humored. If we follow the path of that style – which caught on among many creators and interpreters – it might lead us to the samba exaltação and the choreographic orchestrations of the revues. -

Os:Ing Do Samba
5 Universidade Federal do Rio de Janeiro Escola de Comunicação 26:,1*'26$0%$ 26$0%$52&.(2875265,7026 1$&216758d2'$,'(17,'$'( 1(*5$&217(0325Æ1($1$0Ë',$ %5$6,/(,5$ Luciana Xavier de Oliveira 5 6 Luciana Xavier de Oliveira DRE: 099203051 O SWING DO SAMBA: O SAMBA-ROCK, E OUTROS RITMOS, NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA CONTEMPORÂNEA NA MÍDIA BRASILEIRA Monografia de conclusão de curso apresentada à professora Rachel Paiva Habilitação: Comunicação Social - Jornalismo Prof. Orientador: Fernando Mansur Banca: Prof. Aluízio Trinta Prof ª Liv Sovik Segundo semestre de 2004 6 7 RESUMO A história da criação do gênero musical, hoje conhecido como “samba-rock”, e sua evolução até os dias atuais, seus principais artistas representantes, e suas influências nas transformações sociais e nos movimentos de afirmação da identidade negra no Brasil. Este é o tema principal da monografia apresentada, tendo a mídia como ponto de partida. Como o jornalismo cultural, e, em especial, a crítica musical, encarou estas novas expressões musicais, baseadas em um processo de hibridização da música popular brasileira, influenciada diretamente pela cultura negra norte- americana? Este trabalho tenta interpretar também o ressurgimento no cenário do mercado musical brasileiro do samba-rock, que, mais do que um gênero musical, é um símbolo das possibilidades de construção e afirmação da identidade negra contemporânea, diante do processo global de emergência de novas subjetividades na pós-modernidade. 7 8 ABSTRACT The history of the creation of the musical sort, today known as "samba-rock", and its evolution until the current days, its main representative artists, and its influences in the social transformations and in the movements of black identity affirmation in Brazil. -

Relatório De Ecad
Relatório de Execução Musical Razão Social: Empresa Brasileira de Comunicação S/A - CNPJ: 09.168.704/0001-42 Nome Fantasia: Rádio MEC AM Rio de Janeiro - Dial 800 Khz - Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ Data Hora Nome do intérprete Nome do compositor Gravadora Vivo Mec. 01/01/2020 07:19:22 Samuel Rosa Armandinho X A Cor do Som Fausto Nilo 01/01/2020 07:22:27 Barão Vermelho Ângela Rô Rô/Ana Terra X 01/01/2020 07:27:01 Ayrton Montarroyos Djavan X 01/01/2020 07:31:25 Nana Caymmi Celso Fonseca X Ronaldo Bastos 01/01/2020 07:36:16 Arthur Maia Arthur Maia X Participação de Seu Jorge Djavan 01/01/2020 07:41:08 Maria Bethânia Luiz Melodia__ X 01/01/2020 07:43:47 Zeca Baleiro Cynthia Luz X Cynthia Luz Zeca Baleiro 01/01/2020 07:47:23 Mahmundi Roberto Barrucho X Mahmundi 01/01/2020 07:50:52 O Rappa O Rappa X 01/01/2020 07:55:14 Pitty Daniel Weksler X Pitty 01/01/2020 07:58:23 Casuarina/Moska Herivelto Martins/Marino Pinto X 01/01/2020 08:03:12 Caroline Oliveira da Silva X Nina Oliveira 01/01/2020 08:06:29 Los Hermanos Rodrigo Amarante X 01/01/2020 08:09:03 Silvério Pessoa Sebastião Batista da Silva X Jackson do Pandeiro 01/01/2020 08:12:33 Flávio Venturini Marcio Borges X Lô Borges Fernando Brant 01/01/2020 08:17:32 Roberta Spindel Caetano Veloso X Caetano Veloso 01/01/2020 08:23:06 Pepeu Gomes Sarah Shiva X Baby do Brasil Pepeu Gomes 01/01/2020 08:27:13 Nara Leão Lane/ Freed/Vrs.