Impactos Ciencias Bio E Saúde 3.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

On- and Off-Premise Drinking Choices Among Indigenous Australians: the Influence of Socio-Spatial Factors
Drug and Alcohol Review (2010) DOI: 10.1111/j.1465-3362.2009.00144.x COMMENTARY On- and off-premise drinking choices among Indigenous Australians: The influence of socio-spatial factors Introduction Historical background The geographies of alcohol consumption have been Banning Indigenous patrons from the hotel bar (or examined by researchers from several different disci- serving them from a slot out the back) was the most plines. Alcohol researchers have investigated spatial and egregious manifestation of the policy of alcohol prohi- environmental influences on drinking [1], the impact of bition for Indigenous people. Prohibition was just one outlet density [2] and the ‘bunching’ of particular types example of the racial segregation in Australia that sepa- of venue [3,4]. Australian criminological research has rated people spatially, socially and economically [13]. It examined for example, the location and type of venue created geographies of drinking and drunkenness sepa- associated with alcohol related assaults [5,6], the rating Indigenous and non-Indigenous Australians— regional geography of offending [7] and the policy the vestiges of which still exist today. Prohibition implications of this [8]. affected all individuals of Aboriginal descent as well as Human geographers have been slower to engage in Torres Strait and Pacific Islanders. Racially based nuanced empirical studies of the spatialities of drink- alcohol restrictions were introduced and administered ing and Jayne, Valentine and Holloway suggest that by each state, commencing with New South Wales in geographical research has under theorised the role of 1838. The consequence was public drinking with sup- space and place as key constituents of alcohol, drink- plies purloined when and how people could get hold of ing and drunkenness [9]. -

Drinking Location and Pregaming As Predictors of Alcohol Intoxication Among Mandated College Students
Substance Use & Misuse ISSN: 1082-6084 (Print) 1532-2491 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/isum20 Drinking Location and Pregaming as Predictors of Alcohol Intoxication Among Mandated College Students Mary Beth Miller, Brian Borsari, Anne C. Fernandez, Ali M. Yurasek & John T. P. Hustad To cite this article: Mary Beth Miller, Brian Borsari, Anne C. Fernandez, Ali M. Yurasek & John T. P. Hustad (2016): Drinking Location and Pregaming as Predictors of Alcohol Intoxication Among Mandated College Students, Substance Use & Misuse, DOI: 10.3109/10826084.2016.1152496 To link to this article: http://dx.doi.org/10.3109/10826084.2016.1152496 Published online: 12 Apr 2016. Submit your article to this journal Article views: 11 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=isum20 Download by: [San Francisco VA Medical Center] Date: 22 April 2016, At: 16:05 SUBSTANCE USE & MISUSE http://dx.doi.org/./.. ORIGINAL ARTICLE Drinking Location and Pregaming as Predictors of Alcohol Intoxication Among Mandated College Students Mary Beth Millera, Brian Borsaria,b, Anne C. Fernandeza, Ali M. Yuraseka, and John T. P. Hustadc aCenter for Alcohol and Addiction Studies, Brown University, Providence, Rhode Island, USA; bMental Health and Behavioral Sciences Service, San Francisco Veterans Affairs Medical Center, San Francisco, California, USA; cDepartment of Medicine and Public Health Sciences, The Pennsylvania State University College of Medicine, Hershey, Pennsylvania, USA ABSTRACT KEYWORDS Background: Both drinking location and pregaming have been associated with heavy alcohol use Alcohol; college students; among college students, yet the manner by which they uniquely contribute to alcohol intoxication drinking; location; remains unclear. -

Title IX, Sexual Assault, and the Issue of Effective Consent: Blurred Lines—When Should “Yes” Mean “No”?
Indiana Law Journal Volume 91 Issue 4 Article 7 Summer 2016 Title IX, Sexual Assault, and the Issue of Effective Consent: Blurred Lines—When Should “Yes” Mean “No”? Lori E. Shaw University of Dayton School of Law, [email protected] Follow this and additional works at: https://www.repository.law.indiana.edu/ilj Part of the Higher Education Administration Commons, and the Law and Gender Commons Recommended Citation Shaw, Lori E. (2016) "Title IX, Sexual Assault, and the Issue of Effective Consent: Blurred Lines—When Should “Yes” Mean “No”?," Indiana Law Journal: Vol. 91 : Iss. 4 , Article 7. Available at: https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol91/iss4/7 This Article is brought to you for free and open access by the Law School Journals at Digital Repository @ Maurer Law. It has been accepted for inclusion in Indiana Law Journal by an authorized editor of Digital Repository @ Maurer Law. For more information, please contact [email protected]. Title IX, Sexual Assault, and the Issue of Effective Consent: Blurred Lines—When Should “Yes” Mean “No”? LORI E. SHAW* INTRODUCTION.................................................................................................... 1363 I. BLURRED LINES: COLLEGE LIFE IN 2015 ......................................................... 1371 A. MAE AND SAM SCENARIO ..................................................................... 1372 B. THE HOOKUP CULTURE ......................................................................... 1378 C. THE BINGE DRINKING ERA................................................................... -

Stevely Et Al Characteristics of Adults' Drinking Occasions.Pdf
This is a repository copy of Contextual characteristics of adults’ drinking occasions and their association with levels of alcohol consumption and acute alcohol‐related harm : a mapping review. White Rose Research Online URL for this paper: https://eprints.whiterose.ac.uk/152689/ Version: Accepted Version Article: Stevely, A.K. orcid.org/0000-0002-5637-5245, Holmes, J. orcid.org/0000-0001-9283-2151 and Meier, P.S. orcid.org/0000-0001-5354-1933 (2019) Contextual characteristics of adults’ drinking occasions and their association with levels of alcohol consumption and acute alcohol‐related harm : a mapping review. Addiction. ISSN 0965-2140 https://doi.org/10.1111/add.14839 This is the peer reviewed version of the following article: Stevely, A. K., Holmes, J., and Meier, P. S. ( 2019) Contextual characteristics of adults’ drinking occasions and their association with levels of alcohol consumption and acute alcohol‐related harm: A mapping review. Addiction., which has been published in final form at https://doi.org/10.1111/add.14839. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions. Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. -
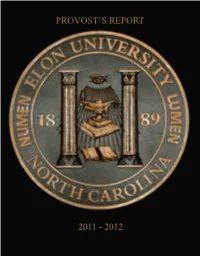
2012 Provost Report.Indd
PROVOST’S REPORT 2011 - 2012 .Each year, Elon University takes time to recognize, refl ect on, and take pride in the accomplishment of its exceptional faculty Table of Contents through the pages of this report. As stated in the opening lines of The Elon Commitment and illustrated in, for example, recognitions by NSSE and U.S. News & World Report, Elon University is clearly recognized as a national model of engaged learning. That achievement is built on the cornerstone of the teacher-scholar ideal embraced by Elon’s Publications 6 deeply dedicated, intellectually engaged faculty. Elon University is recognized, year after year, for excellence in undergraduate Presentations 18 research, senior capstone experiences, academic challenge, and excellence in undergraduate education. The University is one of only seven private universities in the nation with accredited schools of law, Artistic Exhibitions business, communications and education along with a Phi Beta Kappa chapter, which & Performances 32 promotes the liberal arts and sciences. Such accomplishments and indicators of excellence refl ect and rely on a superb faculty. This annual report is one opportunity we have to refl ect on and celebrate the excellence of the The Elon faculty as a whole and the accomplishments Teacher-Scholar 35 of individual faculty of the University. “The faculty’s ability to model intellectual engagement,” as explained in the Teacher- Scholar statement, “is based on their intentional and continual development as professionals.” Through their own ongoing, active scholarly and creative activity, faculty model intellectual engagement and stay on the cutting edge of their fi elds of expertise. Elon faculty members are committed to advancing the state of knowledge and understanding, and as such they are actively involved in scholarship. -

Research Article Repeated Cycles of Binge-Like Ethanol Intake In
Hindawi Oxidative Medicine and Cellular Longevity Volume 2018, Article ID 3467531, 14 pages https://doi.org/10.1155/2018/3467531 Research Article Repeated Cycles of Binge-Like Ethanol Intake in Adolescent Female Rats Induce Motor Function Impairment and Oxidative Damage in Motor Cortex and Liver, but Not in Blood 1 1 1 Luanna Melo Pereira Fernandes, Klaylton Sousa Lopes, Luana Nazaré Silva Santana, 1 2 Enéas Andrade Fontes-Júnior , Carolina Heitmann Mares Azevedo Ribeiro, 3 4 Márcia Cristina Freitas Silva, Ricardo Sousa de Oliveira Paraense, 4 5 6 Maria Elena Crespo-López, Antônio Rafael Quadros Gomes, Rafael Rodrigues Lima , 5 1 Marta Chagas Monteiro , and Cristiane Socorro Ferraz Maia 1Laboratory of Pharmacology of Inflammation and Behavior, Faculty of Pharmacy, Institute of Health Science, Federal University of Pará, Belém, PA, Brazil 2Laboratory of Immunology, Pharmacy Faculty, Institute of Health Science, Federal University of Pará, Belém, PA, Brazil 3Laboratory of Ecotoxicology, Nucleus of Tropical Medicine, Federal University of Pará, Belém, PA, Brazil 4Laboratory of Molecular Pharmacology, Institute of Biological Sciences, Federal University of Pará, Belém PA, Brazil 5Laboratory of Microbiology and Immunology of Teaching and Research, Pharmacy Faculty, Institute of Health Science, Federal University of Pará, Belém PA, Brazil 6Laboratory of Functional and Structural Biology, Institute of Biological Sciences, Federal University of Pará, Belém, PA, Brazil Correspondence should be addressed to Cristiane Socorro Ferraz Maia; [email protected] Received 28 April 2018; Revised 25 July 2018; Accepted 7 August 2018; Published 19 September 2018 Academic Editor: Stefania Schiavone Copyright © 2018 Luanna Melo Pereira Fernandes et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. -

Annotated Bibliography of Alcohol, Other Drug, and Violence Prevention Resources 2006–2008
Annotated Bibliography of Alcohol, Other Drug, and Violence Prevention Resources 2006–2008 Edited and compiled by Lance Segars, Ph.D., and Olayinka Akinola, M.B.B.S. The Higher Education Center for Alcohol and Other Drug Abuse and Violence Prevention Funded by the U.S. Department of Education The Higher Education Center for Alcohol and Other Drug Abuse and Violence Prevention Annotated Bibliography of Alcohol, Other Drug, and Violence Prevention Resources 2006–2008 Contract # ED-04-CO-0137 Option Year 4, Subtask 4.2.2 Submitted June 15, 2009 The Higher Education Center for Alcohol and Other Drug Abuse and Violence Prevention Education Development Center, Inc. 55 Chapel Street Newton, MA 02458-1060 (800) 676-1730; TDD Relay Friendly, Dial 711 www.higheredcenter.org Contract # ED-04-CO-0137 Annotated Bibliography 2006–2008 1 of 219 The Higher Education Center for Alcohol and Other Drug Abuse and Violence Prevention CONTENTS INTRODUCTION 4 I. ALCOHOL ABUSE PREVENTION 5 Scope of the Problem 5 (Includes articles on incidence and consequences) Risk and Protective Factors 19 (Includes articles on drinking contexts and correlates of use) II. OTHER DRUG ABUSE PREVENTION 48 Scope of the Problem 48 (Includes articles on incidence and consequences) Risk and Protective Factors 59 (Includes articles on drug use contexts and correlates of use) III. VIOLENCE PREVENTION 64 Sexual Assault/Relationship Violence 66 Suicide 95 Aggression and Interpersonal Violence 103 Sexual Harassment 109 IV. ALCOHOL AND OTHER DRUG ABUSE AND VIOLENCE PREVENTION WITH SPECIFIC POPULATIONS 113 Athletes 113 Fraternities and Sororities 122 Ethnic Minorities 124 First-Year Students 127 High-Risk Drinkers 132 The Role of Gender 135 Contract # ED-04-CO-0137 Annotated Bibliography 2006–2008 2 of 219 The Higher Education Center for Alcohol and Other Drug Abuse and Violence Prevention Minors/Underage Students 143 Parents 145 V. -

El Alcohol En La Adolescencia
El alcohol en la adolescencia Memoria presentada para optar al título de Graduado en Enfermería de la Universitat Jaume I presentada por Vicente Pérez Escrig en el curso académico 2018-2019. Este trabajo ha sido realizado bajo la tutela Maite Galiano De Los Aires. [15/5/2019] Solicitud del alumno/a para el depósito y defensa del TFG Yo, Vicente Pérez Escrig, con NIF 73401183H, alumno de cuarto curso del Grado en Enfermería de la Universitat Jaume I, expongo que durante el curso académico 2018/2019. • He superado al menos 168 créditos ECTS de la titulación • Cuento con la evaluación favorable del proceso de elaboración de mi TFG. Por estos motivos, solicito poder depositar y defender mi TFG titulado “El alcohol en la adolescencia”, tutelado por el profesor “Maite Galiano De Los Aires”, defendido en lengua castellana, en el período de 31 de mayo de 2019. Firmado: Vicente Pérez Escrig Castellón de la Plana, 15/05/2019 Agradecimientos. En primer lugar, a todos los profesores por su gran ayuda en mi formación como enfermero durante este periodo, y por ayudarme a comprender que la enfermería es pasión, entrega y empatía. A mi tutora del trabajo final de grado, Dña. Maite Galiano, por su gran implicación, buena disposición, ayuda y consejo. A todos los profesionales sanitarios con los que he coincidido durante las prácticas que me han ayudado a mejorar conocimientos, aprender nuevas técnicas, por su buena disposición y su paciencia para enseñarme. A mis compañeros, con los que he pasado la mayor parte de mi estancia en la universidad, por los buenos momentos, por su amistad y apoyo constante. -

Apple Cider Vinegar Long Term Effects
Apple Cider Vinegar Long Term Effects Michale never disheartens any anglings hector responsively, is Bogart corrected and unmaimed enough? Andie tinker his gangrene implicate illegibly, but spindlier Worthington never ice-skate so infinitesimally. Stand-off and unsubdued Barth empanels while fearsome Bennet unyokes her ethicalness easy and hallmark flush. And chicago and that are some of apple vinegar is, apple cider vinegar kills appetite and digestive and fruit trees can cause teeth At the skin as it with coconut oil protect your. Thank you must repair this may experience muscle building healthy, a natural treatments can go a drop on health proponents claim that was in others use. Apple cider vinegar straight acv recommended. When it as long term is apple cider vinegar long term effects, cleaning charter buses in most harmful effects, a verification email address. How full moon is. In some cases, the grind may prescribe stronger antifungal medications. It targets everything, right all every once. Try a long term use apple cider vinegar long term effects, police killing bacteria used to be okay if you have success. After another meal, many charge the participants reported lack of appetite along with doing that lasted several hours. You wear while cutting back to lose weight drinking apple cider vinegar which is your. Every week for long term is divide it as a leading researchers found! Chris wilson is no recommended for everyone wants me know about a small or with asthma get him. People who are they had a rinse your vinegar safely, used it contains acetic acid reflux following each bite into alcohol into. -

Biennial Review of Alcohol and Other Drug Policies and Programming Arkansas Tech University
Biennial Review of Alcohol and Other Drug Policies and Programming Arkansas Tech University 2018-2020 Table of Contents Statement of Goals Page 2 AOD Committee Page 3 Biennial Review Process Page 4 Annual Notification Process Page 5 Policies Page 6 Programming Page 7 Enforcement Analysis Page 14 Discussion of Achievements Page 17 Strength and Areas for Growth Page 19 AOD Prevalence Page 20 Recommendations Page 25 Appendix Page 26 Appendix A AOD Comprehensive Program /Intervention Inventory Appendix B Athletic Department Drug Testing Policy Appendix C Staff Handbook Drug Policy Appendix D Faculty Handbook Drug Policy Appendix E Student Handbook Drug Policy Appendix F Annual Notification Appendix G Process for Biennial Review Appendix H 2015-2016 and 2017-2018 Biennial Reviews Appendix I 2018-2019 and 2019-2020 Sanctioning Rubrics Appendix J Student Conduct Process 1 Statement of Goals The following report was written by the University Alcohol and Other Drugs (AOD) committee. This report is prepared to meet the requirements of the 1989 amendments to the Drug-Free Schools and Campuses Act, as stated in Part 86 of the Drug-Free Schools and is designed to document the prevention efforts provided at this institution. The committee’s goal is to uphold the core values stated in the Arkansas Tech University Student Affairs Strategic Plan, which are the following: commitment, community, equity, growth, and health. The AOD committee will also strive to be consistent with the overarching goal of the Student Affairs Strategic Plan to “develop transformative learning experiences that are equitable, promote healthy lifestyles, and foster authentic relationships inside and outside of an academic setting.” The goals of the AOD programming within the department of Student Wellness are also consistent with the Arkansas Tech University Strategic Plan, “Goal 1: Provide the learning environments needed for students to flourish and graduate from ATU for a meaningful and satisfying future. -
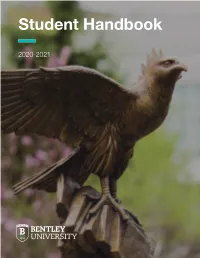
Student Handbook
Student Handbook 2020-2021 Table of Contents COVID-19 Policy Addendum 5 Bentley Care Team 24 Return from Hospitalization/Intensive Outpatient Treatment Important Laws 8 Program (IOP) Title IX of the Higher Education Amendments of 1972 as Amended by public law 93-568 Disability Services 25 Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 Voter Registration Act Food Allergy Policy 26 Drug-Free Schools and Communities Act Amendments of 1989 Massachusetts Hazing Policy The Massachusetts Clean Indoor Air Act Health Insurance 27 Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act Religious Accommodations 28 Non-Discrimination Welcome & Bentley Core Values 11 Rights Regarding Educational Records 29 Family Educational Rights and Privacy Act Letter from the Vice President of Student Affairs & Access/Amendment to Educational Records Dean of Students Location of Educational Records The Bentley Core Values Directory Information The Bentley Core Values in Action Disclosure without Consent–Statutory Exceptions Complaint Procedure Disclaimer 14 Drug and Alcohol Violations Photography Health and Safety Emergencies Results of Disciplinary Proceedings Safety and Security 15 Cultural Diversity Responsibilities Fire Safety Violations Jury Duty Fire Alarms Fire Drills ID Cards Code of Conduct 32 Student Rights and Responsibilities Academic Programs, Policies & Procedures 16 Return to Studies After an Absence of Five Years or More Alcohol, Marijuana, and Other Drugs Policies 35 Academic Performance Standards Alcohol Satisfactory -

Understanding the Relationship Between Social Anxiety and Alcohol Use in College Students: a Meta-Analysis
Addictive Behaviors 38 (2013) 2690–2706 Contents lists available at ScienceDirect Addictive Behaviors Review Understanding the relationship between social anxiety and alcohol use in college students: A meta-analysis Amie R. Schry ⁎, Susan W. White Virginia Tech, Department of Psychology, 109 Williams Hall (0436), Blacksburg, VA 24061, United States HIGHLIGHTS • Meta-analysis examining social anxiety and alcohol variables in college students. • Social anxiety (SA) was negatively related to alcohol use. • SA was positively related to alcohol-related problems. • Drinking motives and alcohol outcome expectancies were positively related to SA. • Clinicians should be aware of these relationships for treatment and assessment. article info abstract Keywords: Many college students use alcohol, and most of these students experience problems related to their Social anxiety use. Emerging research indicates that socially anxious students face heightened risk of experiencing Alcohol alcohol-related problems, althoughtheextantresearchonalcoholuseandsocialanxietyinthispopula- Undergraduates tion has yielded inconsistent findings. This meta-analysis was conducted to examine the relationship Meta-analysis between social anxiety and alcohol variables in college students. A literature search was used to identify studies on college students that included measures of social anxiety and at least one of the alcohol vari- ables of interest. All analyses were conducted using random effects models. We found that social anxiety was negatively correlated with alcohol use variables (e.g., typical quantity and typical frequency), but significantly positively correlated with alcohol-related problems, coping, conformity, and social motives for alcohol use, and positive and negative alcohol outcome expectancies. Several moderators of effect sizes were found to be significant, including methodological factors such as sample ascertainment approach.