PATRICIA MICHELE DA LUZ.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Taxonomic Revision of Pseudolaelia Porto & Brade (Laeliinae
Acta Botanica Brasilica 27(2): 418-435. 2013. Taxonomic revision of Pseudolaelia Porto & Brade (Laeliinae, Orchidaceae)1 Luiz Menini Neto2,5, Rafaela Campostrini Forzza3 and Cassio van den Berg4 Submitted: 14 September, 2011. Accepted: 7 March, 2013 ABSTRACT Pseudolaelia is a genus endemic to eastern Brazil. The species are often epiphytes on Velloziaceae or are saxicolous, predominantly on granitic and gneissic outcrops (inselbergs) in the Atlantic Forest and, less often, in the campos rupestres (dry, rocky grasslands) of the cerrado (savanna) and caatinga (shrublands). The genus is characterized by homoblastic pseudobulbs, long rhizomes, long and usually slender inflorescences, racemes or panicles, bearing pink, yellow or whitish flowers, labellum often 3-lobed, with simple, fimbriate or erose margin, semi-cylindrical or claviform column, cuniculus present. Twelve species are recognized; seven binomials are placed in synonymy. Of those seven, three are considered illegitimate because, contrary to the International Code of Botanical Nomenclature guidelines, there are no corresponding type specimens deposited in a recognized herbarium, and those three were therefore lectotypified. We present descriptions of, illustrations of and a dichotomous key to Pseudolaelia species, as well as addressing their taxonomy, ecology, conservation and geographic distribution. Key words: Eastern Brazil, campo rupestre, conservation, inselberg, taxonomy Introduction Ruschi (1946) established the genus Renata, describing the species R. canaanensis Ruschi, and publishing, in the Pseudolaelia Porto & Brade is a member of the subfamily same decade, P. dutrae Ruschi (Ruschi 1949), both from Epidendroideae, tribe Epidendreae, subtribe Laeliinae, and the mountains of the state of Espírito Santo. Pabst (1967) was defined as a monophyletic genus by van den Berg et al. -

Pollination of Two Species of Vellozia (Velloziaceae) from High-Altitude Quartzitic Grasslands, Brazil
Acta bot. bras. 21(2): 325-333. 2007 Pollination of two species of Vellozia (Velloziaceae) from high-altitude quartzitic grasslands, Brazil Claudia Maria Jacobi1,3 and Mário César Laboissiérè del Sarto2 Received: May 12, 2006. Accepted: October 2, 2006 RESUMO – (Polinização de duas espécies de Vellozia (Velloziaceae) de campos quartzíticos de altitude, Brasil). Foram pesquisados os polinizadores e o sistema reprodutivo de duas espécies de Vellozia (Velloziaceae) de campos rupestres quartzíticos do sudeste do Brasil. Vellozia leptopetala é arborescente e cresce exclusivamente sobre afloramentos rochosos, V. epidendroides é de porte herbáceo e espalha- se sobre solo pedregoso. Ambas têm flores hermafroditas e solitárias, e floradas curtas em massa. Avaliou-se o nível de auto-compatibilidade e a necessidade de polinizadores, em 50 plantas de cada espécie e 20-60 flores por tratamento: polinização manual cruzada e autopolinização, polinização espontânea, agamospermia e controle. O comportamento dos visitantes florais nas flores e nas plantas foi registrado. As espécies são auto-incompatíveis, mas produzem poucas sementes autogâmicas. A razão pólen-óvulo sugere xenogamia facultativa em ambas. Foram visitadas principalmente por abelhas, das quais as mais importantes polinizadoras foram duas cortadeiras (Megachile spp.). Vellozia leptopetala também foi polinizada por uma espécie de beija-flor territorial. A produção de sementes em frutos de polinização cruzada sugere que limitação por pólen é a causa principal da baixa produção natural de sementes. Isto foi atribuído ao efeito combinado de cinco mecanismos: autopolinização prévia à antese, elevada geitonogamia resultante de arranjo floral, número reduzido de visitas por flor pelo mesmo motivo, pilhagem de pólen por diversas espécies de insetos e, em V. -

Velloziaceae in Honorem Appellatae
Phytotaxa 175 (2): 085–096 ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ PHYTOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press Article ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.175.2.3 Velloziaceae in honorem appellatae RENATO MELLO-SILVA & NANUZA LUIZA DE MENEZES University of São Paulo, Department of Botany, Rua do Matão, 277, 05508-090 São Paulo, SP, Brazil; E-mail: [email protected] Abstract Four new species of Vellozia are described and named after people linked to Velloziaceae and Brazilian botany. Vellozia everaldoi, V. giuliettiae, V. semirii and V. strangii are endemic to the Diamantina Plateau in Minas Gerais, Brazil. Vellozia giuliettiae and V. semirii are small species that share characteristics that would assign them to Vellozia sect. Xerophytoides, which include an ericoid habit with no leaf furrows and six stamens. Vellozia everaldoi, although a small, ericoid species, could not be placed in that section because it has conspicuous furrows, although it is considered closely related to species of that section. The fourth species, V. strangii, is a relative large species closely related to V. hatschbachii. Descriptions and illustrations of the species are followed by a discussion of their characteristics and putative relationships. Key words: Brazil, campos rupestres, Espinhaço Range, Vellozia, Vellozia sect. Xerophytoides, Xerophyta Introduction Vellozia Vandelli (1788: 32) comprises a few more than 100 species endemic to the Neotropics, mostly in relatively dry, rocky or sandy habitats (Mello-Silva 2010, Mello-Silva et al. 2011). Following revision of Neotropical members of the family (Smith & Ayensu 1976), several new species have been described (Smith & Ayensu 1979, 1980, Smith 1985a,b, 1986, Menezes 1980a, Menezes & Semir 1991, Mello-Silva & Menezes 1988, 1999a,b, Mello-Silva 1991a, 1993, 1994, 1996, 1997, 2004a, in press, Alves 1992, 2002, Alves et al. -

ROGÉRIO LEONARDO RODRIGUES Fungos Endofíticos Associados À
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DE BIOMAS TROPICAIS ROGÉRIO LEONARDO RODRIGUES Fungos endofíticos associados à Vellozia compacta Mart. ex Schult. F. (Velloziaceae) presente em afloramentos rochosos nos estados de Minas Gerais e Tocantins Ouro Preto, 2010 Rogério Leonardo Rodrigues Fungos endofíticos associados à Vellozia compacta Mart. ex Schult. f. (Velloziaceae) presente em afloramentos rochosos nos estados de Minas Gerais e Tocantins Dissertação apresentada à Universidade Federal de Ouro Preto, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais para obtenção do título de Mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Orientador: Dr. Luiz Henrique Rosa Ouro Preto - MG 2010 2 DEDICATÓRIA Dedico este trabalho a todos aqueles que direta, ou indiretamente, contribuíram e contribuem para o desenvolvimento social. Altruísmo nada mais é do que o reflexo da percepção egoísta daqueles que vêem que seu crescimento está vinculado no sentimento de gratidão recebido. PARA REFLETIR “Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade.” Confúcio “O segredo é não correr atrás das borboletas... É cuidar do jardim para que elas venham até você.” Mário Quintana “O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência.” Henry Ford “É necessário ter o caos cá dentro para gerar uma estrela.” Friedrich Nietzsche “Quem me rouba a honra priva-me daquilo que não o enriquece e faz-me verdadeiramente pobre.” William Shakespeare “A dignidade pessoal e a honra não podem ser protegidas por outros. -

2002 12 the Cerrados of Brazil.Pdf
00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page i The Cerrados of Brazil 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page ii 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page iii The Cerrados of Brazil Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna Editors Paulo S. Oliveira Robert J. Marquis Columbia University Press New York 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page iv Columbia University Press Publishers Since 1893 New York Chichester, West Sussex © 2002 Columbia University Press All rights reserved Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The cerrados of Brazil : ecology and natural history of a neotropical savanna / Paulo S. Oliveira and Robert J. Marquis. p. cm. Includes bibliographical references. ISBN 0-231-12042-7 (cloth : alk. paper)—ISBN 0-231-12043-5 (pbk. : alk. paper) 1. Cerrado ecology—Brazil. I. Oliveira, Paulo S., 1957– II. Marquis, Robert J., 1953– QH117 .C52 2002 577.4'8'0981—dc21 2002022739 Columbia University Press books are printed on permanent and durable acid-free paper. Printed in the United States of America c 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 p 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00 oliveira fm 7/31/02 8:11 AM Page v Contents Preface vii 1 Introduction: Development of Research in the Cerrados 1 Paulo S. Oliveira and Robert J. Marquis I Historical Framework and the Abiotic Environment 2 Relation of Soils and Geomorphic Surfaces in the Brazilian Cerrado 13 Paulo E. F. Motta, Nilton Curi, and Donald P. -

Velloziaceae in Honorem Appellatae
Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Departamento de Botânica - IB/BIB Artigos e Materiais de Revistas Científicas - IB/BIB 2014-08 Velloziaceae in honorem appellatae Phytotaxa, Auckland, v.175, n.2, p.85-96, 2014 http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/46069 Downloaded from: Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI, Universidade de São Paulo Phytotaxa 175 (2): 085–096 ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ PHYTOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press Article ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.175.2.3 Velloziaceae in honorem appellatae RENATO MELLO-SILVA & NANUZA LUIZA DE MENEZES University of São Paulo, Department of Botany, Rua do Matão, 277, 05508-090 São Paulo, SP, Brazil; E-mail: [email protected] Abstract Four new species of Vellozia are described and named after people linked to Velloziaceae and Brazilian botany. Vellozia everaldoi, V. giuliettiae, V. semirii and V. strangii are endemic to the Diamantina Plateau in Minas Gerais, Brazil. Vellozia giuliettiae and V. semirii are small species that share characteristics that would assign them to Vellozia sect. Xerophytoides, which include an ericoid habit with no leaf furrows and six stamens. Vellozia everaldoi, although a small, ericoid species, could not be placed in that section because it has conspicuous furrows, although it is considered closely related to species of that section. The fourth species, V. strangii, is a relative large species closely related to V. hatschbachii. Descriptions and illustrations of the species are followed by a discussion of their characteristics and putative relationships. Key words: Brazil, campos rupestres, Espinhaço Range, Vellozia, Vellozia sect. -

How Rich Is the Flora of Brazilian Cerrados? Author(S): A. A. J. F. Castro, F
How Rich is the Flora of Brazilian Cerrados? Author(s): A. A. J. F. Castro, F. R. Martins, J. Y. Tamashiro and G. J. Shepherd Source: Annals of the Missouri Botanical Garden, Vol. 86, No. 1 (Winter, 1999), pp. 192-224 Published by: Missouri Botanical Garden Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2666220 Accessed: 18-06-2015 18:22 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Missouri Botanical Garden Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Annals of the Missouri Botanical Garden. http://www.jstor.org This content downloaded from 143.106.108.174 on Thu, 18 Jun 2015 18:22:09 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions HOW RICH IS THE FLORA A. A. J. F. Castro,2 F. R. Martins,*3J. E OF BRAZILIAN CERRADOS?1 Tamashiro,3and G. J. Shepherd3 ABSTRACT An attempt is made to summarize what is known about the richness of the total terrestrialangiosperm flora of the "cerrados" (as a complex of formations)in Brazil, based on published surveys and species lists. A "refined" list of arboreal and shrubby species was compiled froma total of 145 individual lists from78 localities, taking into account synonymyand recent taxonomic changes. -
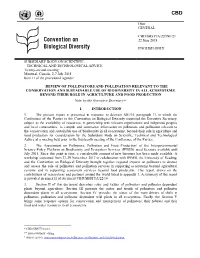
Review of Pollinators and Pollination Relevant to the Conservation And
CBD Distr. GENERAL CBD/SBSTTA/22/INF/21 22 June 2018 ENGLISH ONLY SUBSIDIARY BODY ON SCIENTIFIC, TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ADVICE Twenty-second meeting Montreal, Canada, 2-7 July 2018 Item 11 of the provisional agenda* REVIEW OF POLLINATORS AND POLLINATION RELEVANT TO THE CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF BIODIVERSITY IN ALL ECOSYSTEMS, BEYOND THEIR ROLE IN AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION Note by the Executive Secretary** I. INTRODUCTION 1. The present report is presented in response to decision XIII/15, paragraph 11, in which the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity requested the Executive Secretary, subject to the availability of resources, in partnership with relevant organizations and indigenous peoples and local communities, to compile and summarize information on pollinators and pollination relevant to the conservation and sustainable use of biodiversity in all ecosystems, beyond their role in agriculture and food production for consideration by the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice at a meeting held prior to the fourteenth meeting of the Conference of the Parties. 2. The Assessment on Pollinators, Pollination and Food Production1 of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) used literature available until July 2015. Since this point in time, a considerable amount of new literature has been made available. A workshop convened from 27-29 November 2017 in collaboration with IPBES, the University of Reading, and the Convention on Biological Diversity brought together regional experts on pollinators to discuss and assess the role of pollinators and pollination services in supporting ecosystems beyond agricultural systems and in supporting ecosystem services beyond food production. -

A Revision of American Velloziaceae
SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO BOTANY NUMBER 30 A Revision of American Velloziaceae Lyman B. Smith and Edward S. Ayensu SMITHSONIAN INSTITUTION PRESS City of Washington 1976 ABSTRACT Smith, Lyman B., and Edward S. Ayensu. A Revision of American Velloziaceae. Srnithsonian Contributions to Botany, number 30, 172 pages, frontispiece, 53 fig- ures, 37 plates, 1976.-With the aid of leaf anatomy, the systematics of 4 genera and 229 species of the American Velloziaceae is brought u to date. The scleren- chyma patterns and other anatomical characters that proves diagnostically impor- tant in earlier studies, continue to be most useful in delimiting the major genera and species in the present study. An introduction summarizing the major problems yet unravelled in this family and the current and prospective means for solving such problems, are discussed. Taxonomic keys, synonyms, and information on species distribution are included in this revision. Descriptions of new species and of higher taxa are also provided. OFFICIAL PUBLICATION DATE is handstamped in a limited number of initial copies and is recorded in the Institution’s annual report, Smithsonian Year. SERIESCOVER DESIGN: Leaf clearing from the katsura tree Cercidiphyllum japonicum Siebold and Zuccarini. Library of Congress Cataloging in Publication Data Smith, Lyman B. A revision of American Velloziaceae. (Smithsonian contributions to botany ; no. 30) Bibliography: p. Su t. of Docs. no.: SI 159:30 1. !‘elloziaceae 2. Botany-America. I. Ayensu, Edward S., joint author. 11. Title. 111. Series: Smithsonian Institution. Smithsonian contributions to botany ; no. 30. QKl.SZ747 no. 30 [QK495.V41 581‘.08s 1584’291 75-619289 For sale by the Superintendent of Documents, U. -

A Curiosa História Do Gênero Pseudolaelia Porto & Brade Luiz
Mais de cem anos de espera: a curiosa história do gênero Pseudolaelia Porto & Brade Luiz Menini Neto1,2*, Samyra Gomes Furtado1 1Herbário Leopoldo Krieger, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, bairro Martelos, CEP 36036-900, Juiz de Fora-MG, Brasil 2Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, bairro Martelos, CEP 36036-900, Juiz de Fora-MG, Brasil *[email protected] Resumo: Pseudolaelia foi estabelecido na década de 1930, com a descrição de P. corcovadensis e transferência de Schomburgkia vellozicola, respectivamente, baseado em espécimes coletados nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No entanto, o primeiro registro de um exemplar desse gênero foi realizado mais de cem anos antes, pelo botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, nos arredores do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais. Seguindo a apresentação dessa curiosa história, discutimos a relevância da digitalização das coleções botânicas e a necessidade contínua de investimentos em iniciativas desse tipo, que proveem subsídios ao conhecimento da biodiversidade e aplicação na conservação das espécies. Palavras-chave: Auguste de Saint-Hilaire, coleções científicas, herbário virtual, história, história natural. Abstract: Pseudolaelia was established in 1930’s, with description of P. corcovadensis and transference of Schomburgkia vellozicola, respectively, based in specimens collected in the states of Rio de Janeiro and Espírito Santo. However, the first record of a specimen of this genus was performed more than a century before, by the French botanist Auguste de Saint-Hilaire, in surroundings of the Jequitinhonha River, in Minas Gerais. -

Mt Namuli, Mozambique: Biodiversity and Conservation
Darwin Initiative Award 15/036: Monitoring and Managing Biodiversity Loss in South-East Africa's Montane Ecosystems MT NAMULI, MOZAMBIQUE: BIODIVERSITY AND CONSERVATION February 2009 Jonathan Timberlake, Francoise Dowsett-Lemaire, Julian Bayliss, Tereza Alves, Susana Baena, Carlos Bento, Katrina Cook, Jorge Francisco, Tim Harris, Paul Smith & Camila de Sousa ABRI african butterfly research instit Forestry Research Institute of Malawi Biodiversity of Mt Namuli, Mozambique, 2009, page 2 of 115 Front cover: Namuli peaks with Ukalini forest below (JT). Frontispiece: Mts Pesse & Pesani above Muretha plateau (JT, top); campsite. Muretha plateau (JT, middle L); dwarf chameleon (JB, middle R); Pavetta sp. nov? (TH, bottom L); Mt Namuli & Ukalini forest from air (CS, bottom R). Suggested citation: Timberlake, J.R., Dowsett-Lemaire, F., Bayliss, J., Alves T., Baena, S., Bento, C., Cook, K., Francisco, J., Harris, T., Smith, P. & de Sousa, C. (2009). Mt Namuli, Mozambique: Biodiversity and Conservation. Report produced under the Darwin Initiative Award 15/036. Royal Botanic Gardens, Kew, London. 114 p. Biodiversity of Mt Namuli, Mozambique, 2009, page 3 of 115 LIST OF CONTENTS LIST OF CONTENTS ............................................................................................................... 3 LIST OF TABLES ..................................................................................................................... 5 LIST OF FIGURES................................................................................................................... -

Vegatative Architecture of Desiccation-Tolerant Arborescent Monocotyledons Stefan Porembski Universität Rostock
Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany Volume 22 | Issue 1 Article 10 2006 Vegatative Architecture of Desiccation-tolerant Arborescent Monocotyledons Stefan Porembski Universität Rostock Follow this and additional works at: http://scholarship.claremont.edu/aliso Part of the Botany Commons Recommended Citation Porembski, Stefan (2006) "Vegatative Architecture of Desiccation-tolerant Arborescent Monocotyledons," Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany: Vol. 22: Iss. 1, Article 10. Available at: http://scholarship.claremont.edu/aliso/vol22/iss1/10 Morphology ~£?t~9COTSogy and Evolution Excluding Poales Aliso 22, pp. 129-134 © 2006, Rancho Santa Ana Botanic Garden VEGETATIVE ARCHITECTURE OF DESICCATION-TOLERANT ARBORESCENT MONOCOTYLEDONS STEFAN POREMBSKI Universitiit Rostock, 1nstitut fiir Biodiversitiitsforschung, Allgemeine und Spezielle Botanik, Wismarsche Str. 8, D-18051 Rostock, Germany ([email protected]) ABSTRACT Within the monocotyledons the acquisition of the tree habit is enhanced by either primary growth of the axis or a distinctive mode of secondary growth. However, a few arborescent monocotyledons deviate from this pattern in developing trunks up to four meters high that resemble those of tree ferns, i.e., their "woody-fibrous" stems consist mainly of persistent leaf bases and adventitious roots. This type of arborescent monocotyledon occurs in both tropical and temperate regions and is found within Boryaceae (Borya), Cyperaceae (Afrotrilepis, Bulbostylis, Coleochloa, Microdracoides), and Vellozia ceae (e.g., Vellozia, Xerophyta). They have developed in geographically widely separated regions with most of them occurring in the tropics and only Borya being a temperate zone outlier. These mostly miniature "lily trees" frequently occur in edaphically and climatologically extreme habitats (e.g., rock outcrops, white sand savannas).