A MENINA QUE SORRIA CONTAS Clemantine Wamariya E Elizabeth Weil
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anthropology Instructional Program Review Report
Instructional Program Review Report Sierra College, 2019-2020 Department/Program Name: Anthropology Date Submitted: 2/24/2020 Submitted By: Jennifer Molina, Matt Archer and Sohnya Castorena Ideally, the writing of a Program Review Report should be a collaborative process of full-time and part time faculty as well as all other staff and stakeholders invested in the present and future success of the program at all sites throughout the district. The Program Review Committee needs as much information as possible to evaluate the past and current performance, assessment, and planning of your program. Please attach your Department Statistics Report (DSR) and your planning report with your Program Review. 1) Relevancy: This section assesses the program’s significance to students, the college, and the community. 1a) To provide context for the information that follows, describe the basic functions of your program. The Anthropology Department prepares students for general education at a four year University, for upper division courses in Anthropology, for nursing programs, and for citizenship in our global community. Our Anthropology 1 and 1L courses satisfy transfer requirements for a lab/biological science courses for both the CSU and UC systems. Our Anthropology 2 course satisfies transfer requirements for a social/behavioral science course at CSU and UC campuses as well as being a prerequisite for the Sierra College Nursing program and other nursing programs around the state. We also offer courses in the additional two subfields of anthropology, Archaeology (ANTH 5) and Linguistic Anthropology (ANTH 6), so that anthropology majors are able to meet all of their lower division requirements before transferring to CSU and UC campuses. -

What You Do Matters
what you do matters 2008–09 ANNUAL REPORT 2 ANNUAL REPORT 2008–09 WHAT YOU DO MATTERS 3 FRONT COVER ESTELLE LAUGHLIN HOLOCAUST SURVIVOR AND MUSEUM VOLUNTEER what they do Dear friends—this past November, however impressive our far-reaching 40-foot-high portraits of Estelle impact, we must constantly challenge Laughlin and other Museum survivor ourselves to do more. In a century volunteers were projected one by one already threatened by an alarming onto the exterior of our building. rise in hatred and antisemitism as The symbolism was stunning as each well as genocide, there are simply illuminated the night. Estelle had just no time-outs. turned ten when Germany invaded Our global institution is on the Poland. Over the next four years, she front lines confronting these issues managed to survive the Warsaw ghetto, thanks to your generosity and an the Majdanek death camp, and two extraordinary constellation of other slave labor camps. With dreams still partners equally passionate in our haunted by these memories, Estelle cause. On the pages that follow you shares her story with audiences here will meet some of them. While we and across the country in order to, as cannot eradicate hatred and evil, she says, “keep truth alive and visible.” together we remain unrelenting in In telling their stories, Holocaust our commitment to remember and to survivors put the horror of the genocide teach the lessons of the Holocaust— of Europe’s Jews into a profoundly not just to impart the truth of history’s personal context. They move us beyond greatest crime but to ignite the personal the monolithic event and unfathomable sense of responsibility that stands at numbers to the anguish of each the heart of strong, just societies. -
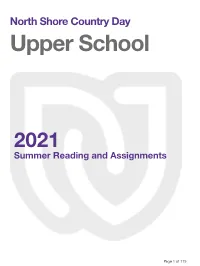
US Summer Reading and Assignments
North Shore Country Day Upper School 2021 Summer Reading and Assignments Page 1 of 115 AP Studio Art, 2D 3 Photo-Based/Assignments 3 Mixed Media Portfolio/Assignments 3 AP Studio Art, 3D 5 3D Portfolio/Assignments 5 AP Studio Art, Drawing 7 AP Human Geography 9 Required Reading 9 About the Book 9 Your Assignment 9 Enrichment 11 Optional Reading 11 AP United States History 12 The Assignment 12 PART I 12 PART II 12 AP French Language and Culture 13 But du travail d’été 13 Lisez bien tout ce document pour comprendre ce que vous devez faire 13 Tableau des choix de films et liens aux sources d’information 14 Cours AP Français - Vos premières présentations 15 Liens aux sites à utiliser pour faire vos recherches: 16 AP Spanish Language and Culture 18 AP Spanish Literature 19 AP Music Theory 20 AP English 21 Critical Reading Journals 21 AP US Government & Politics 23 English 9 25 English 10 26 Part 1 26 Part 2 26 Part 3 26 English 11 27 English 11 Book Options 27 English 12 110 English 12 Summer Reading 111 Page 2 of 115 AP Studio Art, 2D Below are suggestions for 2D summer assignments. If you are in AP you must complete at least 4 pieces over the summer. If you are in AOS 1 semester, complete 1 assignment; 2 semesters, complete 2 assignments. Those pieces will be due the 2nd day of class, during which we will review your work in a group critique. If you are unsure which portfolio you will complete, you may choose from the Drawing, 3D or 2D lists. -

April 24, 2018 Spring #15 Alliance for African Partnership Eye on Africa
April 24, 2018 Spring #15 This is the Year of Global Africa! The Year of Global Africa explores MSU's rich history and connection with our many partners across Africa and throughout the African Diaspora through diverse scholarship, engagement, and activities. The weekly Newsletter provides a list of upcoming events, speaker presentations, tea times, conferences, jobs and other exciting opportunities related to the Year of Global Africa To learn more about the Year of Global Africa, http://globalafrica.isp.msu.edu For more on the African Studies Center, http://africa.msu.edu Alliance for African Partnership To learn more about the Alliance for African Partnership, aap.isp.msu.edu Eye On Africa Speaker Series To learn more about Eye on Africa, http://africa.isp.msu.edu/programs/eye-africa/ AFRICAN STUDIES CENTER ANNOUNCEMENTS Eye on Africa (Seminars are live-streamed at http://eyeonafrica.matrix.msu.edu/) Thursday, April 26, 2018 12:00-1:30pm-Room 201 International Center " Manufacturing Sameness: Continuities and Expansions of Community Identity in Africa- China Relations" Eye on Africa with Tara Mock, Visiting Assistant Professor, James Madison College, & Doctoral Candidate The Girl who Smiled Beads: A Story of War and what Comes After Special Eye on Africa Presentation with Clemantine Wamariya Tuesday, May 1st, 12pm- 1:30pm International Center, rm 303 Clemantine is a storyteller and human rights advocate committed to inspiring others through the power and art of storytelling. Her personal account of her childhood in Rwanda, displacement throughout war-torn countries, and experiences in various refugee camps have encouraged myriads of people to persevere despite great odds. -

Press Clippings
SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE OUTREACH AND PUBLIC AFFAIRS OFFICE The abandoned ‘thoroughfare’ of the SCSL. PRESS CLIPPINGS Enclosed are clippings of local and international press on the Special Court and related issues obtained by the Outreach and Public Affairs Office as at: Friday, 8 April 2011 Press clips are produced Monday through Friday. Any omission, comment or suggestion, please contact Martin Royston-Wright Ext 7217 2 International News Coming Back From the Brink in Sierra Leone: A Case of Selective Amnesia / Cocorioko Pages 3-4 The Psychology of War / PRNewswire Pages 5-6 ICC Judges Act on Basis of Evidence, Says ICTR spokesman / The Standard Page 7 Uhuru, Muthaura, Ali to Appear at ICC / Kenya Broadcasting Corporation Pages 8-9 International Criminal Court Judge Warns Kenyan Suspects on Incitement / United Nations Mews Page 10 Preventing Genocide Only Real Way to Honour Rwandan Victims – Ban / United Nations News Page 11 Defence of Former Minister Nzabonimana "Officially" Closed / Hirondelle News Agency Page 12 3 Cocorioko Friday, 8 April 2011 Coming back from the brink in Sierra Leone: A Case of Selective Amnesia By Karamoh Kabba Former President Ahmad Tejan Kabbah of Sierra Leone has written a beautifully bound 359-page volume entitled Coming Back from the Brink in Sierra Leone, a must read for every Sierra Leonean alive for obvious reasons. For once, President Kabbah can now be credited for modesty with words. For those who are old enough to go down memory lane with me, he had actually plunged on the jagged edge. He is phoenix – he is rising up from the ashes. -

Close to Home Sarahmaslin
Close to Home Yale Daily News Magazine, February 2012 cover BY SARAH MASLIN Tuesday, February 21, 2012 “Afghanistan doesn’t deserve to be in the U.N.,” he said on the third day of class. “It’s too primitive.” All the heads in the room turned to look at the girl in the hijab. She had her head down, scribbling notes, but she felt their eyes watching her, waiting for her to blow up or burst into tears. Wazhma Sadat said nothing. Though her classmates didn’t know it, a battle was unfolding inside her head. Should she say something, or remain silent? She knew she couldn’t stop herself from getting upset: “When somebody says something about Afghanistan not knowing enough about it, I know that by not saying anything, I’m not doing it justice,” she said later. Sadat is the only Afghan student at Yale. “But,” she added, “I can’t say things without hiding my emotions.” During class that day, as she struggled to control her anger, Sadat remembered her childhood in Kabul. While her classmates argued about nuclear warfare, she remembers thinking to herself, “Do people know what they mean when they talk about people dying? Or is it just numbers for them, is it just video games?” When Sadat first saw video games where the goal was to “Kill Talibs,” she was horrified. “Maybe they haven’t seen people dying,” Sadat thought. She has. The struggle to hide her emotions, Sadat says, evoked powerful memories. Sadat spent much of her childhood hiding: in basements during rocket blasts, in an unfamiliar country to escape the Taliban, in a U.S. -

2017 Annual Report I Really Feel Happy Working with Other Women
Paths to Progress Women for Women International 2017 Annual Report I really feel happy working with other women. I am free around them. We help each other in so many ways… Alone, we are not3,625 able into do much. But together we can accomplish quite a lot. Bora, Women for Women International’s Program Participant in 2017 in DR Congo Photo credit: Ryan Carter, 2017 Cover photo credits: Hazel Thompson, 2017 and Rada Akbar, 2017 2 Women for Women International | 2017 Annual Report Joint Letter from the Chief Executive Officer and Chair of the Board of Directors Courage. ou will find it on every page of this report, just as you’ll find it in the heart of every woman whose life you have touched with Yyour support for Women for Women International. And so, it is with great appreciation for all you do that we present Paths to Progress, our 2017 annual report. With you by our side, we continued down a bold path in 2017, setting ambitious goals and, Laurie Adams thanks to your generosity, exceeding them by every measure. Chief Executive Officer In 2017, nearly 12,000 women completed our core program and another 15,000 enrolled. We exceeded our revenue targets by 9%. This enabled us to expand our work - opening a new office in the Kurdistan Region of Iraq (KRI) to support Syrian refugees and Iraqi women, including Yezidi women, and expanding into another state in Nigeria. We reached still more women and men with complementary programs - our Men’s Engagement Program, advanced economic and vocational training for Women for Women International gradu- ates to deepen impact and ensure sustainability and, new in 2017, our Change Agent Program. -

Hotchkiss: a Chronicle of an American School * for More Information Regarding Gus’S Acceptance, and the Racial Climate of the School at That Time
Celebrating Black Alumni Alexis Bryant La Broi 1991 Washington, D.C. B.S. Northwestern University Production Resource Group, Director of Sales What did attending Hotchkiss mean for you? Attending Hotchkiss was a very unique experience for me. No one else around me had attended a boarding school and no one I knew at home could relate to my experiences. Hotchkiss opened doors and opportunities that would not have been an option had I stayed in my home town for high school. I credit classes in the theater department as the foundation for my interest in stagecraft and theater technology, which eventually led me to the AV industry as a career. I stay connected with the School by volunteering as a Class Agent and planning multiple Washington, DC- area Hotchkiss Day of Service events. I have attended every one of my class reunions and look forward to my 30th in June. Alexis Bryant La Broi found her way to Hotchkiss via the A Better Chance program as a Prep. She is a native of Gary, IN. She is one of the founding members of BaHSA and served as its President during the 1990-1991 school year. After Hotchkiss, she attended Northwestern University, where she graduated in 1995. Alexis has enjoyed a career in the Audiovisual Technology/ Live Events industry for most of the past 25 years. She is currently the Director of Sales for the DC/ Boston metro areas at Production Resource Group (PRG), one of the largest providers of AV and production services in the world. Ofori Amponsah 2009 United Kingdom University of Oxford: Said School of Business How did your time at Hotchkiss help prepare you for where you attended college and your profession, career, or interests? Life is often saturated in waters’ reflection. -
Annual Report 2017 Annual Report 2017
ANNUAL REPORT 2017 ANNUAL REPORT 2017 Published by the City of Torino INTERNATIONAL ACTIVITIES Mayor’s Cabinet - International A airs and European Projects OF THE CITY OF [email protected] www.comune.torino.it/relint Torino ANNUAL REPORT 2017 INTERNATIONAL ACTIVITIES OF THE CITY OF Torino Mayor’s foreword 5 Highlights 6 International Aairs and Cooperation 12 Twinnings and agreements 14 Missions abroad 26 Foreign delegations 30 Honorary citizens 32 OF CONTENTS TABLE European projects 34 MAECI projects 40 International networks 42 International Organizations 46 Culture 50 Sport 58 Appendix 64 European projects details 66 MAECI projects details 80 Public utilities companies 82 Consulates 86 3 INTERNATIONAL AFFAIRS - Annual Report 2017 The vision of Torino goes beyond physical, economic and political boundaries reaching the whole world. How could it be otherwise? Historically the city was the driver of national unification and first capital of Italy, highly contributing during the 20th century to the industrial development of the country and showing over the years an unchanging lively spirit of enterprise. By its very nature Torino has always been open to changes and innovation, and ready to tackle FOREWORD MAYOR’S the challenges posed by globalisation, thus confirming its leading international role in past and recent history. Its increasingly important position as activities in the aerospace, automotive, interlocutor on a range of regional and biomedical, telecommunication and food international issues allows the City of sectors. Tourism and culture, two of the Torino to develop relations by organizing key assets of our local economy, continue important events and networking with to strengthen the city’s international image public and private institutions, associations, together with the high level academic enterprises and other organisations. -

Narrating the Refugee Experience: the Importance of Role, Memory, and Loss of Identity in Clemantine Wamariya and Elizabeth Weil’S the Girl Who Smiled Beads
Facultat de Filosofia i Lletres Memòria del Treball de Fi de Grau Narrating the refugee experience: the importance of role, memory, and loss of identity in Clemantine Wamariya and Elizabeth Weil’s The Girl who Smiled Beads Miriam Hernández Seguí Grau d’Estudis Anglesos Any acadèmic 2019-20 DNI de l’alumne: 41542290N Treball tutelat per Ana Beatriz Pérez Zapata Departament de Filologia Espanyola, Moderna y Clàssica S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Autor Tutor Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, Sí No Sí No amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació Paraules clau del treball: Refugee, roles, memory, identity, belonging. 1 Abstract This undergraduate dissertation analyses the memoir whose protagonist, Clemantine Wamariya, explains her resilient transformation and awareness of the refugee crisis as she escapes from the Rwandan war and its horrors. The purpose of this study is to provide a broader examination of several concepts that are essential for the rights of refugees through a close reading of the memoir. This paper explores the several roles that the author performs without agency of decision, the dynamic influence of other narratives and genocides together with the essential but disregarded concept of identity and belonging. For this, the role of refugees is examined within every context that the protagonist encounters. The fragile and vulnerable aspects of these images are used to prove the agency and willing of the main character who reconsiders the canonical definition of genocide and how it has a detrimental effect on multidirectional memory. None of the victims of other horrors can be regarded with the same definition as the refugees do because their distinctiveness places them all in juxtaposition. -

Jewish Foundation for the Righteous Soviet Refugees to Get Hardship
JANUARY 2012 VOLUME 26 NUMBER 1 Jewish Foundation for the Righteous NEW APPOINTEES TO H OLOCAUST COUNCIL Annual Dinner: Remarks by Rosie Sansalone Alway (JTA)—Holocaust survivors Elie Wiesel and Roman Kent, and Rwanda geno- cide survivor Clemantine Wamariya are among fi ve new appointees to the U.S. November 29, 2011 Holocaust Memorial Council. Good evening. It is a distinct honor and privilege to speak with you this eve- President Obama appointed the members, who were announced Oct. 28. Other ning as the recipient of the Robert I. Goldman Award for Excellence in Holocaust new members are Joseph Gutman and Howard Unger. Education. I would especially like to thank Stanlee Stahl and the Jewish Founda- “These fi ne public tion for the Righteous (JFR). Stanlee’s tireless efforts with the JFR and its mis- servants both bring a sion have certainly paved the way for my standing before you this evening, as depth of experience well as ensuring my ability to effectively teach the lessons of the Holocaust to and tremendous dedica- my students. tion to their new roles," As an English teacher I have found that the most effective tool to use with Obama said. students is the telling of stories. I teach my students to look past the surface of Professor Wiesel, the words, and to search for the author’s intent. What is the author revealing to us the Nobel Prize-win- beneath his words? When we as readers are successful in fi nding this understand- ning writer and activist, ing we are given a gift: we discover again what it means to be human. -

When the Fighting Ceases
Volume 1 Article 4 2021 When the Fighting Ceases Megan Temme West Virginia University Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/jcr Recommended Citation Temme, Megan (2021) "When the Fighting Ceases," Journal of the Campus Read: Vol. 1 , Article 4. Available at: https://researchrepository.wvu.edu/jcr/vol1/iss1/4 This Article is brought to you for free and open access by The Research Repository @ WVU. It has been accepted for inclusion in Journal of the Campus Read by an authorized editor of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. When the Fighting Ceases Megan Temme Abstract The paper focuses on the lasting e↵ects war has on children every day. Clemantine Wamariya’s story about her time as a refuge of the Rwandan Genocide as a child really stuck with me. It shows how war does not simply end with soldiers and ceasefire; the children nearby are forced to bear the burden of what they witnessed for years after. Children all over the world experience the pain of war every day but are easily forgotten. Introduction The paper focuses on the lasting e↵ects war has on children every day. It uses a memoir by Clemantine Wamariya about her time as a refuge of the Rwandan Genocide as a child to show how war does not simply end with soldiers and ceasefire; the children nearby are forced to bear the burden of what they wit- nessed for years after. The Post Traumatic Stress they experience later in life can a↵ect their socialization abilities and their view on society.