Santos Flavioarantesdos M.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unaudited Public Financial Report for the Year Ended 31 December 2013
2011. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats Unaudited Public for the year ended Financial Report 31 December 2013 1 JSC “Reverta” Unaudited public financial report for the year ended 31 December 2013 Contents Management Report ........................................................................................................................ 3 The Council and the Management Board ....................................................................................... 5 Statement of Responsibility of the Management ............................................................................ 6 Statements of Comprehensive Income ........................................................................................... 7 Statements of Financial Position ...................................................................................................... 8 Statements of Changes in Equity ..................................................................................................... 9 Statements of Cash Flows .............................................................................................................. 10 Consolidation Group Structure ...................................................................................................... 11 Notes .............................................................................................................................................. 12 2 JSC “Reverta” Unaudited public financial report for the year ended 31 December 2013 Management Report Reverta continues to perform -

Unaudited Public Financial Report for the Year Ended 31 December 2013
2011. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats Unaudited Public for the year ended Financial Report 31 December 2013 1 JSC “Reverta” Unaudited public financial report for the year ended 31 December 2013 Contents Management Report ........................................................................................................................ 3 The Council and the Management Board ....................................................................................... 5 Statement of Responsibility of the Management ............................................................................ 6 Statements of Comprehensive Income ........................................................................................... 7 Statements of Financial Position ...................................................................................................... 8 Statements of Changes in Equity ..................................................................................................... 9 Statements of Cash Flows .............................................................................................................. 10 Consolidation Group Structure ...................................................................................................... 11 Notes .............................................................................................................................................. 12 2 JSC “Reverta” Unaudited public financial report for the year ended 31 December 2013 Management Report Reverta continues to perform -

Estonia, Latvia, Lithuania - Labour Relations and Social Dialogue
Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue Annual Review 2013 Estonia, Latvia, Lithuania - Labour Relations and Social Dialogue Author: Aija Lulle 1, PhD candidate and researcher at the University of Latvia Executive Summary Baltic States entered the EU in 2004. Estonia also joined the euro zone in 2011; Latvia will join on 1st Janu- ary 2014, while in Lithuania will join a year later, on 1 st January 2015 (EC EFA). At the macro level, all three Baltic States continued to demonstrate recovery from economic and financial crisis in 2013. Emigration is still among the most pressing issues in Latvia and Lithuania, in Estonia, though, to lesser extent. Although there have been improvements, shadow economy was still staying relatively high in the Baltic States: In Estonia 19.2% and Lithuania 18.2%, whereas in Latvia it was 21.1% of GDP in 2012. Non-taxed wages, usually paid in cash, constitute with 40% the largest proportion of all shadow economy. In 2013 all three states had GDP growth and employment rate increase among the highest in the EU. Ac- cording to the UNDP Human development reports in 2012 Estonia was placed among a Very High Human Development countries ’ group giving a 33th place (up from 34 th in 2010) among 42 most developed World economies in 2011-2012. Lithuania remained in a High Human Development group, occupying 41 th (but up from 44 th in 2010), while Latvia was at 44th place in the same groups with Lithuania. Trade unions (TU’s) remain rather weak in the Baltic States despite being involved in social dialogue and international cooperation, including access to competitive funding for various projects. -
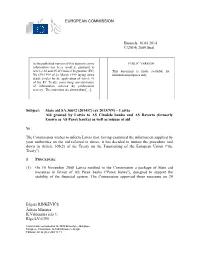
Memorandum from Mr Almunia to the Commission
EUROPEAN COMMISSION Brussels, 16.04.2014 C(2014) 2689 final In the published version of this decision, some PUBLIC VERSION information has been omitted, pursuant to articles 24 and 25 of Council Regulation (EC) This document is made available for No 659/1999 of 22 March 1999 laying down information purposes only. detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty, concerning non-disclosure of information covered by professional secrecy. The omissions are shown thus […]. Subject: State aid SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN) – Latvia Aid granted by Latvia to AS Citadele banka and AS Reverta (formerly known as AS Parex banka) as well as misuse of aid Sir, The Commission wishes to inform Latvia that, having examined the information supplied by your authorities on the aid referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union ("the Treaty"). 1 PROCEDURE (1) On 10 November 2008 Latvia notified to the Commission a package of State aid measures in favour of AS Parex banka ("Parex banka"), designed to support the stability of the financial system. The Commission approved those measures on 24 Edgars RINKĒVIČS Ārlietu Ministrs K.Valdemāra iela 3, Rīga LV-1395 Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel – België Tālrunis: 00 32 (0) 2 299.11.11. November 20081 ("first rescue Decision") based on Latvia's commitment to submit a restructuring plan for Parex banka within six months. (2) Following requests from Latvia, the Commission approved two sets of changes to the aid measures concerning Parex banka, the first on 11 February 20092 ("second rescue Decision") and the second on 11 May 20093 ("third rescue Decision"). -

Banking Sector Concentration, Competition and Financial Stability
Banking sector concentration, competition and financial stability: the case of the Baltic countries Juan Carlos Cuestas∗ Yannick Lucotte† Nicolas Reigl‡ March 1, 2019 Abstract This paper empirically assesses the potential nonlinear relationship be- tween competition and bank risk for a sample of commercial banks in the Baltic countries over the period 2000-2014. Competition is measured by two alternative indexes, the Lerner index and the market share, while we consider the Z-score and loan loss reserves as proxies for bank risk. In line with the theoretical predictions of Martinez-Miera and Repullo (2010), we find an inverse U-shaped relationship between competition and financial stability. This then means that above a certain threshold, the lack of competition is likely to exacerbate the individual risk-taking behaviour of banks, and could be detrimental to the stability of the banking sector in the Baltic countries. The threshold is around 0.60 for the Lerner index, and close to 50% for market share in terms of assets. The policy implica- tions are that the existence of such a threshold suggests that the future evolution of the structure of the banking industry in these countries is of critical importance. Specifically, this implies that policy-makers should place greater emphasis on mergers and acquisitions to avoid any signifi- cant increase of banking sector concentration. Keywords: Bank competition, Banking sector concentration, Market power, Lerner Index, Financial stability, Bank-risk taking, Baltic countries JEL Codes: G21, G28, G32, L51 ∗Jaume I University, Eesti Pank. Email: [email protected] †PSB Paris School of Business, Department of Economics, 59 rue Nationale, 75013 Paris, France. -

Central Bank of Ireland - RESTRICTED
Central Bank of Ireland - RESTRICTED 1.3.1 Director: 1.3.1(a) Surname Melameds 1.3.1(b) Former surname N/A 1.3.1(c) Forename Pavels 1.3.1(d) Former forename N/A 1.3.1(e) Date of Birth 10.05.1978 Nitaures str. 3-16, Riga, LV-1013, Latvia Residential 1.3.1(f) Address (usual) 1.3.1(g) Business Occupation Chairman of the Board at Aquarium Investments IPS 1.3.1 (h) Nationality Latvian Provide the particulars of ALEPH SYSTEMS SIA (Latvia) - Chairman of the Board - any at the present time other present or SIA AGPM Holdings (Latvia) – Chairman of the Board - at former directorships the present time of bodies corporate, RB Asset Management (Latvia) – Board whether incorporated in the Member (December 2007 – June 2014) State or elsewhere (i.e. Rietumu Banka (Latvia)- Head of Asset Management 1.3.2.1(i) include company name, Division (June 2007 – December 2007) domicile and dates of appointment) **Ensure all details are visible when submitting Director: 1.3.2 a Surname Bourke 1.3.2 b Former surname N/A 1.3.2 c Forename Michael Joseph 1.3.2 d Former forename N/A 1.3.2 e Date of Birth 13.01.1952 1.3.2 f Ausekla str. 5/11, Riga, LV-1010, Latvia Residential Address (usual) 1.3.2 g Business Occupation Chairman of the Council at Aquarium Investments IPS 1.3.2 h Nationality Irish Central Bank of Ireland - RESTRICTED 1.3.2 i a. CENTRAL BANK OF IRELAND. (1971-1983, 1986- 1987) (2010/11). -

Eu Bop Assistance to Latvia –
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS Brussels, 15 January 2013 EU BOP ASSISTANCE TO LATVIA – SECOND REVIEW UNDER POST-PROGRAMME SURVEILLANCE _________________________________________________ 1 EXECUTIVE SUMMARY The assessment of Latvian post-programme policies, when compared to commitments in the latest SMoU, is overall positive but also raises important concerns. The structural reforms are pushed forward, even though there are some delays in implementation, and the numerical budgetary targets are persistently overachieved due to a better economic situation and improvements in revenue collection. The government has made significant progress during the past year on important issues like implementing state owned asset management reform, reviewing active labour market and social policies, pursuing the fight against the grey economy, and initiating reforms in higher education and science. Overall, the authorities seem to have taken the commitments seriously and the increased quality of policymaking of individual ministers and the Cabinet promises good reform and development prospects going forward. Progress with reforms and positive macroeconomic developments led to an upgrade by two major rating agencies and successful international bond issuance in February and December 2012 which allowed Latvia to re-pay the entire IMF loan significantly ahead of schedule. At the same time, better economic and budgetary results, coupled with the end of close surveillance under the BoP, have led to some complacency, a relaxation -

I )Emocrats Hit Mayor on Jobless GOP Scores Claims of Democrats Vote Delay on Cypress St. Change
First With The News! For Value - Shop The Ados Keep Astride All The Activities Of The Town With Your The Largest And Bret Shops And Home-Town Paper Services In The Area Are Our Advertisers! Patroniie Them! VOL, XXXIII—NO. 27 dartereCARTERET, N. J., FRIDAY,t OCTOBER 22, 1954 PRICE EIGHT CENTS I )emocrats Junior Achievement Firm Sells Stock GOP Scores Election Campaign Going Vote Delay Hit Mayor Into Accelerated Speed Claims of CARTERET Democratic ing place, usually before elect inn On Cypress and Republlenn cnndiclntes are which candidates, lenders of stumping at top speed through- both parties and their advisors On Jobless out the borough ns they are are making sure to attend. At Democrats 11 nearinR the dual stretch of their have an oportunity to me ; St. Change drive to election day many voters and make i» bid fur I Jim Hurefonl Failed in StaU'inenl Asserts The tempo of the electioneer- I heir votes, ing Is mounting and the rival votes. Ine-way Street Plan lo jo Aid Unemployed 1 l\wt Administration contenders tin r x c li a n«I n g With election only ten days Re (iiven Further I,, Borough chaises and countercharges ns Made Many Blunders well as promises t)f the things away,- there will be tho usual Study l>\ Council UiTKRET — The Democratic they would accomplish if elected., Inst-mlnute printed mutter CARTERET — Republican can- • nizBtlon has Issued the fol- Plans, meanwhile are being making the rounds In an effort CARTKKET Bormmh Cwm- . :!ldnli; for re-election, Mayor ,., statement: perfected for the climatic poli- to sway the borough voters. -

The Largest Projects During the Work of Reverta the Largest Projects In
FCMC cancels the bank’s credit 2008 2010 2011 institution license 2016 2017 The Cabinet of Parex banka begins The shareholders The most complex Ministers passes a The EC approved the its work as a meeting passes a objects retains in resolution to 2012 restructuring plan of “resolutions bank.” resolution on the Reverta portfolio. It purchase the Public funds have resignation of the Parex banka, providing After changing the starts to sell assets controlling stake in been invested into credit institution for the termination of status, the bank to investors Parex banka its recovery license the activities of Reverta transformed into Joint-Stock Company Reverta The State has earned Limited +19,2 Returned loans guaranteed by the investment Grand total mln. EUR state returned recovered 245 mln. EUR 750 +18,6 Payments on subordinated loans or Other payments to mln. EUR the State Treasury 691 mln. EUR 67% 430,2 7 mln. EUR of distressed Average amount of the recovered debt per assets employee during the 16 Taxes paid work of Riverta The largest projects during The largest projects in 2016 the work of Reverta 10,6 Completion of the largest and most The deal to restructure the debt of a mln. EUR complex credit project in Lithuania 68,2 major Russian company working in mln. EUR the field of grain business "Meridian" project - a unique, valuable 9,0 land in the center of Tallinn One of the most complex projects in mln. EUR Russia - OJSC "MOSCOW" 27,8 The deal on the reconstruction, lease mln. EUR department store." Recovering the principal debt in full 6,19 and sale of the central airBaltic office mln. -

Grande Estratégia E Ordem Regional: a Política De Energia Dos Estados Unidos Na Ásia Central E No Cáucaso”
SOLANGE REIS FERREIRA “GRANDE ESTRATÉGIA E ORDEM REGIONAL: A POLÍTICA DE ENERGIA DOS ESTADOS UNIDOS NA ÁSIA CENTRAL E NO CÁUCASO” CAMPINAS 2013 i ii UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS SOLANGE REIS FERREIRA “GRANDE ESTRATÉGIA E ORDEM REGIONAL: A POLÍTICA DE ENERGIA DOS ESTADOS UNIDOS NA ÁSIA CENTRAL E NO CÁUCASO” ORIENTADOR: PROF. DR. SEBASTIÃO CARLOS VELASCO E CRUZ TESE DE DOUTORADO APRESENTADA AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTORA EM CIÊNCIA POLÍTICA. ESTE EXEMPLAR CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA TESE DEFENDIDA PELA ALUNA SOLANGE REIS FERREIRA E ORIENTADA PELO PROF. DR. SEBASTIÃO CARLOS VELASCO E CRUZ. CAMPINAS 2013 iii iv v vi RESUMO Esta tese analisa a política externa de energia dos Estados Unidos na Ásia Central e no Cáucaso após a Guerra Fria. Ambas as regiões foram incluídas na grande estratégia do país, pois o fim da fronteira ideológica criou a oportunidade para que os Estados Unidos estendessem sua hegemonia. Como os recursos energéticos regionais representavam novas opções para o mercado global e condicionavam as relações entre as antigas repúblicas soviéticas, os assuntos de energia tornaram-se o princípio orientador da política externa dos Estados Unidos para essas regiões. Ademais, controlar o comércio global de energia sempre fora parte do processo de construção da Pax Americana. Nos governos Bill Clinton e George W. Bush, o planejamento implicou uma política de “portas abertas” para que o capital internacional não encontrasse barreiras de entrada. O objetivo era desenvolver os setores de petróleo e gás, e a capacidade de exportação dos países produtores. -

Even Critics Like Budget MANCHESTER - the Months
I’ACK TWKNTV - KVKNING HKRALD. Mun . April 2, 1979 Mayor^s Work Is Never Done in South Windsor ___ ________________^ _____________________ _____anrvInilDn tliA t l , . _______________ji.t . .. •• • applause from the youngster as she fic would rim smoothly. "Possibly some day," answered much work it would be." I K .111)^ K i ......... entered the nxim, came armed with "Can we have a bike path from the mayor, “ I would hate to see it “ Are you going to run for gover Ilcriilil Uitrrcn|ioii<lciit |K)sters. copies of the town charter Sand H ill Road to the new library so close ij o u s e it's a real nice school, nor?" asked another. .SOUTH WTND.SOR - A mayor s PZC Needs Deep Thought New Managers Improve District L eit^ Protest and a copy of this year s proposed we can ride our bikes and not have to but vwooh't have as many children Mayor Caffyn assured her Whalers* Dineen Not work is never done! budget. use Sullivan Avenue or Ellington going to sch(X)l.in South Windsor as audience that 'her political On Liquor Rule Changes Beechwood Apartments Rev-Share C^e^Sewer Fee Or .so it appeared when .South Win- Fired hut Reassigned The classroom teacher, Mrs, Road. " asked another youngster, we used to have, so we don't need as aspirations djd not include state dor s Mayor Nancy Calfyn took time Dorothy Kaezynski, had asked the Page 2 Page, 3 Page 8 "We have thought about that,” many schools.” government, however one child — so Page 9 1 -----------------------------------------------------------------------------. -

FINAL FINDINGS Eurostat EDP Dialogue Visit to Latvia 7-9 June 2017
Ref. Ares(2018)2153878 - 23/04/2018 EUROPEAN COMMISSION EUROSTAT Directorate D: Government Finance Statistics (GFS) and quality Unit D-3: Excessive deficit procedure (EDP) 2 Luxembourg, 23 April 2018 FINAL FINDINGS Eurostat EDP dialogue visit to Latvia 7-9 June 2017 Commission européenne, 2920 Luxembourg, LUXEMBOURG - Tel. +352 4301-1 http://ec.europa.eu/eurostat EXECUTIVE SUMMARY Eurostat carried out an EDP dialogue visit to Latvia on 7-9 June 2017, accompanied by observers from the Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) and from the European Central Bank (ECB). Latvia was represented by the Central Statistical Bureau of Latvia (CSB), the Ministry of Finance of Latvia (MoF), the Treasury of Latvia and the Bank of Latvia (the Central Bank). Representatives from the Ministry of Economics, the Ministry of Transport, the Ministry of Environmental Protection and Regional Development, VAS “Latvijas Dzelzcelš” and E&Y Baltics also participated during the relevant sessions. (Please see the list of participants in Annex 1). Eurostat undertook this EDP dialogue visit in order to discuss the quality framework for the production of EDP statistics, and the audit and internal control arrangements in place, to review data sources for the EDP data compilation and to monitor the implementation of the ESA 2010 methodology and of the provisions of the ESA 2010 Manual on Government Deficit and Debt for the recording of government transactions, the application of the accrual principle and the sector classification of units. The participants agreed on 41 action points. As regards the institutional responsibilities, the Latvian Statistical Authorities confirmed the publication of Cabinet Regulation No.