Mindhunter E a Representação Dos Serial
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

NECROPHILIC and NECROPHAGIC SERIAL KILLERS Approval Page
Running head: NECROPHILIC AND NECROPHAGIC SERIAL KILLERS Approval Page: Florida Gulf Coast University Thesis APPROVAL SHEET This thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science Christina Molinari Approved: August 2005 Dr. David Thomas Committee Chair / Advisor Dr. Shawn Keller Committee Member The final copy of this thesis has been examined by the signatories, and we find that both the content and the form meet acceptable presentation standards of scholarly work in the above mentioned discipline. NECROPHILIC AND NECROPHAGIC SERIAL KILLERS 1 Necrophilic and Necrophagic Serial Killers: Understanding Their Motivations through Case Study Analysis Christina Molinari Florida Gulf Coast University NECROPHILIC AND NECROPHAGIC SERIAL KILLERS 2 Table of Contents Abstract ........................................................................................................................................... 5 Literature Review............................................................................................................................ 7 Serial Killing ............................................................................................................................... 7 Characteristics of sexual serial killers ..................................................................................... 8 Paraphilia ................................................................................................................................... 12 Cultural and Historical Perspectives -

Frequencies Between Serial Killer Typology And
FREQUENCIES BETWEEN SERIAL KILLER TYPOLOGY AND THEORIZED ETIOLOGICAL FACTORS A dissertation presented to the faculty of ANTIOCH UNIVERSITY SANTA BARBARA in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PSYCHOLOGY in CLINICAL PSYCHOLOGY By Leryn Rose-Doggett Messori March 2016 FREQUENCIES BETWEEN SERIAL KILLER TYPOLOGY AND THEORIZED ETIOLOGICAL FACTORS This dissertation, by Leryn Rose-Doggett Messori, has been approved by the committee members signed below who recommend that it be accepted by the faculty of Antioch University Santa Barbara in partial fulfillment of requirements for the degree of DOCTOR OF PSYCHOLOGY Dissertation Committee: _______________________________ Ron Pilato, Psy.D. Chairperson _______________________________ Brett Kia-Keating, Ed.D. Second Faculty _______________________________ Maxann Shwartz, Ph.D. External Expert ii © Copyright by Leryn Rose-Doggett Messori, 2016 All Rights Reserved iii ABSTRACT FREQUENCIES BETWEEN SERIAL KILLER TYPOLOGY AND THEORIZED ETIOLOGICAL FACTORS LERYN ROSE-DOGGETT MESSORI Antioch University Santa Barbara Santa Barbara, CA This study examined the association between serial killer typologies and previously proposed etiological factors within serial killer case histories. Stratified sampling based on race and gender was used to identify thirty-six serial killers for this study. The percentage of serial killers within each race and gender category included in the study was taken from current serial killer demographic statistics between 1950 and 2010. Detailed data -

Society's View of Mental Illness As a Result of Fictionalized Portrayals of Serial Killer Narratives
Northeastern Illinois University NEIU Digital Commons University Honors Program Senior Projects Student Theses and Projects 5-2020 Society's View of Mental Illness as a Result of Fictionalized Portrayals of Serial Killer Narratives Cassidy Schmidt Northeastern Illinois University, [email protected] Follow this and additional works at: https://neiudc.neiu.edu/uhp-projects Part of the Film and Media Studies Commons, and the Television Commons Recommended Citation Schmidt, Cassidy, "Society's View of Mental Illness as a Result of Fictionalized Portrayals of Serial Killer Narratives" (2020). University Honors Program Senior Projects. 7. https://neiudc.neiu.edu/uhp-projects/7 This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Theses and Projects at NEIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in University Honors Program Senior Projects by an authorized administrator of NEIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected],l- [email protected]. SOCIETY’S VIEWS OF MENTAL ILLNESS AS A RESULT OF FICTIONALIZED PORTRAYALS OF SERIAL KILLER NARRATIVES A Thesis Presented to the Faculty of the University Honors Program Northeastern Illinois University In Partial Fulfillment of the Requirements of the NEIU Honors Program for Graduation with Honors Cassidy Schmidt May 2020 ABSTRACT Fictionalized serial killer narratives have been essential to media for decades, beginning with the early noir films, detective novels of the 1940s and 50s (Murley, 2), and western narratives which heavily depicted good versus evil (Hall, 5). As media has evolved, fascination with true crime has continued to grow and in turn, began to increasingly provide inspiration for fictional films and TV shows, especially through streaming service television shows like Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (2019), Mindhunter (2017), and Making a Murder (2015). -
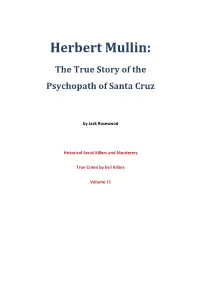
Herbert Mullin
Herbert Mullin: The True Story of the Psychopath of Santa Cruz by Jack Rosewood Historical Serial Killers and Murderers True Crime by Evil Killers Volume 11 Copyright © 2015 by Wiq Media ALL RIGHTS RESERVED No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Don’t miss your FREE bonus! CLICK HERE And go to the end of the book to find out what it is! Contents Introduction Chapter 1: A Good, Normal Boy High School Sweethearts The Death of a Friend Chapter 2: The Cracks Are Showing Sex, Drugs and College Vietnam – Awarded Conscientious Objector Status Thanks to Dad Chapter 3: He’s Mad, I Tell You – Doctor’s Warnings San Francisco Home Again Chapter 4: Four Months of Madness The Victims Chapter 5: Caught In Broad Daylight No Fear of Capture What Do Earthquakes, Albert Einstein and Herbert Mullin Have In Common? Chapter 6: Victimology Wrong Place, Wrong Time Random Acts Of Killing Chapter 7: The Trial Begins The Evidence The Weapons A Non-Specific Motive A Question Of Sanity Psychiatric Conundrum Trial Of Patience The Die Song The Jonah Theory His Sexuality Father Issues Sentencing Chapter 8: Life Behind Bars Parole Hearings Chapter 9: Who’s To Blame? His Father His Mother Ronald Reagan Marijuana and LSD Hippies Santa Cruz Police Chapter 10: Schizophrenic Or Playing A Game? No Job, No Money Excuses, Excuses, Excuses A Tale Of Many Twists How Far Would You Go? Theories Or Clever Ruses The Number 13 The Voices Made Me Do It Military Rejection Putting On Gloves Chapter 11: Quotes, Quirks and Tidbits Strange Behaviors Memorialized In Music Chapter 12: Was Herbert Mullin Born To Kill? The Traits in Herbert Mullin Chapter 13: Aftermath Legal Changes Chapter 14: Putting It All Together Mental Health Drugs Ruined His Brain Planning Ahead Introduction The twisted tale of Herbert Mullin and his brief but volatile murder spree truly is one that is stranger than fiction. -

Decoding Dexter
DECODING DEXTER: AN ANALYSIS OF AMERICA’S FAVORITE SERIAL KILLER by Erin Burns-Davies A Dissertation Submitted to the Faculty of the Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Florida Atlantic University Boca Raton, FL August 2019 Copyright 2019 by Erin Burns-Davies ii ACKNOWLEDGEMENTS Dr. Jane Caputi: Words fail to adequately express my gratitude for your participation as chair of my dissertation committee. Your scholarship, research suggestions, constructive criticism, patience, and belief in me were essential in making this manuscript a reality. I continue to be in awe of your work in ways that have not only influenced my writing but also my teaching. Dr. Marcella Munson: Your notes on my dissertation and feedback during my defense were critical in making the manuscript more polished and effective. Thank you for your participation on my dissertation committee. Dr. Christopher Robé: Thank you for your constructive criticism, particularly your insight into the connection between the horror genre and queer identity. I appreciate how your ideas have challenged and enhanced my work on this dissertation. My mother, Susan Burns-Davies: In your battle against cancer these last few years, you have been a model of bravery amidst hardship. Thank you for your many sacrifices and for seeing me to the end of this journey. I look forward to celebrating not only this achievement but also your renewed health and many years ahead with you by my side. Dr. Shireen Lalla: My sister, this project would not have been possible without your support. -

Serial Killers Are Interesting, They're Not Heroes
Wilfrid Laurier University Scholars Commons @ Laurier Theses and Dissertations (Comprehensive) 2017 “Serial killers are interesting, they’re not heroes”: Moral boundaries, identity management, and emotional work within an online community Michael Spychaj [email protected] Follow this and additional works at: https://scholars.wlu.ca/etd Part of the Criminology Commons Recommended Citation Spychaj, Michael, "“Serial killers are interesting, they’re not heroes”: Moral boundaries, identity management, and emotional work within an online community" (2017). Theses and Dissertations (Comprehensive). 1985. https://scholars.wlu.ca/etd/1985 This Thesis is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations (Comprehensive) by an authorized administrator of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. “Serial killers are interesting, they’re not heroes”: Moral boundaries, identity management, and emotional work within an online community Michael Spychaj ACKNOWLEDGEMENTS This research project would not have been possible without the guidance of my thesis supervisors Dr. Antony Christensen and Dr. Andrew Welsh, who both provided invaluable insight throughout the research process. They allowed me to create a research project I was passionate about and be my own. I would also like to thank the Wilfrid Laurier University Criminology Department, who have always made themselves accessible to me throughout my undergraduate and Master’s degree, allowing me to grow as a student. I am especially thankful to all my family and friends, whose unwavering support and belief in my abilities has kept me going even during the times I felt like giving up. -

Mass, Serial and Sensational Homicides* Park Elliott Dietz, M.D., M.P.H., Ph.D
477 MASS, SERIAL AND SENSATIONAL HOMICIDES* PARK ELLIOTT DIETZ, M.D., M.P.H., PH.D. Associate Professor of Law and of Behavioral Medicine and Psychiatry School of Law University of Virginia Charlottesville, Virginia M4 Y task today-that of conveying information about three understudied classes of offenses-compels me to speak to you without the quan- titative cloak of social science with which I would prefer to dress this grue- some subject. Of necessity, I rely on case examples and fragments of re- search, because no quantitative data are available on most of the topics addressed here. My approach is to describe the elements common to these three classes of offense, to describe examples of each class, and to suggest the subtypes most often observed for each class. COMMON ELEMENTS OF MASS, SERIAL AND SENSATIONAL HOMICIDES Mass, serial and sensational homicides all evoke a high degree of pub- licity. The predictably high publicity attending these crimes is among the motives of their perpetrators. Like John Hinckley, offenders in each of these categories see headlines as one of the predictable outcomes of their behavior, which they pursue in part for this purpose. The American preoccupation with celebrity is no secret. A recent issue of TV Guide, the weekly index to Ameri- can preoccupations, offers the following network and cable experiences: "Eye on Hollywood," "Hollywood Insider," "Star Search," "Celebrity Chefs," "Lifestyles of the Rich and Famous," and "You Can Be a Star." The celebrity industry is of such compelling interest to the public that it has even spawned a secondary industry of celebrity "news" programs in the form of "Entertainment This Week," "Entertainment Tonight," "Show- *Presented as part of a Symposium on Homicide: The Public Health Perspective held by the Com- mittee on Public Health of the New York Academy of Medicine October 3 and 4, 1985, and made pos- sible by a generous grant from the Ittleson Foundation. -

A Psychological Comparison of Literary and Real-Life Serial Killers
ABSTRACT DEPARTMENT OF HUMANITIES GLAPION, QUIANNA B.A. LOYOLA UNIVERSITY NEW ORLEANS, 2000 M.A. TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY, 2009 FBI FILES: A PSYCHOLOGICAL COMPARISON OF LITERARY AND REAL-LIFE SERIAL KILLERS Committee Co-Chairs: Viktor Osinubi, Ph.D. and Timothy Askew, Ph.D. Dissertation dated May 2019 This study examines the psychology of fictional and real-life serial killers and the behavioral similarities between them. Three fictional murderers, mainly Macbeth (William Shakespeare’s Macbeth), Buffalo Bill (The Silence of the Lambs), and the Creature (Frankenstein), as well as real life killers such as Charles Manson, Ed Gein, and Edmund Kemper were researched in depth. The data for this study was gathered from a variety of sources such as biographies, television interviews, published novels, articles, and documentaries. This study also focuses on predispositional factors and personality traits that led these killers to a life of crime. While no single behavioral trait was found to be present in every murderer studied, some of the psychological factors that were found to have predictive value included: abusive upbringings, mother hate, adoption, pornography, and brain damage were also reliable predictors in the lives of fictional and nonfictional perpetrators. i FBI FILES: A PSYCHOLOGICAL COMPARISON OF LITERARY AND REAL-LIFE SERIAL KILLERS A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF CLARK ATLANTA UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY BY QUIANNA GLAPION DEPARTMENT OF HUMANITIES ATLANTA, GEORGIA MAY 2019 © 2019 QUIANNA GLAPION All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS I wish to express my deepest appreciation to Dr. Viktor Osinubi, my committee chair, who has the substance of brilliance and ingenuity. -

Fatal Attraction : the Serial Killer in American Popular Culture Bentham, AA
Fatal attraction : the serial killer in American popular culture Bentham, AA Title Fatal attraction : the serial killer in American popular culture Authors Bentham, AA Type Book Section URL This version is available at: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/57498/ Published Date 2015 USIR is a digital collection of the research output of the University of Salford. Where copyright permits, full text material held in the repository is made freely available online and can be read, downloaded and copied for non-commercial private study or research purposes. Please check the manuscript for any further copyright restrictions. For more information, including our policy and submission procedure, please contact the Repository Team at: [email protected]. Fatal Attraction: The Serial Killer in American Popular Culture If a single figure can be said to exemplify American popular culture’s apparent fascination with violence, it is the enigmatic serial murderer. The mythos that has sprung up around the serial killer is both potent and ubiquitous; representations occur in various forms of media, including fiction, true crime, film and television, music, and graphic novels. So iconic is this figure, that one can even purchase serial killer action figures, trading cards and murderabilia.1 Notably, this is not an entirely niche market; CDs of Charles Manson’s music can be purchased from Barnes & Noble and, in 2010, Dexter action figures were available to purchase in Toys R Us. Indeed, the polysemic serial killer holds such a unique place in the cultural imaginary that he or she has in some ways come to be seen as emblematic of America itself. -

The Development of Serial Killers: a Grounded Theory Study
Eastern Illinois University The Keep Masters Theses Student Theses & Publications 2018 The evelopmeD nt of Serial Killers: A Grounded Theory Study Meher Sharma Eastern Illinois University This research is a product of the graduate program in Clinical Psychology at Eastern Illinois University. Find out more about the program. Recommended Citation Sharma, Meher, "The eD velopment of Serial Killers: A Grounded Theory Study" (2018). Masters Theses. 3720. https://thekeep.eiu.edu/theses/3720 This is brought to you for free and open access by the Student Theses & Publications at The Keep. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of The Keep. For more information, please contact [email protected]. Thesis Maintenance and Reproduction Certificate FOR: Graduate Candidates Co mpletin g Theses in Partial Fulfillment of the Degree Graduate Faculty Advisors Directing the Theses RE: Preservation, Reproduction, and Distribution ofThesis Research Preserving, reproducing, and distributing thesis research is an important part of Booth library's responsibility to provide access to scholarship. In order to further this goal, Booth library makes all graduate theses completed as part of a degree program at Eastern Illinois University available for personal study, research, and other not-for profit educational purposes. Under 17 U.S.C. § 108, the library may reproduce and distribute a copy without infringing on copyright; however, professional courtesy dictates that permission be requested from the author before doing so. Your signatures affirm the following: •The graduate candidate is the author of this thesis. • The graduate candidate retains the copyright and intellectual property rights associated with the original research, creative activity, and intellectual or artistic content of the thesis. -
Seriality and the Serial Killer
Research How to Cite: Jones, K. 2020. Returning to the Scene: Seriality and the Serial Killer. Open Screens, 3(1): 5, pp. 1–25. DOI: https://doi.org/10.16995/ os.27 Published: 09 December 2020 Peer Review: This article has been peer reviewed through the double-blind process of Open Screens, which is a journal published by the Open Library of Humanities. Copyright: © 2020 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Open Access: Open Screens is a peer-reviewed open access journal. Digital Preservation: The Open Library of Humanities and all its journals are digitally preserved in the CLOCKSS scholarly archive service. Jones, K. 2020. Returning to the Scene: Seriality and the Serial Killer. Open Screens, 3(1): 5, pp. 1–25. DOI: https://doi.org/10.16995/os.27 RESEARCH Returning to the Scene: Seriality and the Serial Killer Katie Jones Swansea University, GB [email protected] This article reads the perennial popularity of true crime products as symptomatic of repression and cultural trauma. Providing a close-reading of gender representation in the popular Netflix series Mindhunter, the author meditates on the postmodern characteristics of the series, which also signal the “forgotten” or repressed content to which the viewer returns. Utilising a feminist psychoanalytic approach to the popular Netflix series Mindhunter, the author considers representation in relation to seriality in order to speculate that seriality might formalise the traumatic return, and be used as material through which to unearth the repressed content inherent to the true crime genre, namely: the victim’s perspective. -

Examining Psychopathy on a Continuum and the Relationship
EXAMINING PSYCHOPATHY ON A CONTINUUM AND THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND PREMEDITATION METHODS OF SERIAL OFFENDERS BY GABRIELLE ORDONEZ A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Forensic Psychology California Baptist University College of Behavioral Sciences 2018 COLLEGE OF BEHAVIORAL SCIENCES The thesis of Gabrielle Ordonez, “Examining Psychopathy on a Continuum and the Relationship Between Anxiety and Premeditation Methods of Serial Offenders,” approved by her Committee, has been accepted and approved by the Faculty of the College of Behavioral Sciences, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Forensic Psychology. Thesis Committee: Dr. Jenny Elizabeth Aguilar PsyD, Chair Dr. Annemarie Larsen PhD, Reader April 31, 2018 ii DEDICATION To my son Michael Anything is possible with hard work and dedication. I hope my journey inspires you to follow your dreams. I wish you enough, Godspeed. iii ACKNOWLEDGMENTS I would like to acknowledge my chair, Dr. Jenny Elizabeth Aguilar, and express my sincere gratitude for all the patience, assistance, enthusiasm and motivation that she has provided to me during this experience. I appreciate all the kind words of wisdom and the immense knowledge that has helped me in creating this study. Besides my chair, I would like to acknowledge the rest of my committee that includes Dr. Annemarie Larsen. I thank her for the encouragement, candidness, and insightful comments. I would also like to thank Dr. Ana Gamez for encouraging me to pursue a further education after finishing my masters program and for being an individual that I can lean on when I need to.