TESE Tatianne Leite Nascimento.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE Calonectria E REAÇÃO DE ACESSOS DE GRÃO-DE-BICO a ISOLADOS DE Calonectria Brassicae
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOPATOLOGIA IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE Calonectria E REAÇÃO DE ACESSOS DE GRÃO-DE-BICO A ISOLADOS DE Calonectria brassicae NARA LÚCIA SOUZA RIBEIRO TRINDADE Brasília – DF 2019 NARA LÚCIA SOUZA RIBEIRO TRINDADE IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE Calonectria E REAÇÃO DE ACESSOS DE GRÃO-DE-BICO A ISOLADOS DE Calonectria brassicae Dissertação apresentada à Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Fitopatologia pelo Programa de Pós- Graduação em Fitopatologia. Orientador Luiz Eduardo Bassay Blum, Doutor em Fitopatologia BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL – BRASIL 2019 FICHA CATALOGRÁFICA Trindade, Nara Lúcia Souza Ribeiro. Identificação de espécies de Calonectria e reação de acessos de grão-de-bico a isolados de Calonectria brassicae / Nara Lúcia Souza Ribeiro Trindade. Brasília, 2019. 60 p.: il. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, Universidade de Brasília, Brasília. 1. Grão-de-bico – CalonectriaI. I. Universidade de Brasília. PPG/FIT. II. Identificação de espécies de Calonectria spp. e reação de acessos de grão-de-bico a isolados de Calonectria brassicae. Trabalho realizado junto ao Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, sob Orientação do Professor Dr. Luiz Eduardo Bassay Blum, com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE Calonectria E REAÇÃO DE ACESSOS DE GRÃO-DE-BICO A ISOLADOS DE Calonectria brassicae NARA LÚCIA SOUZA RIBEIRO TRINDADE DISSERTAÇÃO APROVADA em: 17/12/2019 por: __________________________________ Dra. Cléia Santos Cabral UNIDESC (Examinador Externo) __________________________________ Dr. Leonardo Silva Boiteux Embrapa Hortaliças (Examinador Externo – Vinculado ao PPG-FIT) __________________________________ Dr. -

Cylindrocladium Buxicola Nom. Cons. Prop.(Syn. Calonectria
I Promotors: Prof. dr. ir. Monica Höfte Laboratory of Phytopathology, Department of Crop Protection Faculty of Bioscience Engineering Ghent University Dr. ir. Kurt Heungens Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO) Plant Sciences Unit - Crop Protection Dean: Prof. dr. ir. Guido Van Huylenbroeck Rector: Prof. dr. Anne De Paepe II Bjorn Gehesquière Cylindrocladium buxicola nom. cons. prop. (syn. Calonectria pseudonaviculata) on Buxus: molecular characterization, epidemiology, host resistance and fungicide control Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor (PhD) in Applied Biological Sciences III Dutch translation of the title: Cylindrocladium buxicola nom. cons. prop. (syn. Calonectria pseudonaviculata) in Buxus: moleculaire karakterisering, epidemiologie, waardplantresistentie en chemische bestrijding. Please refer to this work as follows: Gehesquière B. (2014). Cylindrocladium buxicola nom. cons. prop. (syn. Calonectria pseudonaviculata) on Buxus: molecular characterization, epidemiology, host resistance and fungicide control. Phd Thesis. Ghent University, Belgium The author and the promotors give authorisation to consult and to copy parts of this work for personal use only. Any other use is limited by Laws of Copyright. Permission to reproduce any material contained in this work should be obtained from the author. The promotors, The author, Prof. dr. ir. M. Höfte Dr. ir. K. Heungens ir. B. Gehesquière IV Een woordje van dank…. Dit dankwoord schrijven is ongetwijfeld het leukste onderdeel van deze thesis, en een mooie afsluiting van een interessante periode. Terugblikkend op de voorbije vier jaren kan ik enkel maar beamen dat een doctoraat zoveel meer is dan een wetenschappelijke uitdaging. Het is een levensreis in al zijn facetten, waarbij ik mezelf heb leren kennen in al mijn goede en slechte kantjes. -

Supplementary Table S1 18Jan 2021
Supplementary Table S1. Accurate scientific names of plant pathogenic fungi and secondary barcodes. Below is a list of the most important plant pathogenic fungi including Oomycetes with their accurate scientific names and synonyms. These scientific names include the results of the change to one scientific name for fungi. For additional information including plant hosts and localities worldwide as well as references consult the USDA-ARS U.S. National Fungus Collections (http://nt.ars- grin.gov/fungaldatabases/). Secondary barcodes, where available, are listed in superscript between round parentheses after generic names. The secondary barcodes listed here do not represent all known available loci for a given genus. Always consult recent literature for which primers and loci are required to resolve your species of interest. Also keep in mind that not all barcodes are available for all species of a genus and that not all species/genera listed below are known from sequence data. GENERA AND SPECIES NAME AND SYNONYMYS DISEASE SECONDARY BARCODES1 Kingdom Fungi Ascomycota Dothideomycetes Asterinales Asterinaceae Thyrinula(CHS-1, TEF1, TUB2) Thyrinula eucalypti (Cooke & Massee) H.J. Swart 1988 Target spot or corky spot of Eucalyptus Leptostromella eucalypti Cooke & Massee 1891 Thyrinula eucalyptina Petr. & Syd. 1924 Target spot or corky spot of Eucalyptus Lembosiopsis eucalyptina Petr. & Syd. 1924 Aulographum eucalypti Cooke & Massee 1889 Aulographina eucalypti (Cooke & Massee) Arx & E. Müll. 1960 Lembosiopsis australiensis Hansf. 1954 Botryosphaeriales Botryosphaeriaceae Botryosphaeria(TEF1, TUB2) Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. 1863 Canker, stem blight, dieback, fruit rot on Fusicoccum Sphaeria dothidea Moug. 1823 diverse hosts Fusicoccum aesculi Corda 1829 Phyllosticta divergens Sacc. 1891 Sphaeria coronillae Desm. -

PATHOGENIC to PEQUI Caryocar Brasiliense in BRAZIL
GABRIELLE AVELAR SILVA Cryptoporthe reticulata GEN. SP. NOV. (CRYPHONECTRIACEAE), PATHOGENIC TO PEQUI Caryocar brasiliense IN BRAZIL LAVRAS – MG 2018 GABRIELLE AVELAR SILVA Cryptoporthe reticulata GEN. SP. NOV. (CRYPHONECTRIACEAE), PATHOGENIC TO PEQUI Caryocar brasiliense IN BRAZIL Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do programa de pós-graduação em Agronomia /Fitopatologia, área de concentração em Fitopatologia, para a obtenção do título de Mestre. Profa. Dra. Maria Alves Ferreira Orientadora LAVRAS - MG 2018 Silva, Gabrielle Avelar. Cryptoporthe reticulata gen. sp. nov. (Cryphonectriaceae), pathogenic to pequi Caryocar brasiliense in Brazil / Gabrielle Avelar Silva. - 2018. 49 p. : il. Orientador(a): Maria Alves Ferreira Dissertação (mestrado acadêmico) - Universidade Federal de Lavras, 2018. Bibliografia. 1. Pequizeiro. 2. Cerrado. 3. Filogenia. I. Ferreira, Maria Alves. II. Título. O conteúdo desta obra é de responsabilidade do(a) autor(a) e de seu orientador(a). GABRIELLE AVELAR SILVA Cryptoporthe reticulata GEN.SP.NOV. (CRYPHONECTRIACEAE), PATHOGENIC TO PEQUI (Caryocar brasiliense) IN BRAZIL Cryptoporthe reticulata GEN. SP. NOV. (CRYPHONECTRIACEAE), FUNGO CAUSADOR DO CANCRO EM Caryocar brasiliense NO BRASIL Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do programa de pós-graduação em Agronomia /Fitopatologia, área de concentração em Fitopatologia, para a obtenção do título de Mestre. APROVADA em 07 de março de 2018. Dra. Nilza de Lima Pereira Sales UFMG Dra. Sarah da Silva Costa Guimarães UFLA Profa. Dra. Maria Alves Ferreira Orientadora LAVRAS - MG 2018 A Deus que nunca me desamparou e que me segurou pelas mãos nos momentos difíceis. Aos meus pais, Francisco e Olívia, que sempre me deram amor, apoio e nunca mediram esforços para que eu chegasse até aqui. -
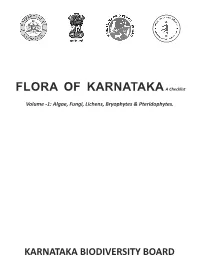
FLORA of KARNATAKA a Checklist
FLORA OF KARNATAKA A Checklist Volume ‐1: Algae, Fungi, Lichens, Bryophytes & Pteridophytes. CITATION Karnataka Biodiversity Board, 2019. FLORA OF KARNATAKA, A Checklist. Volume – 1: Algae, Fungi, Lichens, Bryophytes & Pteridophytes . 1-562 (Published by Karnataka Biodiversity Board) Published: December, 2019. ISBN - 978-81-9392280-4 © Karnataka Biodiversity Board, 2019 ALL RIGHTS RESERVED No part of this book, or plates therein, may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying recording or otherwise without the prior permission of the publisher. This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade, be lent, re-sold, hired out or otherwise disposed of without the publisher's consent, in any form of binding or cover other than that in which it is published. The correct price of this publication is the price printed on this page. Any revised price indicated by a rubber stamp or by a sticker or by any other means is incorrect and should be unacceptable. DISCLAIMER THE CONTENTS INCLUDING TEXT, PLATES AND OTHER INFORMATION GIVEN IN THE BOOK ARE SOLELY THE AUTHOR'S RESPONSIBILITY AND BOARD DOES NOT HOLD ANY LIABILITY. PRICE: ` 1000/- (One thousand rupees only). Printed by : Peacock Advertising India Pvt Ltd. # 158 & 159, 3rd Main, 7th Cross, Chamarajpet, Bengaluru – 560 018 | Ph: 080 - 2662 0566 Web: www.peacockgroup.in Authors 1. Dr. R.K. Gupta, Scientist D, Botanical Survey of India, Central National Herbarium, P O Botanic Garden, Howrah 711103, West Bengal. 2. Dr. J.R. Sharma, Emeritus Scientist, Botanical Survey of India, Northern Regional Centre, 192, Kaulagarh Road, Dehra Dun 248 195, Uttarakhand. -

<I>Calonectria</I> (<I>Cylindrocladium</I>) Species
Persoonia 23, 2009: 41–47 www.persoonia.org RESEARCH ARTICLE doi:10.3767/003158509X471052 Calonectria (Cylindrocladium) species associated with dying Pinus cuttings L. Lombard1, C.A. Rodas1, P.W. Crous1,3, B.D. Wingfield 2, M.J. Wingfield1 Key words Abstract Calonectria (Ca.) species and their Cylindrocladium (Cy.) anamorphs are well-known pathogens of forest nursery plants in subtropical and tropical areas of the world. An investigation of the mortality of rooted Pinus cuttings β-tubulin in a commercial forest nursery in Colombia led to the isolation of two Cylindrocladium anamorphs of Calonectria spe- Calonectria cies. The aim of this study was to identify these species using DNA sequence data and morphological comparisons. Cylindrocladium Two species were identified, namely one undescribed species, and Cy. gracile, which is allocated to Calonectria histone as Ca. brassicae. The new species, Ca. brachiatica, resides in the Ca. brassicae species complex. Pathogenicity Pinus tests with Ca. brachiatica and Ca. brassicae showed that both are able to cause disease on Pinus maximinoi and root disease P. tecunumanii. An emended key is provided to distinguish between Calonectria species with clavate vesicles and 1-septate macroconidia. Article info Received: 8 April 2009; Accepted: 16 July 2009; Published: 12 August 2009. INTRODUCTION In a recent survey, wilting, collar and root rot symptoms were observed in Colombian nurseries generating Pinus spp. from Species of Calonectria (anamorph Cylindrocladium) are plant cuttings. Isolations from these diseased plants consistently pathogens associated with a large number of agronomic and yielded Cylindrocladium anamorphs of Calonectria spp., and forestry crops in temperate, subtropical and tropical climates, hence the aim of this study was to identify them, and to deter- worldwide (Crous & Wingfield 1994, Crous 2002). -

CARACTERIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA COMPARATIVA DE ESPÉCIES DE Colletotrichum EM ANONÁCEAS NO ESTADO DE ALAGOAS
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PÓS-GRADUAÇÃO EM PROTEÇÃO DE PLANTAS JAQUELINE FIGUEREDO DE OLIVEIRA COSTA CARACTERIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA COMPARATIVA DE ESPÉCIES DE Colletotrichum EM ANONÁCEAS NO ESTADO DE ALAGOAS RIO LARGO 2014 2 JAQUELINE FIGUEREDO DE OLIVEIRA COSTA CARACTERIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA COMPARATIVA DE ESPÉCIES DE Colletotrichum EM ANONÁCEAS NO ESTADO DE ALAGOAS Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas da Universidade Federal de Alagoas, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Proteção de Plantas. COMITÊ DE ORIENTAÇÃO: Profa. Dra. Iraildes Pereira Assunção Profa. Dra. Kamila Correia Câmara Prof. Dr. Gaus Silvestre de Andrade Lima RIO LARGO 2014 3 Catalogação na fonte Universidade Federal de Alagoas Biblioteca Central Divisão de Tratamento Técnico Bibliotecário Responsável: Valter dos Santos Andrade C837c Costa, Jaqueline Figueredo de Oliveira. Caracterização e epidemiologia comparativa de espécies de Colletotrichum em anonáceas no estado de Alagoas / Jaqueline Figueredo de Oliveira Costa. – 2014. 110 f. : il. Orientadora: Iraildes Pereira Assunção. Coorientadores: Kamila Câmara Corrêia, Gaus Silvestre de Andrade Lima. Tese (Doutorado em Proteção de plantas) – Universidade Federal de Alagoas. Centro de Ciências Agrárias. Rio Largo, 2014. Inclui bibliografia. 1. Fungicidas. 2. Ácido salicilhidroxâmico. 3. Annona squamosa. 4. Multilocus. 5. Pinhas. 6. Graviola – Doenças e pragas I. Título. CDU: 632.4:634.41 4 Folha de Aprovação JAQUELINE FIGUEREDO DE OLIVEIRA COSTA CARACTERIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA COMPARATIVA DE ESPÉCIES DE Colletotrichum EM ANONÁCEAS NO ESTADO DE ALAGOAS Tese submetida ao corpo docente do Programa de Pós- Graduação em Proteção de Plantas da Universidade Federal de Alagoas e Aprovada em 18 de dezembro de 2014. -

Host Range, Geographical Distribution and Current Accepted Names of Cercosporoid and Ramularioid Species in Iran
Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology) 9(1): 122–163 (2019) ISSN 2229-2225 www.creamjournal.org Article Doi 10.5943/cream/9/1/13 Host range, geographical distribution and current accepted names of cercosporoid and ramularioid species in Iran Pirnia M Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran Pirnia M 2019 – Host range, geographical distribution and current accepted names of cercosporoid and ramularioid species in Iran. Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology) 9(1), 122–163, Doi 10.5943/cream/9/1/13 Abstract Comprehensive up to date information of cercosporoid and ramularioid species of Iran is given with their hosts, geographical distribution and references. A total of 186 taxa belonging to 24 genara are listed. Among them, 134 taxa were belonged to 16 Cercospora and Cercospora-like genera viz. Cercospora (62 species), Cercosporidium (1 species), Clypeosphaerella (1 species), Fulvia (1 species), Graminopassalora (1 species), Neocercospora (1 species), Neocercosporidium (1 species), Nothopassalora (1 species), Paracercosporidium (1 species), Passalora (21 species), Pseudocercospora (36 species), Rosisphaerella (1 species), Scolecostigmina (2 species), Sirosporium (2 species), Sultanimyces (1 species) and Zasmidium (1 species); and 52 taxa were belonged to 8 Ramularia and Ramularia-like genera viz. Cercosporella (2 species), Microcyclosporella (1 species), Neoovularia (2 species), Neopseudocercosporella (1 species), Neoramularia (2 species), Ramularia (42 species), Ramulariopsis (1 species) and Ramulispora (1 species). Key words – anamorphic fungi – biodiversity – Cercospora-like genera – Ramularia-like genera – west of Asia Introduction Cercosporoid and ramularioid fungi are traditionally related to the genus Mycospharella Johanson. Sivanesan (1984) investigated teleomorph-anamorph connexions in bitunicate ascomycetes and cited that Mycosphaerella is related to some anamorphic genera viz. -

University of Catania
UNIVERSITY OF CATANIA DEPARTMENT OF AGROFOOD AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS INTERNATIONAL PhD PLANT HEALTH TECHNOLOGIES AND PROTECTION OF AGROECOSYSTEMS CYCLE XXV 2010-2012 Detection of new Calonectria spp. and Calonectria Diseases and Changes in Fungicide Sensitivity in Calonectria scoparia Complex This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy by VLADIMIRO GUARNACCIA COORDINATOR SUPERVISOR PROF. C. RAPISARDA PROF. G.POLIZZI CHAPTER 1 - The genus Calonectria and the fungicide resistance.......................... 1 1.1 Introduction............................................................................................................ 2 1.1.1 Calonectria...................................................................................................... 2 1.1.2 Importance of Calonectria.............................................................................. 3 1.1.3 Morphology..................................................................................................... 6 1.1.4 Pathogenicity................................................................................................... 9 1.1.5 Microsclerotia ................................................................................................. 9 1.1.6 Mating compatibility..................................................................................... 10 1.1.7 Phylogeny...................................................................................................... 12 1.1.7.1 Calonectria scoparia species complex ................................................. -

Universidad De La República Facultad De Agronomía
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE AGRONOMÍA CARACTERIZACIÓN DE LA AGRESIVIDAD CALONECTRIA EN PLANTINES DE EUCALYPTUS grandis Y EUCALYPTUS dunnii por Mariano BLANCO VIEIRA Pía Valentina ROMERO CARDOZO TESIS presentada como uno de los requisitos para obtener el título de Ingeniero Agrónomo. MONTEVIDEO URUGUAY 2017 II Tesis aprobada por: Director: -------------------------------------------------------------------------------- Ing. Agr. (PhD.) Carlos A. Pérez -------------------------------------------------------------------------------- Ing. Agr. (Dr.) Gustavo D. Balmelli -------------------------------------------------------------------------------- Lic. Biol. (Msc.) Sofía Simeto Fecha: 22 de noviembre de 2017 Autores: -------------------------------------------------------------------------------- Mariano Blanco Vieira -------------------------------------------------------------------------------- Pía Valentina Romero Cardozo III AGRADECIMIENTOS A nuestros amigos y familia por su apoyo incondicional. A nuestro tutor Carlos A. Pérez por su apoyo y sugerencias durante el desarrollo del trabajo práctico y de escritura. A las personas que trabajan en el Laboratorio de Fitopatología por su ayuda. A los funcionarios de la Estación Experimental Mario A. Cassinoni por su disponibilidad para conseguirnos alojamiento y ser atentos frente a nuestras solicitudes. Al Ing. Agr. Oscar Bentancur por ayudarnos con el análisis estadístico. A los compañeros de Facultad de Agronomía y de la generación forestal 2015. Al tribunal por sus correcciones -

The 100 Years of the Fungus Collection Mucl 1894-1994
THE 100 YEARS OF THE FUNGUS COLLECTION MUCL 1894-1994 Fungal Taxonomy and Tropical Mycology: Quo vadis ? Taxonomy and Nomenclature of the Fungi Grégoire L. Hennebert Catholic University of Louvain, Belgium Notice of the editor This document is now published as an archive It is available on www.Mycotaxon.com It is also produced on CD and in few paperback copies G. L. Hennebert ed. Published by Mycotaxon, Ltd. Ithaca, New York, USA December 2010 ISBN 978-0-930845-18-6 (www pdf version) ISBN 978-0-930845-17-9 (paperback version) DOI 10.5248/2010MUCL.pdf 1894-1994 MUCL Centenary CONTENTS Lists of participants 8 Forword John Webser 13 PLENARY SESSION The 100 Year Fungus Culture Collection MUCL, June 29th, 1994 G.L. Hennebert, UCL Mycothèque de l'Université Catholique de Louvain (MUCL) 17 D. Hawksworth, IMI, U.K. Fungal genetic resource collections and biodiversity. 27 D. van der Mei, CBS, MINE, Netherlands The fungus culture collections in Europe. 34 J. De Brabandere, BCCM, Belgium The Belgian Coordinated Collections of Microorganisms. 40 Fungal Taxonomy and tropical Mycology G.L. Hennebert, UCL Introduction. Fungal taxonomy and tropical mycology: Quo vadis ? 41 C.P. Kurtzman, NRRL, USA Molecular taxonomy in the yeast fungi: present and future. 42 M. Blackwell, Louisiana State University, USA Phylogeny of filamentous fungi deduced from analysis of molecular characters: present and future. 52 J. Rammeloo, National Botanical Garden, Belgium Importance of morphological and anatomical characters in fungal taxonomy. 57 M.F. Roquebert, Natural History Museum, France Possible progress of modern morphological analysis in fungal taxonomy. 63 A.J. -

Species Concepts in Calonectria (Cylindrocladium)
available online at www.studiesinmycology.org StudieS in Mycology 66: 1–14. 2010. doi:10.3114/sim.2010.66.01 species concepts in Calonectria (Cylindrocladium) L. Lombard1*, P.W. Crous2, B.D. Wingfield3 and M.J. Wingfield1 1Department of Microbiology and Plant Pathology, Tree Protection Co-operative Programme, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute, University of Pretoria, Pretoria 0002, South Africa; 2CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht, The Netherlands; 3Department of Genetics, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute, University of Pretoria, Pretoria 0002, South Africa *Correspondence: Lorenzo Lombard, [email protected] Abstract: Species of Calonectria and their Cylindrocladium anamorphs are important plant pathogens worldwide. At present 52 Cylindrocladium spp. and 37 Calonectria spp. are recognised based on sexual compatibility, morphology and phylogenetic inference. The polyphasic approach of integrating Biological, Morphological and Phylogenetic Species Concepts has revolutionised the taxonomy of fungi. This review aims to present an overview of published research on the genera Calonectria and Cylindrocladium as they pertain to their taxonomic history. The nomenclature as well as future research necessary for this group of fungi are also briefly discussed. Key words: Calonectria, Cylindrocladium, species concepts, nomenclature, pathogenicity. INtroductIoN topic is not treated other than in the manner in which it applies to Calonectria. The genus Calonectria (Ca.) was