A Post-Colonial Perspective on Consumerist Organizations in Brazil
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Advertising and the Public Interest. a Staff Report to the Federal Trade Commission. INSTITUTION Federal Trade Commission, New York, N.Y
DOCUMENT RESUME ED 074 777 EM 010 980 AUTHCR Howard, John A.; Pulbert, James TITLE Advertising and the Public Interest. A Staff Report to the Federal Trade Commission. INSTITUTION Federal Trade Commission, New York, N.Y. Bureau of Consumer Protection. PUB EATE Feb 73 NOTE 575p. EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$19.74 DESCRIPTORS *Broadcast Industry; Commercial Television; Communication (Thought Transfer); Consumer Economics; Consumer Education; Federal Laws; Federal State Relationship; *Government Role; *Investigations; *Marketing; Media Research; Merchandise Information; *Publicize; Public Opinj.on; Public Relations; Radio; Television IDENTIFIERS Federal Communications Commission; *Federal Trade Commission; Food and Drug Administration ABSTRACT The advertising industry in the United States is thoroughly analyzed in this comprehensive, report. The report was prepared mostly from the transcripts of the Federal Trade Commission's (FTC) hearings on Modern Advertising Practices.' The basic structure of the industry as well as its role in marketing strategy is reviewed and*some interesting insights are exposed: The report is primarily concerned with investigating the current state of the art, being prompted mainly by the increased consumes: awareness of the nation and the FTC's own inability to set firm guidelines' for effectively and consistently dealing with the industry. The report points out how advertising does its job, and how it employs sophisticated motivational research and communications methods to reach the wide variety of audiences available. The case of self-regulation is presented with recommendationS that the FTC be particularly harsh in applying evaluation criteria tochildren's advertising. The report was prepared by an outside consulting firm. (MC) ADVERTISING AND THE PUBLIC INTEREST A Staff Report to the Federal Trade Commission by John A. -

Arch W. Troelstrup
Arch W. Troelstrup Charter Member President - 1959-60 Distinguished Fellow - 1973 Interview with Arch Troelstrup (Nonnan Silber) Kansas City, Missouri March 16, 1983 Prof. Silber: This is an interview with Prof. Arch Troelstrup. Present also is his wife, Ann. The interview is taking place at the Hyatt Regency Hotel on March 16, 1983. The interviewer is Nonnan Silber. Mr. Troelstrup, could we begin by talking about how you became involved in the consumer movement, and then how you became involved with ACCI? Prof. Troelstrup: I suppose my first serious interest in the consumer education area came as an observer of the Sloan Foundation consumer education experiment at Stephens College, Colum bia, Missouri, in 1936-1942. In 1942, the Sloan grant in consumer education at Stephens College was terminated, and I was invited to teach consumer education or consumer problems in the Home and Family Division, to carry on the work started by the Sloan Foundation. Because there was no textbook suitable for that teaching, I subsequently wrote my own textbook. And then I met Colston Warne quite early in the movement. In fact, it was Colston Warne who called me to invite me to attend that initial meeting at the Ray Price home in Minneapolis which resulted in the "birth" of ACCI. I don't have a list of the people who were there, but some of them were: Gladys Bahr; Gene Beem; Howard Bigelow; Marguerite Burk; Persia Campbell; Helen Canoyer, who was then at the University of Minnesota, though; Willard Cochrane, who was at the University of Minnesota; Jesse Coles, University of Chicago, I believe; Damon was in Washington, DC; Leland Gordon, Dennison; Henry Harap; Hazel Kyrk; Gordon McCloskey; Ruby Turner Morris; Warren Nelson; Ray Price; Margaret Reid; Edward Reich, New York City high school teacher; Colston Warne; and Fred T. -

BUY~ Am.WA~Itt O
- - - - -- BUY~ am.WA~Itt o - C:ON~UM~~sr ~E.S~A~Cr-t ~ -- - C:ONSUM-Ft ~MO~ME.NT~ 1926 -1~ao~~-~~;~ --~ -:: --'7 ~ - ~- ~ - ,.- ·: _- - :;;;: -: ~ = ==- -- --= ~-~ --= = ~--= ::=:: ~ -- = ~ :- ~==-= - ..: :..:=- ~--= ~~ -=-~ =:---: :: .;;.~~- -= -~ ~::-:;;;: -- ~ ~:~: ~- ~ :==._---: = ---::... - ~- - ::::::. _., - - America's PIONEER ~= O_rgQ.n~izt~tion ~ ---- - TESTING ~- ·-::-::-~ - - -~~ ~~ -~ ' - -: - - - - for COt+S-UME.RS :i ~~~ - .= -~- =- ~-====- - -:. ~-~~""7 _E ~~ =--~ _;_-- _---:-~-_ -- --- ;;-.- - - ,.,. ::-.;:: ~.=.;;.:;,·==- - ::~- ~- ~ ~ ~==~§: -- -- ~-= - :;;--- ~::-: - :;;. ...:-:::::: ~~~~--:: ~ =;_ __ --- - -- - - Gallery 'SOCand Special Collections and University Archiv~s- }3aUerx ~- ~ __ - ~ _ _ _ -~- ~ ~--~= -: Archibald Stev_~I1S ~le~a~nder Libr~ry -__ _ January 26 to=April 15f 1995 - BUYE.~ BE.WA~E:.! C:O~SUME.~Sr ~E.SE.A~C:ti AND Tf1Er. C:ONSUM~t~ MO~MitNT~ 1926 -1980 Gallery '50 and Special Collections and University Archives Archibald Stevens Alexander Library Curator: Gregory L. Williams CONTENTS EXHffiiTION TEXT . 1 CONSUMERS' RESEARCH COLLECfiON SUMMARY ................. 10 CONSUMERS' RESEARCH HISTORY .............................. 11 BUYER BEWARE: CONSUMERS' RESEARCH AND THE CONSUMER MOVEMENT, 1926-1980 INTRODUCTION Consumer testing and rating magazines are taken for granted at the end of the 20th century. Many of these product testing or rating publications have similar names, test the same products, and look alike. Before 1927 there were no guides or booklets for consumers to turn to for non-commercial -

The Waste Makers
The Waste Makers BY VANCE PACKARD LONGMANS LONGMANS, GREEN AND CO LTD 6 & 7 CLIFFORD STREET, LONDON W I 605-6II LONSDALE STREET, MELBOURNE C I 443 LOCKHART ROAD, HONG KONG ACCRA, AUCKLAND, IBADAN KINGSTON (JAMAICA), KUALA LUMPUR LAHORE, NAIROBI, SALISBURY (RHODESIA) LONGMANS SOUTHERN AFRICA (PTY) LTD THIBAULT HOUSE, THIBAULT SQUARE, CAPE TOWN LONGMANS, GREEN AND CO INC 119 WEST 4OTH STREET, NEW YORK 18 LONGMANS, GREEN AND CO 137 BOND STREET, TORONTO 2 ORIENT LONGMANS PRIVATE LTD. CALCUTTA, BOMBAY, MADRAS DELHI, HYDERABAD, DACCA Copyright © 1960 by Vance Packard This edition first published 1961 Printed in Great Britain by Lowe & Brydone (Printers) Ltd., London, N.W.10 To my Mother and Father who have never confused the possession of goods with the good life. Acknowledgments I WISH TO EXPRESS MY GRATITUDE TO THE MANY PEOPLE WHO counseled or otherwise aided me in assembling this book. My sense of indebtedness is especially great to the staff members of Consumers Union—especially Mildred Brady and Florence Mason—who showed such patience in supplying me with information and advice. I also feel particularly indebted to William Zabel for the many hours he spent in 1958 helping me understand some of the then-known ramifications of planned obsolescence. It is not possible to cite by name all of the several hundred people who contributed to this book by offering insights, information, or criticism. And some, I know, would not wish to be identified. However, I would like to express my special appreciation to Leland Gordon, Raymond Loewy, Warren Bilkey, Robert Cook, Louis C. Jones, Loring Chase, George Stocking, R. -

Norman I. Silber
Norman I. Silber Scholarly Interests: Nonprofit Organizations Consumer Law Oral History Legal History Commercial Law Education, Professional Training and Legal Practice: Professor of Law, Hofstra Law School, 1989²present Associate Dean for Intellectual Life 2008²present Chair, Lateral Appointments 2009²present Past Chair, Reappointment, Promotion and Tenure Past Chair, Entry Level Appointments Past Chair, Library Director Search Past member, Dean Search Past Academic Vice Dean Director, Consumers Union (publisher of Consumer Reports magazine and ConsumerReports.org) Elected board member 1996²present Secretary of the Board 2007²present Executive Committee Governance Committee Nominating Committee Orientation Committee Liason, Consumers Union Action Fund Past Audit Past Budget Past Strategic Planning Member, American Law Institute Principles of Nonprofit Governance (consultative group) Software Licensing Aggregate Litigation Fellow, American Bar Foundation Staff Interviewer, Columbia University Oral History Research Office 1979²present President-elect, AALS Section on Nonprofit Law and Philanthropy Founding Member Executive Committee Website Editor: www. nonprof.org Past Chair, Consumer Affairs Committee, New York City Bar Association Past Board Member, The American Council on Consumer Interests. Visiting Research Professor, Boalt Hall, U.C. Berkeley, Fall 1997. Chair, Subcommittee on Developments in Nonprofit Corporation Law, Business Law Section, American Bar Association, 1995 ± 1999. Patterson, Belknap, Webb & Tyler, New York City, 1987 ± 1989: Tax-exempt corporations, commercial litigation. Law clerk to Judge Leonard I. Garth, United States Court of Appeals for the Third Circuit, 1986 ± 1987. Columbia Law School, J.D., 1986. Senior Revising Editor, Columbia Law Review. Harlan Fiske Stone Scholar, 1985 ± 1986. Yale Graduate School of History, Ph.D., 1978. Yale Mellon graduate scholarship; research awards. -
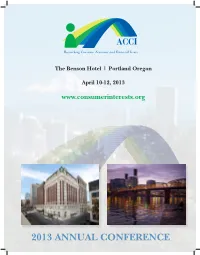
2013 Annual Conference
Researching Consumer Economic and Financial Issues The Benson Hotel | Portland Oregon April 10-12, 2013 www.consumerinterests.org 2013 ANNUAL CONFERENCE Researching Consumer Economic and Financial Issues Since 1953, the American Council on Consumer Interests, ACCI, has been a leading membership organization for academicians and other professionals involved in consumer and family economics. Mission The mission of ACCI is to enhance consumer and family economic well-being by promoting excellence in research and educational programs. ACCI fulfills its mission through activities that include: o A peer-reviewed, multidisciplinary journal that publishes cutting edge scholarship focusing on consumer and family economic issues; o A multidisciplinary conference where high quality scholarship on consumer and family economic issues is presented and discussed; o Awards that recognize research as well as service in the areas of consumer science; and o Special projects that promote the exchange of ideas among those interested in consumer and family economic issues. Vision ACCI is the leading consumer policy research and education organization consisting of a world-wide community of researchers, educators and related professionals dedicated to enhancing consumer well-being. ACCI promotes the consumer interest by encouraging, producing and communicating policy-relevant research. Goals o To advance knowledge by identifying issues, stimulating research, and promoting education, that can inform policy. o To provide for the professional development of the membership by creating, maintaining and stimulating interactive communication among advocates, business representatives, educators, policy makers, and researchers through publications, educational programs, and networking opportunities. Presenters at the ACCI Conference are leading professionals in their fields who have warranted that the content they present is their own or that they have obtained any necessary copyright permission. -

Thorp Papers 1857-1994 (Bulk 1920-1967)
AMHERST COLLEGE ARCHIVES AND SPECIAL COLLECTIONS Willard L. (AC 1920) and Clarice Brows Thorp Papers 1857-1994 (bulk 1920-1967) Abstract: Willard Long Thorp (1899-1992; AC 1920) was a pioneer statistician, economist, domestic and foreign policy advisor, international development expert, and private business consultant. Thorp’s papers document the role of a key U.S. government figure during periods marked by political and economic turbulence. As Assistant Secretary of State for Economic Affairs from 1946-1952, he played a critical role in the design and implementation of the Marshall Plan and of the Truman administration’s Point IV program of international aid. He also held a number of United Nations appointments and was Director of the Merrill Center for Economics. Thorp also taught Economics at Amherst College. The collection documents all of these activities and many more. It also partially documents his partnership with Clarice Brows Thorp (1912- 2003) and her career as a lawyer and civil rights advocate prior to their marriage in 1947. Quantity: 80 linear feet Containers: 64 records storage boxes 8 archives boxes 3 small flat boxes 6 file boxes 5 oversize boxes 4 framed items Processed: September 2011–January 2012 Funding: Processing was supported by a grant from the National Historical Publications and Records Commission, 2010-2011. By: Eileen M. Crosby, Project Archivist Finding Aid: 2011-2012 Prepared by: Eileen M. Crosby; Blake Spitz Edited by: Peter A. Nelson, Archivist Willard L. and Clarice Brows Thorp Papers Listed by: Eileen M. Crosby; Blake Spitz, Simmons College Intern; also, Maria Kirigin (AC 2014), Joseph Taff (AC 2013), and Lauren Delapenha (AC 2014), Student Assistants Terms of Access and Use: Restrictions on Access: There is no restriction on access to the Willard L. -

The Bryn Mawr Summer School for Women Workers: 1921-1938
Bryn Mawr College Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College Bryn Mawr College Publications, Special Books, pamphlets, catalogues, and scrapbooks Collections, Digitized Books 1986 The Women of Summer: The Bryn Mawr Summer School for Women Workers: 1921-1938 Rita Rubinstein Heller [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.brynmawr.edu/bmc_books Let us know how access to this document benefits ou.y Custom Citation Rita Rubinstein Heller, "The Women of Summer: The Bryn Mawr Summer School for Women Workers: 1921-1938," Ph.D. dissertation, Rutgers University, 1986. This paper is posted at Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College. https://repository.brynmawr.edu/bmc_books/43 For more information, please contact [email protected]. THE WOMEN OF SUMMER: THE BRYN MAWR SUMMER SCHOOL FOR WOMEN WORKERS: 1921-1938 By RITA RUBINSTEIN HELPER A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment cf the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in History Written under the direction of Professor William L. O'Neill and approved by O' New Brunswick, New Jersey May, 1986 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. (c) 1986 Rita Rubinstein Heller ALL RIGHTS RESERVED Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. ABSTRACT OF THE THESIS The Women of Summer: The Bryn Mawr Summer School for Women Workers: 1921-1938 by RITA RUBINSTEIN HELLER, Ph.D. Dissertation Director: Professor William L. O'Neill The Bryn Mawr Summer School for Women Workers: 1921-1938, exem plified the progressive era's vision of social progress through educa tion, cross-class cooperation, and gradualism. -

^Nectliaig\Mplts Volume XXVI Storrs, Connecticut, Wednesday, Jannary 10, 1940 Z88 No
GREEK LETTER FEB. 10 ^NECTliaiG\MPlTS Volume XXVI Storrs, Connecticut, Wednesday, Jannary 10, 1940 Z88 No. 12 NEW COURSES IN MEDIATOR CHAIRMAN COMMITTEES PAN-HELLENIC CHAIRMAN YOUNG HUSKY EXTENSION WORK ANNOUNCED FOR WILL BE GIVEN ADDED BY PRICE GREEK LETTER BALL TO FRED WARING Seven second semester courses for Co-chairman of the Greek Letter Carl <"rane and rarl Isakson, Stu- University of Connecticut freshmen Dance to be given Feb. 10 In Hawley dent Senate members in charge of at the Hartford and New Haven Ex- Armory are Melvin Weber, '40 of securing a Husky pup to present to tension Centers of the University Hartford, and Carol Morse. '40 of Fred Waring on behalf of the stu- were announced today by Director S. Plainville. The dance is sponsored by dents at the University, have locat- Willard Price. the Pan-Hellenic Council and the ed a pup which resembles the origi- The courses will follow those now Mediator for fraternity and sorority nal Jonathan, first mascot of the being given at the centers in after- members. school athletic teams. noon and evening classes conducted Chairmen of the sub-committees The dog was found with the help by the University. The second sem- are Walter Lathrop, '40 of Plainville, ester starts February 6. of the State Department of Domestic decorations committee; Edward Finn, Animals and turned out to be the Hartford Schedule! MELVIN WEBER '40 of Hartford, program committee; CAROL MORSE only Husky available in the state at The Hartford Center now lias 62 Frederic Dunne. '40 of Hartford, or- the present time, t'rane. -

A Post-Colonial Perspective on Consumerist Organizations in Brazil
Cadernos EBAPE.BR ISSN: 1679-3951 Fundação Getulio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas Wilcox Hemais, Marcus Uma perspectiva pós-colonial sobre organizações consumeristas no Brasil Cadernos EBAPE.BR, vol. 16, núm. 4, 2018, Outubro-Dezembro, pp. 594-609 Fundação Getulio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas DOI: 10.1590/1679-395172972 Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323257853004 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Redalyc Mais informações do artigo Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal Site da revista em redalyc.org Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa acesso aberto A post-colonial perspective on consumerist Organizations in Brazil Marcus Wilcox Hemais¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) / Departamento de Administração, Rio de Janeiro – RJ, Brazil Abstract This study aims to present, from the postcolonial perspective, a point of view of the consumerist movement in Brazil that is not discussed in the literature on consumerism. Analyzes was performed on how and why Eurocentric patterns of consumer protection were incorporated into the movement and how the adoption of this model resulted in limited advances in consumer protection in the country. The cases of important Brazilian consumer organizations, namely Procon-SP, Idec and Proteste, are presented, discussing their association with international consumerist organizations, with special attention to Consumers International, and how they imitated their consumer protection practices. From the perspective adopted, it is possible to see how the Eurocentric influence is present in campaigns, research, events, comparative tests of products, lectures and exchanges of such Brazilian organizations, revealing how the adoption of mimetic behavior perpetuates post- colonial domination that does not result in improvements to consumer protection in Brazil. -

Consumerchoice
1 CONSUMER CHOICE: ANOTHER CASE OF DECEPTIVE ADVERTISING? Dr Amanda McLeod – [email protected] April 2013 CONTENTS INTRODUCTION 1. CONSUMER POLICY FRAMEWORK 1.1 HISTORICAL CONTEXT: LOOKING FORWARD BY LOOKING BACK 1.2 CONSUMER SOVEREIGNTY 1.3 QUESTIONING CONSUMERISM 1.4 HOW CONSUMERISM SOVEREIGNTY LEADS TO CHANGE 1.5 GOVERNMENT INTERVENTION 1.6 CONSUMER RIGHTS 2. PROBLEMS 2.1 OVER-CONSUMPTION – CONSIDERING ADEQUATE CHOICE 2.2 LIMITATION OF CURRENT FRAMEWORK 2.3 THE NARROWING OF CONSUMER RIGHTS 2.4 MORE CHOICE - BETTER CHOICE? 2.5 PRIORITISING COMPETITION – SOME RIGHTS ARE MORE EQUAL 2.6 LACK OF CONSENSUS = WEAK SOLUTIONS 2.7 CHOICE UNLIMITED 2.8 SUBSTANTIVE CHOICE AND CONSUMER ASSUMPTIONS 2.9 STANDARDS AREN’T STANDARD – THE LIMITATION OF CERTIFICATION 2.10 RESTRICTING CHOICE = GREATER CONSUMER FREEDOM Dr Amanda McLeod – [email protected] 2 2.11 RESTRICTED CHOICE = RESTRICTED RIGHTS? 2.12 GOING GREEN – ALTERNATIVE CONSUMPTION 3. SOLUTIONS 3.1 LIMITING CHOICE IN THE INTERESTS OF CONSUMERS 3.2 SPREADING THE BENEFITS AND REINING IN RIGHTS 3.3 OPTING OUT 3.4 LUXURY, NECESSITY, ESSENTIAL AND DISCRETIONARY 3.5 FAIR AND REASONABLE CONSUMPTION CONCLUSIONS Dr Amanda McLeod – [email protected] 3 INTRODUCTION In theory consumers have significant power in the marketplace. They have the power to choose to buy one product over another, the power to switch brands and ignore marketing messages. Australian consumers, like their counterparts across the developed world, have almost unlimited choices. However, more choice doesn’t always mean better choice. Indeed, many of our choices may have unwanted consequences not the least over- consumption and negative environmental impact.