Kelly Cristiene De Freitas Borges
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chemical Composition and in Vitro Antimicrobial Activity of the Essential Oil Obtained from Eugenia Pyriformis Cambess
Vol.64: e21200663, 2021 https://doi.org/10.1590/1678-4324-2021200663 EDIÇÃO ONLINE ISSN 1678-4324 Article - Human and Animal Health Chemical Composition and In Vitro Antimicrobial Activity of the Essential Oil Obtained from Eugenia pyriformis Cambess. (Myrtaceae) Angela Maria de Souza1* Samanta Daliana Golin Pacheco1 https://orcid.org/0000-0003-4197-1121 https://orcid.org/0000-0003-1527-4218 Vinícius Bednarczuk de Oliveira1 Laura Lúcia Cogo2 https://orcid.org/0000-0001-7821-7742 https://orcid.org/0000-0003-0469-8883 Camila Freitas de Oliveira1 Obdulio Gomes Miguel1 https://orcid.org/0000-0002-8549-5182 https://orcid.org/0000-0002-2231-9130 Fernando Cesar Martins Betim1 Marilis Dallarmi Miguel1 https://orcid.org/0000-0002-1668-8626 https://orcid.org/0000-0002-1126-9211 1Federal University of Paraná, Postgraduate Program in Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacy, Curitiba, Paraná, Brazil; 2Federal University of Paraná, Unit of the Laboratory of Clinical Analyzes of the Hospital of Clinics, Sector of microbiology, Curitiba, Paraná, Brazil. Editor-in-Chief: Paulo Vitor Farago Associate Editor: Paulo Vitor Farago Received: 2020.10.15; Accepted 2021.02.24. *Correspondência: [email protected]; Tel.: +55-41-988272731 (A.M.S.) HIGHLIGHTS β-caryophyllene, bicyclogermacrene, globulol, and δ-cadinene were de major constituents. Antimicrobial activity was tested with twelve microorganisms of interest. Promissing antibacterial activity of essential oil against several gram-positive bacteria. The essential oil showed marked toxicity to A. salina. Abstract: Our study aimed to evaluate the chemical composition of the essential oil from the leaves of Eugenia pyriformis Cambess., belonging to the Myrtaceae family and native to the Brazilian Atlantic forest. -

Chemical Characterization and Antimicrobial Activity of Hydroethanolic Crude Extract of Eugenia Florida Dc (Myrtaceae) Leaves
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ISSN- 0975-1491 Vol 8, Issue 6, 2016 Original Article CHEMICAL CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF HYDROETHANOLIC CRUDE EXTRACT OF EUGENIA FLORIDA DC (MYRTACEAE) LEAVES RENAN G. BASTOSa, CARLA P. ROSAa, JOSIDEL C. OLIVERb, NAIARA C. SILVAb, AMANDA L. T. DIASb, CLAUDIA Q. DA ROCHAc, WAGNER VILEGASc, GERALDO A. DA SILVAa, MARCELO A. DA SILVAa* aDepartment of Foods and Drugs, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Laboratory of Medicinal Plants and Herbal Medicines, Federal University of Alfenas, UNIFAL-MG, Gabriel Monteiro da Silva Street, 700, 37130-000, Alfenas, Minas Gerais, Brazil, bDepartament of Microbiology and Immunology, Institute of Biomedical Sciences, Laboratory of Research in Microbiology, Federal University of Alfenas, UNIFAL-MG, Gabriel Monteiro da Silva Street, 700, 37130-000, Alfenas, Minas Gerais, Brazil, cInstitute of Biosciences, Laboratory of Bioprospecting of Natural Products (LBPN), São Paulo State University, UNESP, Coastal Campus-IB-CLP, Infante Dom Henrique Square, s/n°, 11380-972, São Vicente, São Paulo, Brazil Email: [email protected] Received: 25 Jan 2016 Revised and Accepted: 20 Apr 2016 ABSTRACT Objective: The present study aimed to characterize and quantify the total phenolics, flavonoids and tannins in a hydroethanolic crude extract (70% (v/v) (EB)) of the leaves of E. florida DC, as well as to evaluate the antimicrobial activity of the extract against different species of micro-organisms. Methods: EB was characterized using a mass spectrometer equipped with a direct insertion device for in-stream injection (FIA). Quantitative analyses of major compounds were carried out by spectrophotometry. In addition, we evaluated the sensitivity profiles of different strains of yeast and bacteria against different concentrations of EB. -

Chemical Composition, Antioxidant, Antimicrobial Activity, Toxicity, Genetic Analysis and Popular Use of Eugenia Luschnathiana (O
BOLETIN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS © / ISSN 0717 7917 / www.blacpma.ms-editions.cl Revisión / Review Chemical composition, antioxidant, antimicrobial activity, toxicity, genetic analysis and popular use of Eugenia luschnathiana (O. Berg) Klotzsch ex B. D. Jacks: a literature review [Composición química, actividad antioxidante, antimicrobiana, toxicidad, análisis genético y uso popular de Eugenia luschnathiana (O. Berg) Klotzsch ex B. D Jack: una revisión de la literatura] Martha Quitéria Silva Henriques, David Henrique Xavier Barbosa, Danielle da Nóbrega Alves, Ana Karoline Vieira Melo & Ricardo Dias de Castro Health Sciences Center, Federal University of Paraiba, João Pessoa, Paraíba, Brazil Abstract: This review describes the geographical distribution, botanical data, popular use, chemical composition, pharmacological activities and genetic aspects related to Eugenia luschnathiana, a native Reviewed by: Brazilian plant popularly known as “bay pitomba”. E. luschnathiana leaves are characterized Marcelo Luis Wagner morphologically by the presence of a petiole, an attenuated base, acuminated apex, elliptical shape, and Universidad de Buenos Aires parallel venation. The major chemical compounds found in E. luschnathiana are sesquiterpenes. Literature Argentina reports showed that E. luschnathiana extracts have antioxidant properties and antimicrobial activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria. The extracts from the leaf, fruit and stem, and a Ali Parlar concentrated residual solution of its essential oil, displayed negligible toxicity. Lastly, a cytogenetic University of Adiyaman Turkey analysis indicated that some markers can be used for the study of genetic diversity, population structure, and genetic improvements. The information available on E. luschnathiana supports the hypothesis that this plant may be a source of compounds with promising pharmacological activity. -

Universidade De Brasília Faculdade De Ciências Da Saúde Programa De Pós-Graduação Em Ciências Farmacêuticas
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS JORGE ANTONIO CHAMON JÚNIOR CARACTERIZAÇÃO DOS ISOLADOS CLÍNICOS DE CRYPTOCOCCUS SPP. E DETERMINAÇÃO DE SUA SENSIBILIDADE À ANTIFÚNGICOS E AO EXTRATO DE EUGENIA DYSENTERICA BRASÍLIA 2016 JORGE ANTONIO CHAMON JÚNIOR CARACTERIZAÇÃO DOS ISOLADOS CLÍNICOS DE CRYPTOCOCCUS SPP. E DETERMINAÇÃO DE SUA SENSIBILIDADE À ANTIFÚNGICOS E AO EXTRATO DE EUGENIA DYSENTERICA Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências Farmacêuticas. Orientadora: Profa. Dra. Yanna Karla de Medeiros Nóbrega BRASÍLIA 2016 2 3 JORGE ANTONIO CHAMON JÚNIOR CARACTERIZAÇÃO DOS ISOLADOS CLÍNICOS DE CRYPTOCOCCUS SPP. E DETERMINAÇÃO DE SUA SENSIBILIDADE À ANTIFÚNGICOS E AO EXTRATO DE EUGENIA DYSENTERICA Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências Farmacêuticas. Aprovada em 09 de dezembro de 2016. BANCA EXAMINADORA _________________________________________________ Profa. Dra. Yanna Karla de Medeiros Nóbrega Universidade de Brasília (UnB) _________________________________________________ Prof. Dr. André Moraes Nicola Universidade de Brasília (UnB) _________________________________________________ Prof. Dr. Fabiano José Queiroz Costa Hospital Universitário de Brasília (HUB) 4 Dedico este empenho realizado a minha família, aos meus amigos e a aqueles que lutam por dias melhores. 5 AGRADECIMENTOS A Deus por iluminar a vida de meus entes queridos com saúde e paz no coração. À minha esposa por todo apoio, dedicação, carinho, incentivo, paciência e amor recíproco. Aos meus filhos César e Vitor por me fazer acreditar no real sentido da vida. -

Potencial Antimicrobiano E Antibiofilme in Vitro De Espécies Do Gênero Eugenia, Myrtaceae, Nativas Do Sul Do Brasil
Revista Caderno Pedagógico, Lajeado, v. 14, n. 2, 2017. ISSN 1983-0882 DOI: http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0882.v14i2a2017.1512 http://www.univates.br/revistas POTENCIAL ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME IN VITRO DE ESPÉCIES DO GÊNERO EUGENIA, MYRTACEAE, NATIVAS DO SUL DO BRASIL Carla Kauffmann1, Ana Paula Venter Soares2, Kelen Arossi3, Leandra Andressa Pacheco4, Bárbara Buhl5, Elisete Maria de Freitas6, Lucélia Hoehne7, Luís César de Castro8, Simone Cristina Baggio Gnoatto9, Eduardo Miranda Ethur10 Resumo: O controle de infecções bacterianas tem se tornado um problema de saúde pública, despertando o interesse pela pesquisa de substâncias com ação antimicrobiana ou inibidora da formação de biofilme a partir de plantas. Assim, este trabalho objetivou avaliar o potencial antimicrobiano de espécies do gênero Eugenia, nativas do sul do Brasil, contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Folhas de E. anomala, E. arenosa, E. hiemalis, E. pitanga, E. pyriformis e E. rostrifolia foram submetidas ao processo de maceração com diferentes solventes, resultando nos extratos bruto, hexânico, clorofórmico, acetato de etila e etanólico. Os diferentes extratos foram caracterizados fitoquimicamente através de cromatografia em camada delgada. As atividades antimicrobiana e antibiofilme dos extratos, nas concentrações de 4,0 1 Farmacêutica. Mestre em Ciências Farmacêuticas. Doutora em Ambiente e Desenvolvimento. Professora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Univates. E-mail:[email protected] 2 Farmacêutica. E-mail: [email protected] 3 Farmacêutica. E-mail: [email protected] 4 Biomédica. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Univates. E-mail: [email protected] 5 Acadêmica do Curso de Farmácia, Univates. E-mail: [email protected] 6 Programas de Pós-graduação em Biotecnologia e Ensino, Laboratório de Propagação de Plantas. -
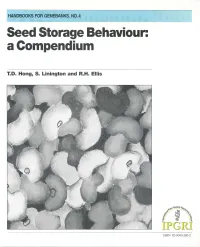
Handbook for Seed Storage Behavior: a Compendium
SEED STORAGE BEHAVIOUR: A COMPENDIUM i Handbooks for Genebanks: No. 4 Seed Storage Behaviour: a Compendium T.D. Hong1, S. Linington2 and R.H. Ellis1 1 Department of Agriculture, The University of Reading, Earley Gate, P.O. Box 236, Reading RG6 6AT, UK 2 Royal Botanic Gardens Kew, Wakehurst Place, Ardingly, Haywards Heath, West Sussex, RH17 6TN, UK International Plant Genetic Resources Institute ii HANDBOOKS FOR GENEBANKS NO. 4 The International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) is an autonomous international scientific organization operating under the aegis of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). The international status of IPGRI is conferred under an Establishment Agreement which, by December 1995, had been signed by the Governments of Australia, Belgium, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cameroon, China, Chile, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Greece, Guinea, Hungary, India, Iran, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Mauritania, Morocco, Pakistan, Panama, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Senegal, Slovak Republic, Sudan, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine and Uganda. IPGRI's mandate is to advance the conservation and use of plant genetic resources for the benefit of present and future generations. IPGRI works in partnership with other organizations, undertaking research, training and the provision of scientific and technical advice and information, and has a particularly strong programme link with the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Financial support for the agreed research agenda of IPGRI is provided by the Governments of Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Denmark, France, Germany, India, Italy, Japan, the Republic of Korea, Mexico, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, the UK and the USA, and by the Asian Development Bank, IDRC, UNDP and the World Bank. -
1 Kelly Cristiene De Freitas Borges Caracterização
1 KELLY CRISTIENE DE FREITAS BORGES CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PRODUTIVA DE FRUTOS E SEMENTES E PROPAGAÇÃO DE Eugenia calycina Cambess Orientador: Prof. Dr. Jácomo Divino Borges Goiânia, GO - Brasil 2016 2 3 KELLY CRISTIENE DE FREITAS BORGES CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PRODUTIVA DE FRUTOS E SEMENTES E PROPAGAÇÃO DE Eugenia calycina Cambess Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Agronomia, da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Agronomia. Área de concentração: Produção Vegetal. Orientador: Prof. Dr. Jácomo Divino Borges Goiânia, GO - Brasil 2016 4 5 6 KELLY CRISTIENE DE FREITAS BORGES TÍTULO: Caracterização físico-química e produtiva de frutos e sementes e propagação de Eugenia calycina Cambess Tese DEFENDIDA e APROVADA em 29 de janeiro de 2016, pela Banca Examinadora constituída pelos membros: Dr. Abílio Rodrigues Pacheco Dr. Agostinho Dirceu Didonet Membro - EMBRAPA Produtos e Mercado Membro - EMBRAPA Arroz e Feijão Profa Dra Eli Regina Barboza de Souza Prof. Dr. Fábio Venturoli Membro - EA/UFG Membro - EA/UFG Prof. Dr. Jácomo Divino Borges Orientador - EA/UFG Goiânia - Goiás Brasil 7 A Deus; ao meu pai, Aleir Soares Borges; à minha mãe, Nizelena Rosa de Freitas Borges; ao meu filho, Pedro Lucas Borges Sousa; e ao meu irmão, Wemerson de Freitas Borges. Dedico. 8 AGRADECIMENTOS A Deus, por me amparar nos momentos difíceis, me dar força interior para superar as dificuldades, mostrar o caminho nas horas incertas e me suprir em todas as minhas necessidades. Ao professor Dr. Jácomo Divino Borges, pela disposição de me orientar, pela amizade, confiança, incentivo, e mesmo nos momentos de dificuldade por erguer a mão para auxiliar, ficam aqui meus agradecimentos e admiração. -

Myrtaceae: Uma Revisão
Brazilian Journal of Development 33276 ISSN: 2525-8761 Diversidade da Composição Química dos Óleos Essenciais de Eugenia – Myrtaceae: uma revisão Diversity of the Chemical Composition of Essential Oils of Eugenia (Myrtaceae): a review DOI:10.34117/bjdv7n3-855 Recebimento dos originais: 08/02/2021 Aceitação para publicação: 12/03/2021 Raisa Maria Silveira Doutoranda em Sistemática, Uso e Conservação da Biodiversidade Instituição de atuação atual Universidade Federal do Ceará Endereço: Av. Mister Hull, s/n - Pici - CEP 60455-760 - Fortaleza – CE E-mail: [email protected] Ana Fontenele Urano Carvalho Doutorado em Bioquímica da Nutrição Instituição de atuação atual Universidade Federal do Ceará Endereço: Av. Mister Hull, s/n - Pici - CEP 60455-760 - Fortaleza - CE E-mail: [email protected] Mariana de Oliveira Bünger Doutorado em Biologia Vegetal Instituição de atuação atual Universidade Federal do Ceará Endereço: Av. Mister Hull, s/n - Pici - CEP 60455-760 - Fortaleza - CE E-mail. [email protected] Itayguara Ribeiro da Costa Doutorado em Biologia Vegetal Instituição de atuação atual Universidade Federal do Ceará Endereço: Av. Mister Hull, s/n - Pici - CEP 60455-760 - Fortaleza - CE E-mail. [email protected] RESUMO Myrtaceae é uma família pantropical com aproximadamente 132 gêneros e 5.760 espécies. Na família, os óleos essenciais são produzidos amplamente por seus representantes, a ponto de a presença de suas estruturas secretoras serem utilizadas na identificação taxonômica. É o caso das espécies de Eugenia, o maior gênero neotropical de Myrtaceae, compreendendo mais de 1000 espécies. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma ampla revisão bibliográfica das pesquisas publicadas sobre a composição química dos óleos essenciais de espécies de Eugenia. -

Comparative Study of the Chemical Composition, Larvicidal, Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Volatile Oils from E
Research, Society and Development, v. 10, n. 11, e34101119354, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19354 Comparative study of the chemical composition, larvicidal, antimicrobial and cytotoxic activities of volatile oils from E. punicifolia leaves from Minas Gerais and Goiás Estudo comparativo da composição química, atividade larvicida, antimicrobiana e citotóxica dos óleos voláteis das folhas de E. punicifolia de Minas Gerais e Goiás Estudio comparativo de la composición química, actividades larvicidas, antimicrobianas y citotóxicas de aceites volátiles de hojas de E. punicifolia de Minas Gerais y Goiás Received: 08/12/2021 | Reviewed: 08/17/2021 | Accept: 08/19/2021 | Published: 08/22/2021 Liliane de Sousa Silva ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9497-7573 Universidade Federal de Goiás, Brazil Secretaria Estadual de Educação de Goiás, Brazil E-mail: [email protected] Christiane França Martins ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8177-0458 Universidade Federal de Goiás, Brazil E-mail: [email protected] Fernando Yano Abrão ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0553-0946 Universidade Federal de Goiás, Brazil Faculdade Unida de Campinas, Brazil E-mail: [email protected] Camila Aline Romano ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3564-6368 Universidade Federal de Goiás, Brazil E-mail: [email protected] Soraia Ferreira Bezerra ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4468-4307 Universidade Federal de Goiás, Brazil E-mail: [email protected] Leonardo Luiz Borges ORCID: https://orcid.org/0000-0003- 2183-3944 Universidade Federal de Goiás, Brazil Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brazil E-mail: [email protected] Adelair Helena dos Santos ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1743-4297 Universidade Federal de Goiás, Brazil E-mail: [email protected] Luiz Carlos da Cunha ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1525-8528 Universidade Federal de Goiás, Brazil E-mail: [email protected] Jerônimo R. -

Bioactive Compounds Found in Brazilian Cerrado Fruits
Int. J. Mol. Sci. 2015, 16, 23760-23783; doi:10.3390/ijms161023760 OPEN ACCESS International Journal of Molecular Sciences ISSN 1422-0067 www.mdpi.com/journal/ijms Review Bioactive Compounds Found in Brazilian Cerrado Fruits Elisa Flávia Luiz Cardoso Bailão 1, Ivano Alessandro Devilla 1, Edemilson Cardoso da Conceição 2 and Leonardo Luiz Borges 3,* 1 Câmpus Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Goiás CEP 75132-903, Brasil; E-Mails: [email protected] (E.F.L.C.B.); [email protected] (I.A.D.) 2 Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás CEP 74605-170, Brasil; E-Mail: [email protected] 3 Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás CEP 74605-010, Brasil * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +55-62-3946-1000. Academic Editor: Maurizio Battino Received: 3 August 2015 / Accepted: 21 September 2015 / Published: 9 October 2015 Abstract: Functional foods include any natural product that presents health-promoting effects, thereby reducing the risk of chronic diseases. Cerrado fruits are considered a source of bioactive substances, mainly phenolic compounds, making them important functional foods. Despite this, the losses of natural vegetation in the Cerrado are progressive. Hence, the knowledge propagation about the importance of the species found in Cerrado could contribute to the preservation of this biome. This review provides information about Cerrado fruits and highlights the structures and pharmacologic potential of functional compounds found in these fruits. Compounds detected in Caryocar brasiliense Camb. (pequi), Dipteryx alata Vog. -

Universidade Federal De Pernambuco Centro De Biociências Departamento De Bioquimica Programa De Pós-Graduação Em Ciências Biológicas
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ROSIMERE DA SILVA ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E POTENCIAL BACTERICIDA DE TRÊS ÓLEOS ESSENCIAIS DA FAMÍLIA MYRTACEAE: POTENCIAL MOLUSCICIDA E LEISHMANICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Algrizea minor Recife 2018 ROSIMERE DA SILVA ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E POTENCIAL BACTERICIDA DE TRÊS ÓLEOS ESSENCIAIS DA FAMÍLIA MYRTACEAE: POTENCIAL MOLUSCICIDA E LEISHMANICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Algrizea minor Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, como requesito parcial à obtenção do título de Doutor em Ciências Biológicas. Área de concentração: Biotecnologia. Aluna: Rosimere da Silva Orientadora: Profª Drª Maria Tereza dos Santos Correia – UFPE Colaboradores: Profª Drª Regina Célia Bressan Q. de Figueiredo – FIOCRUZ/PE Dr Antônio Félix da Costa – IPA - PE Profª Drª Márcia Vanusa da Silva – UFPE Recife 2018 Catalogação na fonte Elaine C. Barroso (CRB4/1728) Silva, Rosimere Análise da composição química e potencial bactericida de três óleos essenciais da família Myrtaceae: potencial moluscicida e leishmanicida do óleo essencial de Algrizea minor / Rosimere Silva- 2018. 150 folhas: il., fig., tab. Orientadora: Maria Tereza dos Santos Correia Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Biociências. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Recife, 2018. Inclui referências e anexo 1. Fitoquímicos 2. Óleos essenciais 3. Myrtaceae I. Correia, Maria Tereza dos Santos (orient.) II. Título 572.2 CDD (22.ed.) UFPE/CB-2018-440 ROSIMERE DA SILVA ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E POTENCIAL BACTERICIDA DE TRÊS ÓLEOS ESSENCIAIS DA FAMÍLIA MYRTACEAE: POTENCIAL MOLUSCICIDA E LEISHMANICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Algrizea minor Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, como requesito parcial à obtenção do título de Doutor em Ciências Biológicas. -

Faculdade De Ciências Departamento De Química
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE BAURU – FACULDADE DE CIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Juvenal Henrique Veloso O GÊNERO EUGENIA: DA QUÍMICA À FARMACOLOGIA BAURU 2016 Juvenal Henrique Veloso O GÊNERO EUGENIA: DA QUÍMICA À FARMACOLOGIA Trabalho de conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Química. Orientador: Prof. Dr. Daniel Rinaldo Bauru 2016 Veloso, Juvenal Henrique O gênero Eugenia: da química à farmacologia / Juvenal Henrique Veloso, 2016. 89 f. Orientador: Daniel Rinaldo Monografia (Graduação) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2015. 1. Eugenia. 2. Fitoquímica. 3. Farmacologia. I. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências. II. O gênero Eugenia O GÊNERO EUGENIA: DA QUÍMICA À FARMACOLOGIA Trabalho de conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Química. Aprovado em: Banca Examinadora ________________________________ Professor Doutor Daniel Rinaldo Universidade Estadual Paulista __________________________________ Professor Doutor Luiz Carlos da Silva Filho Universidade Estadual Paulista _________________________ Professor Doutor Flávio Junior Caires Universidade Estadual Paulista AGRADECIMENTOS Primeiramente agradeço a Deus, por me proporcionar a força e resistência necessária para conseguir alcançar meus objetivos e ultrapassar os obstáculos que a vida nos apresenta. Agradeço a minha família, principalmente a meus pais Waldyr e Maria pela força e compreensão durante toda minha vida, sem eles não conseguiria chegar onde cheguei. Tenho muito a agradecer a minha noiva Gabriela por sempre estar ao meu lado em todas as etapas de minha vida acadêmica, e sempre me dando ótimos conselhos quanto me repreendendo quando necessário.