«Sound and Vision»: a Videografia De David Bowie (1969-2017)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fall 2005 $2.50
American Jewish Historical Society Fall 2005 $2.50 PRESIDENTIAL DINNER 'CRADLED IN JUDEA' EXHIBITION CHANUKAH AMERICAN STYLE BOSTON OPENS 350TH ANNIVERSARY EXHIBIT FROM THE ARCHIVES: NEW YORK SECTION, NCJW NEW JEWISH BASEBALL DISCOVERIES TO OUR DONORS The American Jewish Historical Society gratefully STEVEN PLOTNICK HENRY FRIESS JACK OLSHANSKY ARNOLD J. RABINOR KARL FRISCH KATHE OPPENHEIMER acknowledges the generosity of our members and TOBY & JEROME RAPPOPORT ROBERTA FRISSELL JOAN & STEVE ORNSTEIN donors. Our mission to collect, preserve and disseminate JEFF ROBINS PHILLIP FYMAN REYNOLD PARIS ROBERT N. ROSEN DR. MICHAEL GILLMAN MITCHELL PEARL the record of the American Jewish experience would LIEF ROSENBLATT RABBI STEVEN GLAZER MICHAEL PERETZ be impossible without your commitment and support. DORIS ROSENTHAL MILTON GLICKSMAN HAROLD PERLMUTTER WALTER ROTH GARY GLUCKOW PHILLIP ZINMAN FOUNDATION ELLEN R. SARNOFF MARC GOLD EVY PICKER $100,000+ FARLA & HARVEY CHET JOAN & STUART SCHAPIRO SHEILA GOLDBERG BETSY & KEN PLEVAN RUTH & SIDNEY LAPIDUS KRENTZMAN THE SCHWARTZ FAMILY JEROME D. GOLDFISHER JACK PREISS SANDRA C. & KENNETH D. LAPIDUS FAMILY FUND FOUNDATION ANDREA GOLDKLANG ELLIOTT PRESS MALAMED NORMAN LISS EVAN SEGAL JOHN GOLDKRAND JAMES N. PRITZKER JOSEPH S. & DIANE H. ARTHUR OBERMAYER SUSAN & BENJAMIN SHAPELL HOWARD K. GOLDSTEIN EDWARD H RABIN STEINBERG ZITA ROSENTHAL DOUGLAS SHIFFMAN JILL GOODMAN ARTHUR RADACK CHARITABLE TRUST H. A. SCHUPF LEONARD SIMON DAVID GORDIS NANCY GALE RAPHAEL $50,000+ ARTHUR SEGEL HENRY SMITH LINDA GORENS-LEVEY LAUREN RAPPORT JOAN & TED CUTLER ROSALIE & JIM SHANE TAWANI FOUNDATION GOTTESTEIN FAMILY FOUNDATION JULIE RATNER THE TRUSTEES VALYA & ROBERT SHAPIRO MEL TEITELBAUM LEONARD GREENBERG ALAN REDNER UNDER THE WILL OF STANLEY & MARY ANN SNIDER MARC A. -

Allemand a Venir…
FRANCAIS PAGES DE 1 A 76 ANGLAIS PAGES DE 76 A 167 ITALIEN PAGES DE 167 A 177 PORTUGUAIS PAGES DE 177 A 180 ESPAGNOL PAGES DE 180 A 183 NEERLANDAIS PAGES DE 183 A 189 ALLEMAND A VENIR… FA 1716 CA IRA MON AMOUR 1789 FA 1714 POUR LA PEINE 1789 FA 1715 SUR MA PEAU 1789 FA 1717 JE VEUX LE MONDE 1789 F 0869 PARTIR UN JOUR 2 BE 3 F 0944 POUR ETRE LIBRE 2 BE 3 F 0006 EN BLUES JEANS ET BLOUSON D'CUIR ADAMO F 0727 MES MAINS SUR TES HANCHES ADAMO F 0728 UNE MECHE DE CHEVEUX ADAMO F 0729 INCH'ALLAH ADAMO F 0730 VOUS PERMETTEZ MONSIEUR ADAMO F 0731 TOMBE LA NEIGE ADAMO F 0732 A VOT' BON CŒUR ADAMO F 0733 LES FILLES DU BORD DE MER ADAMO F 0734 VIENS MA BRUNE ADAMO F 0735 TON NOM ADAMO F 0736 QUAND LES ROSES ADAMO F 0737 N'EST-CE PAS MERVEILLEUX ADAMO F 0738 LA NUIT ADAMO F 0739 UNE LARME AUX NUAGES ADAMO F 1917 MAUVAIS GARCON ADAMO F 1918 SANS TOI MA MIE ADAMO FA 0360 C'EST MA VIE ADAMO FA 0569 L'AMOUR TE RESSEMBLE ADAMO FA 0677 Le néon ADAMO FA 0916 A DEMAIN SUR LA LUNE ADAMO FA 0917 ACCROCHE UNE LARME AUX NUAGES ADAMO FA 0918 ALORS REVIENS ADAMO FA 0919 CAR JE VEUX ADAMO FA 0920 COMME TOUJOURS ADAMO FA 0921 EN BANDOUILLERE ADAMO FA 0922 ENSEMBLE ADAMO FA 0923 J'AIME ADAMO FA 0924 J'AVAIS OUBLIE QUE LES ROSES SONT ROSES ADAMO FA 0925 JE VOUS OFFRE ADAMO FA 0926 LE BARBU SANS BARBE ADAMO FA 0927 LE RUISSEAU DE MON ENFANCE ADAMO FA 0928 MANUEL ADAMO FA 0929 PETIT BONHEUR ADAMO FA 0451 SOMEOME LIKE YOU ADELE FA 0786 ROLLING IN THE DEEP ADELE FA 0787 SKYFALL ADELE F 0856 CHIC PLANETE AFFAIRE LUIS TRIO F 1487 AMI - OH ( AMIE ) AFRICAN CONNECTION F 1807 -

Cj Issue02.Pdf
Number 2 | Autumn 2010 Number 2 | Autumn REVISTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DAS ARTES DAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA REVISTA CITAR Journal CITAR Number 2, umn 2010 Aut CITAR Journal Portuguese Catholic University CITAR | Research Center for Science and Technology of the Arts Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes School of Arts Rua Diogo Botelho, nº 1327 4169-005 PORTO Portugal |T| +351 226 196 200 |F| +351 226 196 291 [email protected] www.artes.ucp.pt/citarj ISBN: 978-989-95776-0-2 Interactive Generative Installation for Visual Compostion ISSN: 1646-9798 Instalação Generativa Interactiva para Composição Visual CITAR | JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE ARTS | OF THE ARTS | JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CITAR About CITAR Journal: issue 02 The 2nd issue of CITAR Journal fol- lows up on the significant effort for the dissemination of research in the field of Science and Technology of the Arts. Once again this publication brings forward different views and perspectives on Artistic practices presented from a scientific research perspective. This edition focuses on research work conducted within the frame- work of the Research Center for Science and Technology of the Arts from the Portuguese Catholic University. Attempting to provide a broad overview of the significant contributions to the filed, this issue releases recent research from the institution that publishes this Journal. The main topics addressed by issue 2 of CITAR Journal range form mu- sicological perspective on the Piano trough its performance Techniques or Historical Compositions to an in- novative approach in interactive gen- erative art or from a critical analysis of the duality Cinema/Television to the Ritual Art of the 16th Century Porto. -

Heritage Vol.1 No.2 Newsletter of the American Jewish Historical Society Fall/Winter 2003
HERITAGE VOL.1 NO.2 NEWSLETTER OF THE AMERICAN JEWISH HISTORICAL SOCIETY FALL/WINTER 2003 “As Seen By…” Great Jewish- American Photographers TIME LIFE PICTURES © ALL RIGHTS RESERVED INC. Baseball’s First Jewish Superstar Archival Treasure Trove Yiddish Theater in America American Jewish Historical Society 2002 -2003 Gift Roster This list reflects donations through April 2003. We extend our thanks to the many hundreds of other wonderful donors whose names do not appear here. Over $200,000 Genevieve & Justin L. Wyner $100,000 + Ann E. & Kenneth J. Bialkin Marion & George Blumenthal Ruth & Sidney Lapidus Barbara & Ira A. Lipman $25,000 + Citigroup Foundation Mr. David S. Gottesman Yvonne S. & Leslie M. Pollack Dianne B. and David J. Stern The Horace W. Goldsmith Linda & Michael Jesselson Nancy F. & David P. Solomon Mr. and Mrs. Sanford I. Weill Foundation Sandra C. & Kenneth D. Malamed Diane & Joseph S. Steinberg $10,000 + Mr. S. Daniel Abraham Edith & Henry J. Everett Mr. Jean-Marie Messier Muriel K. and David R Pokross Mr. Donald L. SaundersDr. and Elsie & M. Bernard Aidinoff Stephen and Myrna Greenberg Mr. Thomas Moran Mrs. Nancy T. Polevoy Mrs. Herbert Schilder Mr. Ted Benard-Cutler Mrs. Erica Jesselson Ruth G. & Edgar J. Nathan, III Mr. Joel Press Francesca & Bruce Slovin Mr. Len Blavatnik Renee & Daniel R. Kaplan National Basketball Association Mr. and Mrs. James Ratner Mr. Stanley Snider Mr. Edgar Bronfman Mr. and Mrs. Norman B. Leventhal National Hockey League Foundation Patrick and Chris Riley aMrs. Louise B. Stern Mr. Stanley Cohen Mr. Leonard Litwin Mr. George Noble Ambassador and Mrs. Felix Rohatyn Mr. -

Karaoke Version Song Book
Karaoke Version Songs by Artist Karaoke Shack Song Books Title DiscID Title DiscID (Hed) Planet Earth 50 Cent Blackout KVD-29484 In Da Club KVD-12410 Other Side KVD-29955 A Fine Frenzy £1 Fish Man Almost Lover KVD-19809 One Pound Fish KVD-42513 Ashes And Wine KVD-44399 10000 Maniacs Near To You KVD-38544 Because The Night KVD-11395 A$AP Rocky & Skrillex & Birdy Nam Nam (Duet) 10CC Wild For The Night (Explicit) KVD-43188 I'm Not In Love KVD-13798 Wild For The Night (Explicit) (R) KVD-43188 Things We Do For Love KVD-31793 AaRON 1930s Standards U-Turn (Lili) KVD-13097 Santa Claus Is Coming To Town KVD-41041 Aaron Goodvin 1940s Standards Lonely Drum KVD-53640 I'll Be Home For Christmas KVD-26862 Aaron Lewis Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow KVD-26867 That Ain't Country KVD-51936 Old Lamplighter KVD-32784 Aaron Watson 1950's Standard Outta Style KVD-55022 An Affair To Remember KVD-34148 That Look KVD-50535 1950s Standards ABBA Crawdad Song KVD-25657 Gimme Gimme Gimme KVD-09159 It's Beginning To Look A Lot Like Christmas KVD-24881 My Love, My Life KVD-39233 1950s Standards (Male) One Man, One Woman KVD-39228 I Saw Mommy Kissing Santa Claus KVD-29934 Under Attack KVD-20693 1960s Standard (Female) Way Old Friends Do KVD-32498 We Need A Little Christmas KVD-31474 When All Is Said And Done KVD-30097 1960s Standard (Male) When I Kissed The Teacher KVD-17525 We Need A Little Christmas KVD-31475 ABBA (Duet) 1970s Standards He Is Your Brother KVD-20508 After You've Gone KVD-27684 ABC 2Pac & Digital Underground When Smokey Sings KVD-27958 I Get Around KVD-29046 AC-DC 2Pac & Dr. -

“Meu Nome É Nathan Adler”: Performances De David Bowie Através De Seus Personagens
revista Fronteiras – estudos midiáticos 18(2):114-123 maio/agosto 2016 2016 Unisinos – doi: 10.4013/fem.2016.182.01 “Meu nome é Nathan Adler”: performances de David Bowie através de seus personagens “My name is Nathan Adler”: David Bowie’s performances through his characters Lucas Waltenberg1 RESUMO Ao longo dos mais de 40 anos de carreira, David Bowie se tornou um dos artistas mais representativos da cultura pop. Uma das características marcantes na sua performance enquanto artista pop é a construção de personagens que, por vezes, parecem tomar o lugar do músico, funcionando quase como uma máscara. Entendendo os veículos de comunicação como oportunidades para “intervenção estratégica” e a importância da mediação tecnológica na construção da performance, meu objetivo é entender como o álbum de música, principalmente, entendido como formato cultural, entra nesse processo a partir de três personagens criados por Bowie: Ziggy Stardust, do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, o Thin White Duke, presente em Station to Station e Nathan Adler, personagem principal da trama de 1. Outside. Palavras-chave: performance, álbum de música, David Bowie. ABSTRACT In over forty years David Bowie became one of the most remarkable artists in pop culture. A noteworthy characteristic in his construction as a pop artist is the creation of characters that sometimes seem to take the musician’s place, working almost as a mask. Seeing media as sites for “strategic intervention” and the importance of technological mediation in the construction of a performance, my goal in this article is to understand how the music album as a cultural form is embedded in these processes through the presentation and discussion of three of the characters Bowie created: Ziggy Stardust, from The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, the Thin White Duke, present in Station to Station and Nathan Adler, the main character in 1. -
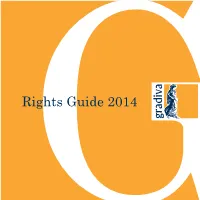
Rights Guide 2014
Rights Guide 2014 Index Fiction José Rodrigues dos Santos 06 Marlene Ferraz 23 Tiago Patrício 25 Paulo Bugalho 29 Raquel Ochoa 31 Miguel Gizzas 33 João Céu e Silva 35 José Goulão 37 André Oliveira 39 Ernesto Rodrigues 41 António Canteiro 43 António Castro 45 Joaquim Almeida Lima 47 Non-Fiction José Lopes da Silva & Palmira Ferreira da Silva 51 Filipe Duarte Santos 53 José Xavier 55 João Paiva & Carla Morais 57 Miguel Ribeiro 59 Luís Alcácer 61 Nuno Cardoso Santos, Luís Tirapicos & Nuno Crato 63 Nuno Crato 65 Carlos Fiolhais 69 David Marçal 74 Joaquim Marques de Sá 76 João José Fraústo da Silva & José Armando Luísa da Silva 78 Jorge Buescu 80 Luísa Pereira & Filipa M. Ribeiro 85 João Lobo Antunes 87 Walter Osswald 92 IPO & Fátima Vaz 94 Luís Portela 96 Eduardo Lourenço 98 António José Saraiva 100 Isabel Loução Santos 102 B. Oliveira, N. Amieiro, N. Resende & R. Barreto 104 Fiction José Rodrigues dos Santos José Rodrigues dos Santos is the bestselling novelist in Portugal. He is the author of seven essays and thirteen novels, including Portuguese blockbusters Codex 632, which sold 211 000 copies, The Einstein Enigma, 197 000 copies, The Seventh Seal, 202 000 copies, and The Wrath of God, 195 000 copies in Portugal. His overall sales in the world are above two million copies, reaching the n.º 1 position in bestselling charts of several countries. José’s fiction is published or is about to be published in 20 languages. His novels The Wrath of God won the 2009 Porto Literary Club Award, and The Devil’s Hand won the 2012 Best Novel Award of Portal da Literatura. -

R O C K Hi G Hli G
ROCK ItI AIRPLAY R • We Listen To Radioter • September 8, 1995 $ 4.95 Volume 2 • No. 37 R O C K HI G H LIG H TS M AI NS T R E A M R O C K BROTHER CANE we, And Fools Shine On (VIRGIN) * * * AERP O W E R * * * CANDLEBOX • Simple Lessons (MAVERICK WARNER BROS.) N E W RE LE ASES AC 'DC • Hard As A Rock (EASTWESTIEEG) DEADEYE DICK • Paralyze Me acHIBAno THE DEFTONES • 7 Words (WARNER BROS.) FRANCIS DUNNERY • Too Much Saturn (ATLANTIC) THE FLAMING LIPS • Bad Days (WARNER BROS.) JETHRO TULL • Beside Myself (CHRYSALIS/EMI) KLOVER • Beginning To End (MERCURY) MAD SEASON • Long Gone Day (COLUMBIA) THE NIXONS • Happy Song (Make It Rain) (MCA) SPONGE • Rainin' (WORK) M O D E R N R O C K SILVERCHAIR Tomorrow (EPIC) * * * AI RP O WE R * * * EDWYN COLLINS • A Girl Like You (BAR NONEA&M) CANDLEBOX • Simple Lessons (MAVERICK/WARNER BROS.) HEATHER NOVA • Walk This World (Eno CAT/WORK) N E W RE LE ASES BJORK • Oh, So Quiet (ELEKTRA/EEG) COMBUSTILE EDISON • Vertigogo (ELEKTRA/EEG) FRANCIS DUNNERY • Too Much Saturn (ATLANTIC) THE FLAMING LIPS • Bad Days (WARNER BROS.) GRETA • About You (MERCURY) CHRIS ISAAK • Go Walking Down There (REPRISE) The First Track LEFTFIELD • Open Up (HARD HAND/COLUMBIA) From The New Album EXIT THE DRAGON MAD SEASON • Long Gone Day (COLUMBIA) MACHINES OF LOVING GRACE • Richest Junkie (MAMMOTHATLANTIC) MEAT PUPPETS • SCUM (LONDON/ISLAND) MORRISSEY • The Boy Racer (REPRISE) THE NIXONS • Happy Song (Make It Rain) (MCA) THAT DOG • He's Kissing Christian (OGG/GEFFEN) URGE OVERKILL • The Break (GEFFEN) PUBLISHER. -

El Videoclip Como Paradigma De La Música Contemporánea, De 1970 a 2015
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I TESIS DOCTORAL El videoclip como paradigma de la música contemporánea, de 1970 a 2015 MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA PRESENTADA POR Lara García Soto DIRECTOR Francisco Reyes Sánchez Madrid, 2017 © Lara García Soto, 2016 Universidad Complutense de Madrid Facultad de CC. de la Información Comunicación Audiovisual y Publicidad I El videoclip como paradigma de la música contemporánea, de 1970 a 2015 Tesis doctoral presentada por: Lara García Soto. Tesis doctoral dirigida por: Francisco Reyes Sánchez. Madrid, 2015 El ejemplo, la fuerza y el esfuerzo, mis padres. La paciencia y apoyo, Adrián. La música, baile y mi inspiración, Michael Jackson. Gracias. ÍNDICE 1. Introducción y Objeto de estudio……………………………………1 2. Objetivos……………………………………………………………….6 3. Metodología………………………………………............................10 4. Orígenes……………………………………………………………….13 4.1. Cine sonoro y experiencias artísticas………………………13 4.2. Cine Musical…………………………………………………..18 4.3. Soundies y Scopitones……………………………………….25 4.4. La llegada de las películas rock, grabaciones de conciertos. Décadas de los 50 y 60……………………………………………29 4.5. El videoarte……………………………….............................38 4.6. La televisión y los programas musicales………………......41 4.6.1. La MTV………………………………………………...........48 4.6.2. Programas musicales en España………………………...57 4.6.3. Los canales temáticos de música y videoclips………….65 5. Historia de la música y relación con los videoclips……………….68 5.1. Los años 70…………………………………………………..69 5.2. Los años 80…………………………………………………..76 5.2.1. La televisión y los videoclips. Desarrollo del rap…..80 5.2.2. El primer muro. El PMRC…………………………….86 5.2.3. Continúa la evolución: música, tecnología y moda..89 5.2.4. -

2014 Route of the Romanesque Tome II.Pdf
N ATLANTIC OCEAN Porto Route of the Romanesque PORTUGAL Lisboa ESPAÑA Faro ALGERIA MOROCCO FRANCE ITALIA MEDITERRANEAN SEA 0 150 300 Km TUNISIA INDEX 9 Church of Saint Isidore of Canaveses, Santo Isidoro, Marco de Canaveses 31 Church of Saint Christopher of Nogueira, São Cristóvão de Nogueira, Cinfães 55 Church of Saint Martin of Mouros, São Martinho de Mouros, Resende 85 Church of Saint Nicholas of Canaveses, São Nicolau, and Church of Saint Mary ... of Sobretâmega, Sobretâmega, Marco de Canaveses 115 Church of Saint Martin of Soalhães, Soalhães, Marco de Canaveses 137 Church of Our Lady of Nativity of Escamarão, Souselo, Cinfães 159 Church of the Saviour of Tabuado, Tabuado, Marco de Canaveses 187 Church of Saint Mary Major of Tarouquela, Tarouquela, Cinfães 219 Church of Saint Andrew of Telões, Telões, Amarante 239 Monastery of the Saviour of Travanca, Travanca, Amarante 281 Church of Saint James of Valadares, Valadares, Baião 309 Church of Saint Mary of Veade, Veade, Celorico de Basto 331 Church of Saint Andrew of Vila Boa de Quires, Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses 357 Monastery of Saint Mary of Vila Boa do Bispo, Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses 389 Chapel of Our Lady of Piety of Quintã, Baltar, Paredes 403 Tower of the Alcoforados, Lordelo, Paredes 417 Bridge of Veiga, Torno, Lousada 433 GLOSSARY 437 BIBLIOGRAPHY CHURCH OF SAINT ISIDORE OF CANAVESES MARCO DE CANAVESES CHURCH OF SAINT ISIDORE OF CANAVESES MARCO DE CANAVESES Plan. HistoricAL SUMMARY aving integrated the “julgado” [a type of Portuguese administrative division] of Santa Cruz, the parish of Santo Isidoro grew around a cult that became hagio-toponimic, Hrevealing both its venerability and its importance during the progress of local Chris- tianization (or of resistance, in times of occupation). -

Representações Dos Pobres: Espiritualidade, Estética, Sociologia
ISSN:0873-1223-25 Representações dos pobres: espiritualidade, estética, sociologia N.º25’2018 Representações dos pobres: espiritualidade, estética, sociologia N.º25’2018 DIRECTOR | Luís FARDILHA (FLUP/CITCEM) CONSELHO DE REDAÇÃO | Isabel MORUJÃO (FLUP/CITCEM); José Adriano de Freitas CARVALHO (FLUP/CITCEM); Luís FARDILHA (FLUP/CITCEM); Pedro Vilas Boas TAVARES (FLUP/CITCEM); Zulmira C. SANTOS (FLUP/CITCEM) COMISSÃO CIENTÍFICA | Felice ACCROCA (Ponticia Università Gregoriana, Roma); Stefano ANDRETTA (Università Roma Tre); José Adriano Freitas de CARVALHO (Faculdade de Letras, Universidade do Porto); Pedro M. CÁTEDRA (Facultad Filología, Universidad de Salamanca); Bernard DOMPNIER (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand); Maria de Lurdes C. FERNANDES (Faculdade de Letras, Universidade do Porto); Maria Lucília G. PIRES (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa); Maria Idalina Resina RODRIGUES (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa); Roberto RUSCONI (Università Roma Tre); Gabriella ZARRI (Università degli Studi di Firenze) SECRETARIADO | Paula Almeida (FLUP/CITCEM) / Francesco Renzi (FLUP/CITCEM) EDIÇÃO | CITCEM - Centro de Investigação Transdiciplinar «Cultura, Espaço e Memória» Faculdade de Letras da Universidade do Porto | Via Panorâmica, s/n | 4150 -564 Porto (Portugal) email: [email protected] n.º 25 | ano 2018 Periodicidade: Anual | tiragem: 300 exemplares Depósito Legal nº 85227/94 ISSN: 0873-1233-25 Design: HLDESIGN.pt Impressão e acabamento: Sersilito - Empresa Gráca, Lda Os números desta revista são monográcos. Esta publicação está sujeita a peer-review. Versão digital: http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id1146&sum=sim Revista indexada em : DOAJ, Latindex, Fonte Académica. Esta publicação respeita os critérios da política de livre acesso à informação. Trabalho cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) e por fundos nacionais através da FCT, no âmbito do projeto POCI-01-0145-FEDER-007460. -

Precinct Committee Write in Results May 17, 2016 Primary Election
Precinct Committee Write In Results May 17, 2016 Primary Election Sum of Votes Party2 Precinct Gender2 Candidate Total Democratic 2701 Female Ann Hayes 1 Blank 2 Karin McDonogh 1 Linsay Littlejo 1 Nancy Draper 1 Male Blank 4 Carlos Agayo 1 Marcus Judkins 1 Roger Martin 1 2701 Total 13 2702 Female Alexa Vascomcyos 1 Blank 1 Carolyn Schulte 1 Cheryll J. Brounstein 1 Heidi Saldvan 1 Janice Wallenstein 1 Karla Forsythe 1 Kayelle Garn 1 Martha Hart 3 Naomi Deitz 1 Male Blank 2 Dale A. Brounstein 1 George WA 1 James W. Buell 1 John Calhoun 1 Terry Bernhard 1 2702 Total 19 3101 Female Agnes Zach 2 Alisa Rowe 1 Alycia M. Ferris 1 Annika Donaldson 1 Blank 3 Brittany Korfel 1 Joanne M James 1 Kathleen Molony 2 Kimberly K Burton 1 Kristi Jo Lewis 1 Nancy Jo Orr 1 Patricia McGroin 1 Pinn Crawford 1 Rose Gobeo Radich 1 Sarah Iannarone 1 Male Adam Jones 1 Multnomah County, Oregon Precinct Committee Write In Results May 17, 2016 Primary Election Democratic 3101 Male Alexander Tretheny 1 Bear Wilner-Nugent 2 Ben Nussb 1 Brian yoder 1 Lawrence Roe 1 Mattew Marcot 1 Matthew Radich 1 Patrick Bryson 2 Richard Nibbler 1 Sidney Walters 1 Steven 1 Stuart Emmons 1 William E. Crawford 1 William Makli 1 3101 Total 36 3102 Female Abbi Bugg 1 Ambikakaph 1 Anna Squire 1 Beverly Bugg 1 Blank 3 Bonnie Leis 2 Glenda St Bearded 1 Jillian King 1 Judith Sowd 1 Kalliste Edeen 2 Kimberly Goddard 1 Lisabeth A Skoch 1 Martha Stewart 1 Maryellen Hocken 1 Michele Roy 1 Rhonda Reed 1 Roberts 1 Salli Archibald 1 Sen Speroff 1 Sharon Knachrel 1 Stephanie Vasquez 2 Teresa Hunter