Escola De Ciências E Tecnologias Clínica E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
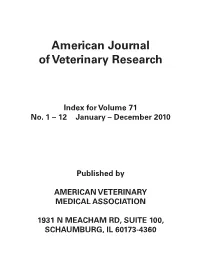
American Journal of Veterinary Research
American Journal of Veterinary Research Index for Volume 71 No. 1 – 12 January – December 2010 Published by AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION 1931 N MEACHAM RD, SUITE 100, SCHAUMBURG, IL 60173-4360 Index to News A American Anti-Vivisection Society (AAVS) AAHA Nutritional Assessment Guidelines for Dogs and Cats MSU veterinary college ends nonsurvival surgeries, 497 Nutritional assessment guidelines, consortium introduced, 1262 American Association of Swine Veterinarians (AASV) Abandonment AVMA board, HOD convene during leadership conference, 260 Corwin promotes conservation with pageant of ‘amazing creatures,’ 1115 AVMA seeks input on model practice act, 1403 American Association of Veterinary Immunologists (AAVI) CRWAD recognizes research, researchers, 258 Abbreviations FDA targets medication errors resulting from unclear abbreviations, 857 American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (AAVLD) Abuse Organizations to promote veterinary research careers, 708 AVMA seeks input on model practice act, 1403 American Association of Veterinary Parasitologists (AAVP) Academy of Veterinary Surgical Technicians (AVST) CRWAD recognizes research, researchers, 258 NAVTA announces new surgical technician specialty, 391 American Association of Veterinary State Boards (AAVSB) Accreditation Stakeholders weigh in on competencies needed by veterinary grads, 388 Dates announced for NAVMEC, 131 USDA to restructure accreditation program, require renewal, 131 American Association of Zoo Veterinarians (AAZV) Education council schedules site -

Military Vets Military Teaser
College of Veterinary Medicine Winter/Spring 2011 AesculapianVol. 11, No. 1 Military Vets Military teaser Members of the U.S. Army Veterinary Corps were deployed Follow us on Facebook and Twitter to Haiti in 2000 to help provide humanitarian relief following facebook.com/ugacvm a hurricane. Their work included rabies vaccination clinics twitter.com/ugavetmed and food inspections. Photo courtesy of Dr. Katie Carr. Aesculapian • Spring/Summer 2008 3 The University of Georgia www.vet.uga.edu Aesculapian , Winter/Spring 2011 As the signs of spring begin to emerge, I bring greetings to all of you from the College of Vol. 11, No. 1 Dear Alumni and Friends of the College Veterinary Medicine. In this issue of the Aesculapian we celebrate the many contributions to our EDITOR Kat Yancey Gilmore profession and to our community that our College and our alumni make throughout each year. As we graduate new veterinarians each year we continue to build our great profession, and through CONTRIBUTING WRITERS our outreach programs we provide ongoing opportunities for professional growth for our alumni, Nicole Owen David Dawkins our veterinary community, and for our faculty and staff. We constantly review our educational Kelsey Allen processes to ensure we are preparing our students to serve the future needs of our society. Sue Myers Smith Johnathan McGinty All of these efforts to continually rejuvenate our profession are represented in this issue of the Aesculapian. A great example of something new that will endure is the story about the scholarship PHOTOGRAPHY Sue Myers Smith fund that was created by our students to commemorate a well-loved classmate, Josh Howle. -

Senior Cat Care
AMERICANASSOCIATIONOFFELINEPRACTITIONERS SENIOR CARE GUIDELINES Revised December 2008 ©2009 American Association of Feline Practitioners. All rights reserved. AMERICANASSOCIATIONOFFELINEPRACTITIONERS SENIOR CARE GUIDELINES Revised December 2008 Dedicated to our friend, colleague, and co-author of the original AAFP Senior Care Guidelines, Dr. Jim Richards, in memoriam. A passionate cat lover, he was particularly fond of his older “kitty,” Dr. Mew. Two of Dr. Richard’s favorite sayings were: “Cats are masters at hiding illness” and “Age is not a disease.” PANELISTS: TABLE OF CONTENTS Jeanne Pittari, DVM, DABVP Introduction/Aging and the Older Cat . 3 (Feline Practice), Co-Chair The Senior Cat Wellness Visit . 4 ExaminationFrequency...................................4 Ilona Rodan, DVM, DABVP MinimumDatabase......................................5 (Feline Practice), Co-Chair Interpretation of the Urinalysis . 6 RoutineWellnessCare....................................6 Gerard Beekman, DVM Nutrition and Weight Management . 7 Danièlle Gunn-Moore, BVM&S, Obesity ...............................................7 PhD, MACVSc, MRCVS, RCVS Underweight/Loss of Body Mass . 8 Specialist in Feline Medicine DentalCare.............................................8 David Polzin, DVM, PhD, Anesthesia..............................................8 DACVIM-SAIM Monitoring and Managing Disease . 9 BP Monitoring and Hypertension. 10 Joseph Taboada, DVM, Chronic Kidney Disease . 11, 12 DACVIM-SAIM Thyroid Testing and Hyperthyroidism . 11, 13 DiabetesMellitus.......................................13 -

Nutrition and the Skeletal Health of Dogs and Cats
Nutrition and the skeletal health of dogs and cats Ronald Jan Corbee Colofon Copyright © 2014 All rights reserved. No part of this thesis may be reproduced, stored or transmitted in any form by any means, without prior permission of the author. Lay-out: Proefschrift-aio.nl Cover: Proefschrift-aio.nl ISBN: 978-90-393-6174-0 Nutrition and the skeletal health of dogs and cats De invloed van voeding op het skelet van honden en katten (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. G.J. van der Zwaan, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op donderdag 28 augustus 2014 des middags te 4.15 uur door Ronald Jan Corbee geboren op 28 april 1979 te Alkmaar Promotoren: Prof.dr. H.A.W. Hazewinkel Prof.dr. J.W. Hesselink Copromotoren: Dr. M.A. Tryfonidou Dr. A.B. Vaandrager Contents Chapter 1: General introduction, aim and scope of the study 7 Part I: Effects of nutrition on osteoarthritis Chapter 2: Obesity and osteoarthritis 15 Chapter 3: Obesity in show dogs 33 Chapter 4: Obesity in show cats 49 Chapter 5: The effect of dietary long-chain omega-3 fatty acids 61 supplementation on owner’s perception of behavior and locomotion in cats with naturally occurring osteoarthritis Part II: Vitamin A and D requirements in relation to skeletal health Chapter 6: The interaction of vitamin A and vitamin D with emphasis 79 on bone metabolism Chapter 7: Cutaneous vitamin D synthesis in carnivorous species -

Clinical Signs and Management of Anxiety, Sleeplessness, and Cognitive Dysfunction in the Senior Pet
Clinical Signs and Management of Anxiety, Sleeplessness, and Cognitive Dysfunction in the Senior Pet a,b, Gary M. Landsberg, DVM, MRCVS *, c d,e Theresa DePorter, DVM, MRCVS , Joseph A. Araujo, BSc KEYWORDS Anxiety Behavior problems Cognitive dysfunction Fear Night waking Senior pets ASSESSING AND MAINTAINING COGNITIVE AND BEHAVIORAL WELL-BEING Appreciation and compassion for welfare and quality of life, as well as emotional and physical well-being, is important at all stages of our patient’s lives, but this becomes particularly complicated in the management of geriatric patients, especially those facing imminent end-of-life decisions. Patience and sensitivity for the pet’s emotional state should be part of a comprehensive program for any patient; however, the geriatric hospice patient requires special consideration because changes in anxiety and cogni- tive function may be further compounded by other medical conditions, sensory percep- tion, medications, and previous learning. For example, if the pet has learned to expect pain and uncomfortable restraint during previous experiences, then the debilitated or compromised pet will be more anxious, defensive, or even aggressive rather than Disclosure: GL is an employee of, and JA is a consultant for, CanCog Technologies Inc, a contract research organization that provides cognitive and behavioral assessment of dogs and cats. a North Toronto Animal Clinic, 99 Henderson Avenue, Thornhill, ON L3T 2K9, Canada b CanCog Technologies Inc, 120 Carlton Street, Toronto, ON M5A 4K2, Canada c Oakland Veterinary Referral Services, 1400 South Telegraph Road, Bloomfield Hills, MI, 48302, USA d Department of Pharmacology, University of Toronto, 1 King’s College Circle, Toronto, ON M5S 1A8, Canada e CanCog Technologies Inc, 120 Carlton Street, Suite 204, Toronto, ON M5A 4K2, Canada * Corresponding author. -

Nutrition Forum Focus on Felines St
2008_Nest_Purina_Nutr_CVR_FINAL.qxp:Layout 1 2/26/08 4:16 PM Page FC1 Nutrition Forum Focus on Felines St. Louis, Missouri • September 20–22, 2007 A Supplement to Compendium: Continuing Education for Veterinarians™ Vol. 30, No. 3(A), March 2008 2008 Purina FRONT MATTER.qxp:Layout 1 2/26/08 4:17 PM Page 6 2008 Purina FRONT MATTER.qxp:Layout 1 3/3/08 10:41 AM Page 1 Nutrition Forum Focus on Felines St. Louis, Missouri • September 20–22, 2007 A Supplement to Compendium: Continuing Education for Veterinarians™ Vol. 30, No. 3(A), March 2008 2008 Purina FRONT MATTER.qxp:Layout 1 2/26/08 4:17 PM Page 2 Sponsored by an educational grant from Nestlé Purina PetCare Company. This information has not been peer reviewed and does not necessarily reflect the opinions of, nor constitute or imply endorsement or recommendation by, the Publisher, Editorial Board, or Nestlé Purina PetCare Company. Neither the Publisher nor Nestlé Purina PetCare Company is responsible for any data, opinions, or statements provided herein. © 2008 Nestlé Purina PetCare Company All rights reserved. Printed in the United States of America. Nestlé Purina PetCare Company, Checkerboard Square, St. Louis, Missouri 63164 Designed and published by Veterinary Learning Systems 780 Township Line Road, Yardley, PA 19067 Cover Images: Radius Images/Jupiterimages, Corbis/Jupiterimages, Masterfile 2008 Purina FRONT MATTER.qxp:Layout 1 2/26/08 4:17 PM Page 3 CONTENTS Preface and Dedication..............................................................................................7 Dottie Laflamme SCIENTIFIC PROGRAM: FOCUS ON FELINES Some Highlights in Elucidating the Peculiar Nutritional Needs of Cats...........................9 Quinton R. Rogers and James G. -

Why Are Comorbidities the "New" Norm for Cats
American Association of Feline Practitioners 2019 Conference ● October 31 – November 3, 2019 ● San Francisco, CA Why Are Comorbidities the “New” Norm for Cats? Margie Scherk, DVM, DAVBP (Feline) Introduction The observation that comorbidities are seen frequently in cats is not, unto itself, surprising. Cats are living longer than ever, and things “wear out” over time. But is this a new problem? Perhaps we are simply recognizing comorbidities because we are screening/looking for problems before they become clinically evident. Yet, some conditions, for example hyperthyroidism (Peterson), diabetes (Prahl), and CKD (Lefebvre, Lulich, Reynolds, Ross), are actually becoming more common. What Mechanisms May Cause Comorbidities? As with any other species, over time, oxidative stress from normal, or enhanced, wear-and-tear results in cellular injury or death through complex free radical pathways. Free radicals are by-products of normal metabolism such as mitochondrial cellular respiration, phagocytosis, digestion, and inflammation. Additionally, they are formed by exogenous agents, including drugs, xenobiotics (chemicals found in an organism not normally produced or expected to be present in it, e.g., smoke, fire retardants) and ionizing radiation (including that from the sun). If the cell’s ability to neutralize free radicals is exceeded, permanent damage occurs and results in DNA damage, cell injury, inflammation, fibrosis, cell death or the inability to reverse neoplastic transformation. Free radicals are balanced by endogenous antioxidant systems and their neutralization by these mechanisms contributes to the outcome for the patient. (Mandeleker) Anecdotally, some claim that cats are a species prone to inflammation. Lymphocytes and plasma cells are arguably the most common cellular infiltrates in cats suggesting chronic antigenic stimulation. -

Catwatch January 2020 V24 N1
THE FELINE HEALTH CENTER • CORNELL COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE January 2020 - Vol. 24, No. 1 Expert information on medicine, behavior, and health in collaboration with a world leader in veterinary medicine THIS JUST IN Become an Illness Detective Link to Liver Cancer Older cats require you to be on the alert Virus is similar to lthough it may surprise you, cats are considered geriatric once they hepatitis B in people reach ten years of age, and many cats begin to show signs of age-related Adiseases around this time. Diseases such as chronic renal (kidney) report from the University of disease, hyperthyroidism, diabetes mellitus, osteoarthritis, dental disease, and Sydney, published in Viruses, cancer are more prevalent in the older feline population. A says that a virus in cats that was Early identification of these diseases results in more favorable outcomes, which is discovered last year is now believed to be why it’s so important to understand the health concerns that are commonly associated a significant factor in the development of with aging in cats. liver cancer in cats. The researchers found Older cats are physically different from younger cats. Their immune system is less the hepatitis B-like virus, called domestic able to fend off invaders, their skin is thinner and less elastic, and the function of a cat hepadnavirus (DCH), in certain types number of organ systems undergoes changes that make them prone to a variety of age- of hepatitis and liver cancer in cats. associated diseases. Domestic cat hepadnavirus infection Their claws may become overgrown and brittle, and changes to their skin and hair, appears to be common in companion combined with arthritis that can limit range of motion, can predispose them to hair cats, with the virus detected in 6.5 matting and skin infections. -

Potential Causes of Increased Vocalisation in Elderly Cats With
Edinburgh Research Explorer Potential Causes of Increased Vocalisation in Elderly Cats with Cognitive Dysfunction Syndrome as assessed by their owners Citation for published version: Cerna, P, Gardiner, H, Sordo Sordo, L, Tornqvist-Johnsen, C & Gunn-Moore, D 2020, 'Potential Causes of Increased Vocalisation in Elderly Cats with Cognitive Dysfunction Syndrome as assessed by their owners', Animals. https://doi.org/10.3390/ani10061092 Digital Object Identifier (DOI): 10.3390/ani10061092 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Published In: Animals General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 23. Sep. 2021 animals Article Potential Causes of Increased Vocalisation in Elderly Cats with Cognitive Dysfunction Syndrome as Assessed by Their Owners Petra Cernˇ á 1,2,* , Hannah Gardiner 3, Lorena Sordo 1 , Camilla Tørnqvist-Johnsen 1 and -

Feline Symposium
Feline Symposium J ANUARY 2 0 1 3 In association with the North American Veterinary Conference Tuesday, January 22, 2013 The ROYAL CANIN® Feline Symposium Tuesday, January 22, 2013 Feline Symposium In association with the North American Veterinary Conference Tuesday, January 22, 2013 Objectives The 2013 ROYAL CANIN® Feline Symposium will provide a practical look at many of the most common preventive and therapeutic topics affecting feline medicine today. Experts from many fields will translate the latest diagnostic and therapeutic advancements into useful ideas that can be immediately utilized in your practice. SCHEDULE OF EVENTS Managing Differing Nutritional Needs in the Multi-Cat 8:00 – 9:15 AM M. Scherk Household 9:15 – 9:55 AM BREAK 9:55 – 10:45 AM Feline Cardiopulmonary Disease: Who’s to Blame? J. Rush Top 10 Treatment Tips for Feline Heart Disease: L. Freeman, 10:55 – 11:45 AM Feeding and Pharmacology J. Rush 11:45 AM – 1:45 PM LUNCH 1:45 – 2:35 PM Evaluating Weight Loss in Senior Cats S. Little 2:45 – 3:35 PM Nutritional Management of Endocrine Disease in Cats M. Peterson 3:35 - 3:55 BREAK S. Little, 3:55 - 4:50 Special-Needs Cats: Interactive Case Presentations M. Peterson 3 The ROYAL CANIN® Feline Symposium Tuesday, January 22, 2013 CONTENTS Managing Differing Nutritional Needs in the Multi-Cat Household 5 Margie Scherk DVM, DABVP (Feline Practice) Feline Cardiopulmonary Disease: Who’s To Blame? 10 John E. Rush, DVM, MS, DACVECC, DACVIM (Cardiology) Top 10 Treatment Tips for Feline Heart Disease: Feeding and Pharmacology 14 Lisa M. -

Long‐Term Incidence and Risk of Noncardiovascular and All‐Cause
Edinburgh Research Explorer Long-term Incidence and risk of noncardiovascular and all-cause mortality in apparently healthy cats and cats with preclinical hypertrophic cardiomyopathy Citation for published version: Fox, PR, Keene, BW, Lamb, K, Schober, KE, Chetboul, V, Luis Fuentes, V, Payne, JR, Wess, G, Hogan, DF, Abbott, JA, Häggström, J, Culshaw, G, Fine-Ferreira, DM, Côté, E, Trehiou-Sechi, E, Motsinger-Reif, A, Nakamura, RK, Singh, MK, Ware, WA, Riesen, S, Borgarelli, M, Rush, JE, Vollmar, AC, Lesser, MB, Van Israël, N, Ming-Show Lee, P, Bulmer, B, Santilli, RA, Bossbaly, MJ, Quick, N, Bussadori, C, Bright , J, Estrada, AH, Ohad, DG, Fernadez del Palacio , MJ, Lunney Brayley, J, Schwartz, DS, Gordon, SG, Jung, SW, Bové, CM, Brambilla , PG, Moïse, NS, Stauthammer, CD, Quintavalla, C, Manczur, F, Stepien, RL, Mooney, CT, Hung, Y-W, Lobetti, R, Tamborini, A, Oyama, MA, Komolov, A, Fujii, Y, Pariaut, R, Uechi, M & Tachika Ohara, VY 2019, 'Long-term Incidence and risk of noncardiovascular and all-cause mortality in apparently healthy cats and cats with preclinical hypertrophic cardiomyopathy', Journal of Veterinary Internal Medicine. https://doi.org/10.1111/jvim.15609 Digital Object Identifier (DOI): 10.1111/jvim.15609 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Published In: Journal of Veterinary Internal Medicine Publisher Rights Statement: This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made. -

Optimizing an Indoor Lifestyle for Cats
Optimizing an indoor lifestyle for cats ■ Margie Scherk, DVM, Dipl. ABVP (Feline Practice) catsINK, Vancouver, BC, Canada Dr Scherk graduated from the Ontario Veterinary College in 1982 and opened the “Cats Only Veterinary Clinic” in Vancouver in 1986, practicing there until 2008. She has written numerous book chapters and has published several clinical trials on feline topics; she is also an active international speaker and enjoys teaching on-line. Dr Scherk has served extensively within the American Association of Feline Practitioners, as well as other veterinary organizations, and is co-editor of the Journal of Feline Medicine and Surgery. Her interests include all things feline, but in particular analgesia, the digestive system, renal disease, nutrition and enabling more positive interactions with cats. ■ Introduction (2), whereas in the United Kingdom the majority of cats People benefit from living with pets. As companions, were allowed outside (3) whilst a study from Melbourne, they provide stress relief, stability of routine, and im- Australia reported that 23% of cats were “mainly in- PROVEDHEALTH 9ETHOWTOBESTCAREFOROURCATSRE- doors” (4). Why are there such “cultural” differences? mains controversial, and there are cultural and regional The decision to keep a cat indoors may be practical: liv- differences in what people believe is the best way to ing on the 21st floor of an apartment building in a busy house cats. As long ago as 1997, between 50-60% of city prevents ready access to the outside. In other situa- cats were housed strictly indoors in the United States tions, it is true that keeping a cat indoors reduces the risks from wandering, poisoning, automobile accidents, contagious disease or fights with other animals (5,6), and owners may also believe that it removes the risk of internal and external parasites (e.g., heartworm, fleas).