O ALTO E O BAIXO NA ARQUITETURA.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ella Enchanted
Ella Enchanted By Gail Carson Levine A Novel Study by Nat Reed 1 Ella Enchanted By Gail Carson Levine Table of Contents Suggestions and Expectations ……..……………………………………... 3 List of Skills ………………………………….…………………………… 4 Synopsis / Author Biography ……..……………………………………... 5 Student Checklist …………………………………………………………. 6 Reproducible Student Booklet ……………………………………………. 7 Answer Key ………………………………………………………………. 64 About the author: Nat Reed has been a member of the teaching profession for more than 30 years. He is presently a full-time instructor at Trent University in the Teacher Education Program. For more information on his work and literature, please visit the websites www.reedpublications.org and www.novelstudies.org. Copyright © 2014 Nat Reed All rights reserved by author. Permission to copy for single classroom use only. Electronic distribution limited to single classroom use only. Not for public display. 2 Ella Enchanted By Gail Carson Levine Suggestions and Expectations This curriculum unit can be used in a variety of ways. Each chapter of the novel study focuses on three chapters of Ella Enchanted and is comprised of five of the following different activities: • Before You Read • Vocabulary Building • Comprehension Questions • Language Activities • Extension Activities Links with the Common Core Standards (U.S.) Many of the activities included in this curriculum unit are supported by the Common Core Standards. For instance the Reading Standards for Literature, Grade 5, makes reference to a) determining the meaning of words and phrases. including figurative language; b) explaining how a series of chapters fits together to provide the overall structure; c) compare and contrast two characters; d) determine how characters … respond to challenges; e) drawing inferences from the text; f) determining a theme of a story . -

As Transformações Nos Contos De Fadas No Século Xx
DE REINOS MUITO, MUITO DISTANTES PARA AS TELAS DO CINEMA: AS TRANSFORMAÇÕES NOS CONTOS DE FADAS NO SÉCULO XX ● FROM A LAND FAR, FAR AWAY TO THE BIG SCREEN: THE CHANGES IN FAIRY TALES IN THE TWENTIETH CENTURY Paulo Ailton Ferreira da Rosa Junior Instituto Federal Sul-rio-grandense, Brasil RESUMO | INDEXAÇÃO | TEXTO | REFERÊNCIAS | CITAR ESTE ARTIGO | O AUTOR RECEBIDO EM 24/05/2016 ● APROVADO EM 28/09/2016 Abstract This work it is, fundamentally, a comparison between works of literature with their adaptations to Cinema. Besides this, it is a critical and analytical study of the changes in three literary fairy tales when translated to Walt Disney's films. The analysis corpus, therefore, consists of the recorded texts of Perrault, Grimm and Andersen in their bibliographies and animated films "Cinderella" (1950), "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937) and "The little Mermaid "(1989) that they were respectively inspired. The purpose of this analysis is to identify what changes happened in these adapted stories from literature to film and discuss about them. Resumo Este trabalho trata-se, fundamentalmente, de uma comparação entre obras da Literatura com suas respectivas adaptações para o Cinema. Para além disto, é um estudo crítico e analítico das transformações em três contos de fadas literários quando transpostos para narrativas fílmicas de Walt Disney. O corpus de análise, para tanto, é composto pelos textos registrados de Perrault, Grimm e Andersen em suas respectivas bibliografias e os filmes de animação “Cinderella” (1950), “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937) e “A Pequena Sereia” (1989) que eles respectivamente inspiraram. -
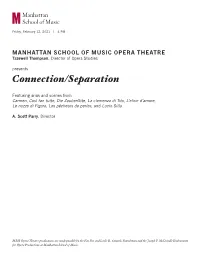
Connection/Separation
Friday, February 12, 2021 | 4 PM MANHATTAN SCHOOL OF MUSIC OPERA THEATRE Tazewell Thompson, Director of Opera Studies presents Connection/Separation Featuring arias and scenes from Carmen, Così fan tutte, Die Zauberflöte, La clemenza di Tito, L’elisir d’amore, Le nozze di Figaro, Les pêcheurs de perles, and Lucio Silla A. Scott Parry, Director MSM Opera Theatre productions are made possible by the Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation and the Joseph F. McCrindle Endowment for Opera Productions at Manhattan School of Music. Friday, February 12, 2021 | 4 PM MANHATTAN SCHOOL OF MUSIC OPERA THEATRE Tazewell Thompson, Director of Opera Studies presents Connection/Separation Featuring arias and scenes from Carmen, Così fan tutte, Die Zauberflöte, La clemenza di Tito, L’elisir d’amore, Le nozze di Figaro, Les pêcheurs de perles, and Lucio Silla A. Scott Parry, Director Myra Huang, Vocal Coach & Pianist Kristen Kemp, Vocal Coach & Pianist Megan P. G. Kolpin, Props Coordinator DIRECTOR’S NOTE In each of our lives—during this last year especially—we may have discovered ourselves in moments of wanting, even needing some sort of human connection, but instead finding separation by any number of barriers. In the arias and scenes that follow, we witness characters in just this kind of moment; searching for meaningful contact yet being somehow barred from achieving it. Through circumstance, distance, convention, misunderstanding, pride, fear, ego, or what have you, we may find ourselves in situations similar to the characters in this program, while looking forward to the days when connection can be more easily achieved and separation the exception to the rule. -

Behind the Curtain a Creative & Theatrical Study Guide for Teachers
BEHIND THE CURTAIN A CREATIVE & THEATRICAL STUDY GUIDE FOR TEACHERS By Karen Zacarías Music by Deborah Wicks La Puma Adapted from the book by Gail Carson Levine By special arrangement with Miramax RECOMMENDED FOR AGES 6 AND UP JANUARY 24 - MARCH 1, 2019 STUDENT MATINEE JANUARY 25 - FEBRUARY 24, 2019 PUBLIC SHOWS As part of DCT’s mission to integrate the arts into classroom academics, the Behind the Curtain Resource Guide is intended to provide helpful information for the teacher and students to use before and after attending a performance. The activities presented in this guide are suggested to stimulate lively responses and multi-sensory explorations of concepts in order to use the theatrical event as a vehicle for cross-cultural and language arts learning. Please use our suggestions as springboards to lead your students into meaningful, dynamic learning; extending the dramatic experience of the play. Dallas Children’s Theater BEHIND THE CURTAIN A Creative & Theatrical Resource Guide for Teachers DCT Executive Artistic Director .....................................Robyn Flatt Resource Guide Editors ....................................................Jessica Colaw Resource Guide Layout/Design .....................................Jamie Brizzolara Play ..........................................................................................ELLA ENCHANTED: THE MUSICAL By ..............................................................................................Karen Zacarías Music by .................................................................................Deborah -

Teleseries.Cl 2,736 Likes
Inicio Nosotros Entrevistas Críticas Baúl de Recuerdos Diurnas Vespertinas Nocturnas v i e r n e s , 2 d e j u n i o d e 2 0 1 7 Buscar Series chilenas seleccionadas para exclusivo evento internacional Teleseries.cl 2,736 likes Like Page Share Be the first of your friends to like this Tweets por @TeleseriesCL Reproducción CNTV. LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA Durante el miércoles 21 y el viernes 23 de este mes, en la ciudad de Santiago de Compostela, España, se realizará la primera versión de Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf Conecta Fiction, evento que aspira a ser el punto de encuentro y TVN define historia de su nueva teleserie y anuncia plataforma de negocio para la coproducción de ficción televisiva entre numeroso elenco Latinoamérica, Estados Unidos de habla hispana y Europa. Gentileza TVN. Como hace bastante no se veía, la vespertina que la señal pública comenzará a grabar en julio A días del encuentro, la organización anunció los diez proyectos para suceder a “La Colombia... seleccionados para el pitching de coproducción internacional de series y miniseries para televisión. Así, entre estos destacan dos proyectos locales. “Lo Que Callamos las Mujeres” Se trata de “Inés del Alma Mía”, miniserie de Chilevisión basada en la estrena nuevo formato en Chilevisión Gentileza Chilevisión. Cuatro novela de Isabel Allende y centrada en la figura de Inés de Suárez, y capítulos darán vida a una historia. “Héroes Invisibles”, coproducción de la televisión pública de Finlandia YLE Así es la nueva propuesta que y la productora nacional Parox que narra la historia de un grupo de presentará la exitosa serie que funcionarios de la embajada de Finlandia que necesita encontrar realiza.. -

Unbreakable Glass Slippers: Hegemony in Ella Enchanted Tori Shereen Mirsadjadi Scripps College
Claremont Colleges Scholarship @ Claremont Scripps Senior Theses Scripps Student Scholarship 2012 Unbreakable Glass Slippers: Hegemony in Ella Enchanted Tori Shereen Mirsadjadi Scripps College Recommended Citation Mirsadjadi, Tori Shereen, "Unbreakable Glass Slippers: Hegemony in Ella Enchanted" (2012). Scripps Senior Theses. Paper 40. http://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/40 This Open Access Senior Thesis is brought to you for free and open access by the Scripps Student Scholarship at Scholarship @ Claremont. It has been accepted for inclusion in Scripps Senior Theses by an authorized administrator of Scholarship @ Claremont. For more information, please contact [email protected]. UNBREAKABLE GLASS SLIPPERS: HEGEMONY IN ELLA ENCHANTED by TORI SHEREEN MIRSADJADI SUBMITTED TO SCRIPPS COLLEGE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS PROFESSOR WERNIMONT PROFESSOR LIU April 20, 2012 Contents Acknowledgements Introduction: A Self-Conscious Reflection on the Fairy Tale Thesis Contained in These Pages . 1 Chapter 1: Ella Grapples with Patriarchy. 20 Chapter 2: Ella’s Socially-Positive Characterization. 47 Chapter 3: Bitchy Ella . 68 Conclusion: A Concluding Reflection. .88 Works Cited. .93 Acknowledgements To Professor Jacqueline Wernimont and Professor Warren Liu, who so graciously guided me through every indecisive, rambling step on my journey toward getting this thesis written: I am forever thankful to have benefited from corresponding with, talking to, and thinking in the presence of two such amazing professors. I cannot thank my readers enough for letting me distract them from their newborn babies. A Self-Conscious Reflection on the Fairy Tale Thesis Contained in These Pages “Fairy tales contain us like a picture or poem, and reflect back to us in language, image and trope.” --Kate Bernheimer 1 Gail Carson Levine’s first published work, Ella Enchanted 2, rebels against its own fairy tale form in surprising ways. -

Romero Barker Ella 5
From Book to Film: Ella Enchanted by Macario Ben Romero and Patricia Barker Fairy tales occupy a unique position in the literary canon. Although based on literary traditions, they have become an increasingly visual form in American culture due in large part to the works and films of Walt Disney which simplified and familiarized story lines in favor of technical artistry to “wow” the audience and which also sacrificed artistry for invention, tradition for innovation, and imagination for distraction (Zipes, “Towards” 7-8). For the most part, fairy tales of any culture are indicative of the morals and traditions of that culture: “fairy tales provide a unique window into our most central concerns, our sense of social and cultural identity, who we think we are (or should be) – and how we change” (Orenstein 8). Zipes clearly reaffirms this argument when discussing the French origins of the literary fairy tale: “the genre of the literary fairy tale was institutionalized as an aesthetic and social means through which questions and issues of civilite , proper behavior and demeanor in all types of situations, were mapped out as narrative strategies for literary socialization (Zipes, “Breaking” 23). For women, this socialization process can be insidious because as Vera Sonja Maass writes, “in their symbolic forms, fairy tales reinforce self-defeating social and psychological behavior patterns in women’s daily lives” (vii). Later, she writes that the older oral fairy tales descended from matriarchal societies which celebrated womanhood “had been transformed into a verbal version bearing a literate code that prescribed the domestic requirements in bourgeois Christian society necessary for a young woman to be acceptable for marriage: self-sacrifice, diligence, hard work, silence, humility, and patience” (5). -

BAMPTON CLASSICAL OPERA 2018 – 25Th ANNIVERSARY SEASON NICOLÒ ISOUARD’S CINDERELLA (CENDRILLON)
BAMPTON CLASSICAL OPERA 2018 – 25th ANNIVERSARY SEASON NICOLÒ ISOUARD’s CINDERELLA (CENDRILLON) Performances: The Deanery Garden, Bampton, Oxfordshire: Friday, Saturday 20, 21 July The Orangery Theatre, Westonbirt School, Gloucestershire: Monday 27 August St John’s Smith Square, London: Tuesday 18 September Libretto: Charles Guillaume Etienne after the fairy-tale by Charles Perrault Sung in a new English translation by Gilly French, dialogues by Jeremy Gray Director: Jeremy Gray Conductor: Harry Sever Orchestra of Bampton Classical Opera (Bampton, Westonbirt) CHROMA (St John’s Smith Square) Bampton Classical Opera celebrates its 25th anniversary with the UK modern-times première of Nicolò Isouard’s Cinderella (1810), a charming and lyrical telling of Perrault’s much-loved fairy-tale, continuing the Company’s remarkable exploration of rarities from the classical period. The Bampton production will be sung in a new English translation by Gilly French with dialogues by Jeremy Gray. This new production also marks the bicentenary of the composer’s death in Paris in 1818. Cinderella (Cendrillon) is designated as an Opéra Féerie, and is in three acts, to a libretto by Charles Guillaume Etienne. Cinderella and her Prince share music of folktune-like simplicity, contrasting with the vain step-sisters, who battle it out with torrents of spectacular coloratura. With his gifts for unaffected melody, several appealing ensembles and always beguiling orchestration, Isouard’s Cinderella is ripe for rediscovery. Performances will be conducted by Harry Sever and directed by Jeremy Gray. Born in Malta in 1775, Isouard was renowned across Europe, composing 41 operas, many of which were published and widely performed. -

Who Is Cinderella,...Or Cinderfella?
1 Who is Cinderella, … or Cinderfella? Donna Rohanna Patterson Elementary School Overview Rationale Objectives Strategies Classroom Activities Annotated Bibliography/Resources Appendices/Standards Overview Folk and fairy tale stories comprise most of the stories children hear from birth to 2nd grade. They are used not only to entertain, but often as teaching stories about the dangers and values of life. These very same stories are shared in many cultures around the world. Although they vary in characters, setting, and texture from one continent to the next, they remain some of the most powerful stories for teaching and learning during the early years. Folk and fairy tales have initiated children into the ways of the world probably from time immemorial. Many have changed over time to homogenize into the variety that we often see and hear today to meet a more generic audience, often leaving behind the tales geographic and social origins. By exposing students to a variety of multicultural renditions of a classic Fairy Tale they can begin to relate to these stories in new ways, leading to a richer literary experience. Fairy Tales written through ethnic eyes also give a great deal of cultural information, which can result in a richer experience for the students and students. We can then appreciate the origins and adaptations as they have migrated through time and space. These stories help to make sense of the world for young children. Folk and fairy tales were not meant only for entertainment, they provide a social identity, and instill values as well as teaching lessons. In my own experience I have found that classrooms are often filled with students that either come from other countries or have families that do. -

Bibliography of Cinderella Stories & Films
DOCUMENT RESUME ED 435 998 CS 216 934 AUTHOR Rodriguez-Price, Marisol TITLE Bibliography of Cinderella Stories & Films. PUB DATE 1999-11-00 NOTE 25p. PUB TYPE Reference Materials Bibliographies (131) EDRS PRICE MF01/PC01 Plus Postage. DESCRIPTORS *Adolescent Literature; Annotated Bibliographies; *Childrens Literature; Elementary Secondary Education; *Fairy Tales; *Films; *Picture Books; Recreational Reading; Thematic Approach IDENTIFIERS *Cinderella; *Cinderella Myth; Universality ABSTRACT This annotated bibliography considers diverse versions of Cinderella, including books for all ages and reading abilities and film versions. The bibliography is organized into four categories: picture books, books for youths, books for adults with a Cinderella theme, and Cinderella films. Noting that Cinderella is one of the few stories with many different versions and that almost every country in the world has a version of Cinderella, the bibliography points out that cross-cultural comparisons are not difficult for such a well-known story. The bibliography contains 38 annotations for picture books, 6 annotations of books for young readers, 2 annotations for adult books with a Cinderella theme, and 3 Cinderella videos. (NKA) Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. Bibliography of Cinderella Stories & Films. by Marisol Rodriguez-Price U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION Office of Educational Research and Improvement ST COPY AVAILABLE PERMISSION TO REPRODUCE AND EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION DISSEMINATE THIS MATERIAL HAS CENTER (ERIC) BEEN GRANTED BY Ell This document has been reproducedas received from the person or organization originating it. PeLcrt9Ct¢ 2 Minor changes have been made to Pr improve reproduction quality. 2 ° Points of view or opinions stated in this TO THE EDUCATIONAL RESOURCES document do not necessarily represent INFORMATION CENTER (ERIC) official OERI position or policy. -

A Cinderella Story (Grade 2)
A Cinderella Story (Grade 2) Summary 2nd grade Students will be integrating social studies cultural awareness with cultural stories of Cinderella. Students will listen to the Charles Perrault version of Cinderella and identify the main characters, plot and conflict. They will read another version and identify similarities and differences of the two stories. They will create Venn diagrams to look at similarities and differences of their own school cultures and then use Venn diagrams to look at similarities and differences of Cinderella stories. With this information, they will create their own Cinderella story. Main Core Tie Elementary Library Media (K-5) Strand 2 Standard 3 Additional Core Ties English Language Arts Grade 2 Reading: Literature Standard 2 Social Studies - 2nd Grade Standard 1 Objective 1 Social Studies - 2nd Grade Standard 1 Objective 2 Time Frame 6 class periods of 30 minutes each Materials Cinderella books Large chart paper Projector (to show books) Markers Worksheet to get family information from home Background for Teachers Resources for Cinderella Stories Student Prior Knowledge Students will need to know key terms: character, plot, conflict Students will need to know about their family history (origin, traditions, language, family structure) Students will need to know key terms: compare and contrast Intended Learning Outcomes Students will identify cultures that are in their class. Students will compare and contrast how those cultures are the same and different from their own family and home. Identify language, food, and traditions that are the same or different. Students will use a graphic organizer to identify similar cultural characteristics. Students will identify the key elements of a Cinderella story (characters, plot, conflict). -

Short Operas for Educational Settings: a Production Guide
SHORT OPERAS FOR EDUCATIONAL SETTINGS A PRODUCTION GUIDE by Jacquelyn Mouritsen Abbott Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music Indiana University May 2020 Accepted by the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music Doctoral Committee Patricia Stiles, Research Director and Chair Gary Arvin Jane Dutton Dale McFadden 10 April 2020 ii Copyright ⃝c 2020 Jacquelyn Mouritsen Abbott iii To my dearest love, Marc – my duet partner in life and in song iv Acknowledgements I am deeply grateful to my research director Patricia Stiles, for her devoted teaching, help, care, and guidance. I have learned so much from you throughout the years and am profoundly grateful for your kindness and your mentorship. I am deeply indebted to Dale McFadden, Gary Arvin, and Jane Dutton—it was a great honor to have you on my committee. I offer sincerest thanks to all of the composers and librettists who sent me scores, librettos, or recordings and who answered my questions and allowed me to use musical examples from their works. These exceptional artists include Dan Shore, Michael Ching, Leanna Kirchoff, Harry Dunstan, Kay Krekow, Milton Granger, Thomas Albert, Bruce Trinkley, John Morrison, Evan Mack, Errollyn Wallen, and Paul Salerni. I also owe a special thank you to ECS publishing for allowing me to use musical examples from Robert Ward’s Roman Fever. Thanks to Pauline Viardot, Jacques Offenbach, and Umberto Giordano for inspiring the musical world for the past 150-plus years.