Filosofia E Historia No Pensamento De Eric Weil Judikael Castelo Branco
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

De Por Qué En La Filosofía Importan Los Ejemplos*
________________________________________________________________________________ ARETÉ Revista de Filosofía Vol. XVIII, N° 1, 2006 Vicente Santuc: El topo en su laberinto. Introducción a un filosofar posible hoy, Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2005, 510 pp. This is a book intended for teaching philosophy and, at the same time, defending both philosophical discourse and reasonable action. With- out pretending to build a system of true knowledge, philosophy continues its work like ‘the mole in its labyrinth,’ presented by Nietzsche in his pro- logue to Aurora, trying to find its way under the surface. In an attentive dialogue with Eric Weil, which extends throughout the book, Santuc shows that the philosophical effort towards meaning, intelligibility, coherence, and dialogue is not primarily opposed to ignorance and error, but to violence. Thus he presents a practical philosophical effort that turns the moral im- perative of universal and equal respect towards human beings into an im- perative of intellectual honesty, which forces us both to study history in all its harshness and to put the philosophical tradition into use. The book arises from the author’s college lectures. This fact is re- flected in its style, its present-time examples, and the occasional references made to events occurring in Peru. Therefore, the book is also a testimony of the practical and the intellectual commitments that Santuc has assumed in this country. In the introductory chapter, which concerns the nature of philosophy, he examines the problem of knowledge. Plato’s dialectics and Aristotle’s logic are studied, with a special focus on the various meanings of the word ‘truth.’ Where the frank and explicit ancient metaphysics ends – metaphys- ics which is, for this same reason, a fertile ground for criticism – a time filled with diverse worlds that claim to have no overall theories but rest on massive assumptions begins. -

Condition of Creativity
Scientific Board: Prof. Leonardo Amoroso (Università di Pisa), Prof. Christian Benne (University of Copenhagen), Prof. Andrew Benjamin (Monash University, Melbourne), Prof. Fabio Camilletti (Warwick University), Prof. Luca Crescenzi (Università di Pisa), Prof. Paul Crowther (NUI Galway), Prof. William Marx (Université Paris Ouest Nanterre), Prof. Alexander Nehamas (Princeton University), Prof. Antonio Prete (Università di Siena), Prof. David Roochnik (Boston University), Prof. Antonietta Sanna (Università di Pisa), Prof. Claus Zittel (Stuttgart Universität) Executive Board Matteo Bensi, Danilo Manca (coordinator), Lorenzo Serini, Valentina Serio, Marta Vero Review Board: Alessandra Aloisi, Ester Fuoco, Annamaria Lossi, Nikos Loukidelis, Cathrin Nielsen, Francesco Rossi ODRADEK. Studies in Philosophy of Literature, Aesthetics and New Media Theories. ISSN 2465-1060 [online] Edited by Associazione “Zetesis-Progetto di studi e Dialoghi Filosofici”, via Paoli, 15 - 56126 Pisa. Registered by Agenzia delle Entrate di Pisa, n. 3705, serie III, 23.10.2014 License Creative Commons Odradek. Studies in Philosophy of Literature, Aesthetics and New Media Theories di Zetesis is licensed under a Creative Commons attribution, non-commercial 4.0 International. Further authorization out of this license terms may be available at http://zetesisproject. com or writing to: [email protected]. Layout editor: Stella Ammaturo Volume Editors: Alessandra Aloisi, Danilo Manca Introduction Alessandra Aloisi and Danilo Manca 1. When in Book Ten of the Republic Plato proscribes poetry from the city and refers to a long- standing quarrel between poetry and philosophy, he raises an issue that has since made its mark on the history of Western thought. The aim of this volume is to delve deeper into the original meaning of this quarrel, to evaluate the implications it has had for the Western way of thinking and writing, and to explore the different forms the quarrel has assumed, between poetry and philosophy, between literature and philosophy. -

Uma Hermenêutica Do Mal Na Lógica Da Filosofia De Eric Weil Griot: Revista De Filosofia, Vol
Griot: Revista de Filosofia ISSN: 2178-1036 [email protected] Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Brasil Benevides Soares, Daniel Uma hermenêutica do mal na lógica da filosofia de Eric Weil Griot: Revista de Filosofia, vol. 12, núm. 2, 2015, pp. 174-185 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Brasil DOI: https://doi.org/10.31977/grirfi.v12i2.662 Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=576664591011 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Redalyc Mais informações do artigo Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal Site da revista em redalyc.org Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa acesso aberto Griot : Revista de Filosofia v.12, n.2,dezembro/2015 ISSN 2178-1036 DOI: https://doi.org/10.31977/grirfi.v12i2.662 Artigo recebido em 19/09/2015 Aprovado em 21/10/2015 UMA HERMENÊUTICA DO MAL NA LÓGICA DA FILOSOFIA DE ERIC WEIL Daniel Benevides Soares1 Universidade Federal do Ceará (UFC) https://orcid.org/0000-0001-7275-9217 RESUMO: Entendendo a violência como a negação do sentido e da razão, bem como a recusa daquilo que compõe a essência do mundo do homem que vive em uma determinada atitude, nosso objetivo no presente trabalho é analisar esse conceito na Lógica da Filosofia de Eric Weil, que apresenta o conjunto dos discursos filosóficos no seu itinerário na forma de categorias, nos detendo naquelas nas quais a violência aparece na forma de mal. Tenciona-se tratar do mal na sua especificidade conforme ele é apresentado pelo autor nas categorias selecionadas, constituindo assim um panorama segundo as variadas possibilidades discursivas. -

Aristotle on Arguments Without Winners Or Losers*
31 Jacques Brunschwig Aristotle on Arguments without Winners or Losers* Die Topik des Aristoteles wird häufig als ein Lehrbuch der dialektischen Methode verstanden; dank ihrer Hilfe, so mag sich mancher Leser erhoffen, wird er, unabhängig vom Gegenstand, aus allen Diskussionen als Sieger hervorgehen. Die- ses Bild ist in verschiedener Hinsicht zu korrigieren: 1) die Gruppe von Problemen, die Aristoteles für dialektisch diskutierbar hält, ist durch eine Anzahl von Punkten eingeschränkt; 2) die dialektische Debatte, so wie er sie versteht, folgt strikten Regeln, von denen die wichtigste die Rollenteilung in Fragenden und Antwortenden ist. So bestimmt, stellt sich die dialektische Debatte grundsätzlich als eine akade- mische Übung dar, jenseits aller Leidenschaften und Aggressionen. Ein Vergleich mit der sokratischen Praxis des Dialogs erlaubt es, die Beschreibung der von Aristo- teles unternommenen Bemühung um die Entdramatisierung der Dialektik zu ver- deutlichen. Eine kursive Untersuchung des Buches VIII der Topikoffenbart schließ- lich die Sorgfalt, mit der Aristoteles, trotz der inhärenten Schwierigkeit seines Pro- jekts, versucht hat, die Dialektik von jeglicher »agonistischen« Dimension zu befreien und der dialektischen Debatte den Status einer Diskussion ohne Sieger und Besiegten zu verleihen. Duo, duellum, bellum, bis: la guerre, c'est ce qu'on fait quand on est deux. Charles Péguy. Aristotle's Topics have a mainly practical purpose: they aim at imparting to their reader a general ability to discuss any subject whatsoever, rather -

Download Issue
Center for Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy METAResearch in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy Vol. X, No. 1 / June 2018 “Al. I. Cuza” University Press META META META META META META META META META META META META Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy Vol. X, No. 1 / June 2018 META: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy Vol. X, No. 1 / June 2018 Editors Stefan Afloroaei, Prof. PhD., Al.I. Cuza University of Iasi, Romania Corneliu Bilba, Prof. PhD, Al.I. Cuza University of Iasi, Romania George Bondor, Prof. PhD, Al.I. Cuza University of Iasi, Romania Publisher Alexandru Ioan Cuza University Press, Iasi, Romania Str. Pinului nr. 1A, cod 700109, Iasi, Romania Tel.: (+) 40 232 314947; Fax: (+) 40 232 314947 Email: [email protected]; Web: www.editura.uaic.ro Contact person: Dana Lungu Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy is an online, open access journal. Edited by the Center for Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, Department of Philosophy and Social and Political Sciences, Al.I. Cuza University of Iasi, Romania. Frequency 2 issues per year, published: June 15 and December 15 Contact Center for Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy Department of Philosophy Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Bd. Carol I, no. 11 700506, Iasi, Romania Tel.: (+) 40 232 201284; Fax: (+) 40 232 201154 Email: editors[at]metajournal.org Contact person: Dr. Cristian Moisuc ISSN (online): 2067 – 3655 2 META: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy Editorial Board Valeriu Gherghel, Assoc. Prof. PhD, Al.I. Cuza University of Iasi, Romania Florina Hariga, Researcher PhD, Al.I. -

Eric Weil: a Democracia Em Um Mundo De Tensões - Judikael Castelo Branco ISSN:1984-4247 E-ISSN:1984-4255 Judikael Castelo Branco*
Eric Weil: a democracia em um mundo de tensões - Judikael Castelo Branco ISSN:1984-4247 e-ISSN:1984-4255 Judikael Castelo Branco* A de Filosofia Revista Eric Weil: a democracia em um mundo de tensões TRADUÇÃO Eric Weil: democracy in a world of tensions Apresentação do texto pelo tradutor “Qual deve ser a nossa atitude quando uma democracia for ameaçada por meios democráticos?” Essa pergunta se encontra no texto Democracy in a World of tensions, cuja tradução apresentamos, e é um exemplo inequívoco das preocu- pação de Eric Weil: as tensões às quais a democracia está exposta.1 Com efeito, a democracia se faz na história sempre no espaço aberto entre duas formas funda- mentais de tensão: por um lado, aquela externa, pois os seus postulados – e o autor insiste fortemente sobre isso – são universais, e, por outro, uma tensão in- terna, própria da ininterrupta avaliação dos próprios valores e das condições para a livre discussão. O texto, publicado originalmente em 1951, é a participação de Weil no vo- lume organizado por Richard McKeon, para a Unesco, e que contou ainda com contribuições de C. I. Lewis, Emmanuel Mounier e Umberto Padovani. Se a espe- cificidade do contexto pode colocar a suspeita não apenas de se tratar de um es- crito de ocasião, mas também do risco de inatualidade, a pergunta que escolhemos como título desta apresentação não deixa dúvida sobre candência das palavras de Weil, passados quase 70 anos da sua publicação. O argumento weiliano nos ajuda a refletir sobre o que pensar e o que fazer quando a democracia for atacada por discursos que – pretensamente – se apoiam em princípios democráticos, isto é, quando, numa democracia, se apela por ações e intervenções de toda espécie, inclusive violentas e antidemocráticas. -
![Cultura, Vol. 31 | 2013, « a Retomada Na Filosofa De Eric Weil » [Online], Posto Online No Dia 20 Janeiro 2015, Consultado a 28 Setembro 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/5225/cultura-vol-31-2013-%C2%AB-a-retomada-na-filosofa-de-eric-weil-%C2%BB-online-posto-online-no-dia-20-janeiro-2015-consultado-a-28-setembro-2020-4875225.webp)
Cultura, Vol. 31 | 2013, « a Retomada Na Filosofa De Eric Weil » [Online], Posto Online No Dia 20 Janeiro 2015, Consultado a 28 Setembro 2020
Cultura Revista de História e Teoria das Ideias Vol. 31 | 2013 A Retomada na Filosofia de Eric Weil Luís Manuel A. V. Bernardo, Patrice Canivez e Evanildo Costeski (dir.) Edição electrónica URL: http://journals.openedition.org/cultura/1753 DOI: 10.4000/cultura.1753 ISSN: 2183-2021 Editora Centro de História da Cultura Edição impressa Data de publição: 1 dezembro 2013 ISSN: 0870-4546 Refêrencia eletrónica Luís Manuel A. V. Bernardo, Patrice Canivez e Evanildo Costeski (dir.), Cultura, Vol. 31 | 2013, « A Retomada na Filosofia de Eric Weil » [Online], posto online no dia 20 janeiro 2015, consultado a 28 setembro 2020. URL : http://journals.openedition.org/cultura/1753 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ cultura.1753 Este documento foi criado de forma automática no dia 28 setembro 2020. © CHAM — Centro de Humanidades / Centre for the Humanities 1 SUMÁRIO Introdução Luís Manuel A. V. Bernardo Introduction Luís Manuel A. V. Bernardo A Retomada na Filosofia de Eric Weil La notion de reprise et ses applications Patrice Canivez « Le début est dans la reprise » Gilbert Kirscher La reprise, Kant, Marx Jean Quillien La confrontation des trois premières catégories de la Logique de la philosophie d´Eric Weil avec la dialectique hégélienne Michel Renaud Reprises weiliennes et reprises dialectiques André Stanguennec Da Discussão ao Objeto Platão retoma Sócrates? Marcelo Perine Filosofia, retomada e sentido Daniel da Fonseca Lins Júnior Retomada e Sentido a base da relação entre filosofia e história da filosofia na Logique de la Philosophie de Eric Weil -

Religião E Política Em Eric Weil: Democracia, Tolerância E Diálogo Em Tempos De Remitologização Da Política
ISSN 1984-8234 Unisinos Journal of Philosophy Filosofia Unisinos Unisinos Journal of Philosophy 22(2): 1-15, 2021 | e22204 Unisinos – doi: 10.4013/fsu.2021.222.04 Religião e política em Eric Weil: democracia, tolerância e diálogo em tempos de remitologização da política Religion and policy in Eric Weil: democracy, tolerance and dialogue in times of political remythologization Judikael Castelo Branco https://orcid.org/0000-0002-4551-2531 Universidade Federal do Tocantins, Curso de Licenciatura e Programa de Mestrado Profissional em Filosofia, Pal- mas, TO, Brasil. Email: [email protected]. RESUMO O artigo propõe, a partir da obra de Eric Weil, a retomada do diálogo como registro político funda- mental da linguagem em comunidades plurirreligiosas e multiculturais como a resposta do filósofo aos desafios postos pela intolerância religiosa que caracteriza o atual processo de remitologização da política. Para tanto, o texto se prende aos escritos em que o autor trata diretamente do tema da relação entre religião e política. A abordagem dessa relação centrada na tolerância e no diálogo em comuni- dades democráticas se justifica por oferecer uma chave para o nexo entre os textos estudados aqui e a arquitetônica do sistema weiliano: o enfrentamento da violência. A reflexão se estrutura em quatro momentos. Primeiro, toma as considerações de Weil sobre a secularização, depois passa ao tratamento da religião como problema político e à necessidade da elaboração de uma teoria da tolerância em co- munidades multiculturais e plurirreligiosas. Posteriormente, considera o problema no contexto peculiar da atual “remitologização” dos discursos políticos e os riscos que se erguem à democracia. Por fim, chega à proposta weiliana do diálogo não apenas como condição de possibilidade da tolerância, mas acima de tudo como virtude política no sentido forte do termo. -

Association of Team-Based Primary Care with Health Care Utilization and Costs Among Chronically Ill Patients
Research JAMA Internal Medicine | Original Investigation Association of Team-Based Primary Care With Health Care Utilization and Costs Among Chronically Ill Patients David J. Meyers, MPH; Alyna T. Chien, MD, MS; Kevin H. Nguyen, MS; Zhonghe Li, MS; Sara J. Singer, MBA, PhD; Meredith B. Rosenthal, PhD Invited Commentary page 61 IMPORTANCE Empirical study findings to date are mixed on the association between Supplemental content team-based primary care initiatives and health care use and costs for Medicaid and commercially insured patients, especially those with multiple chronic conditions. OBJECTIVE To evaluate the association of establishing team-based primary care with patient health care use and costs. DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS We used difference-in-differences to compare preutilization and postutilization rates between intervention and comparison practices with inverse probability weighting to balance observable differences. We fit a linear model using generalized estimating equations to adjust for clustering at 18 academically affiliated primary care practices in the Boston, Massachusetts, area between 2011 and 2015. The study included 83 953 patients accounting for 138 113 patient-years across 18 intervention practices and 238 455 patients accounting for 401 573 patient-years across 76 comparison practices. Data were analyzed between April and August 2018. EXPOSURES Practices participated in a 4-year learning collaborative that created and supported team-based primary care. MAIN OUTCOMES AND MEASURES Outpatient visits, hospitalizations, emergency department visits, ambulatory care–sensitive hospitalizations, ambulatory care–sensitive emergency department visits, and total costs of care. RESULTS Of 322 408 participants, 176 259 (54.7%) were female; 64 030 (19.9%) were younger than 18 years and 258 378 (80.1%) were age 19 to 64 years. -
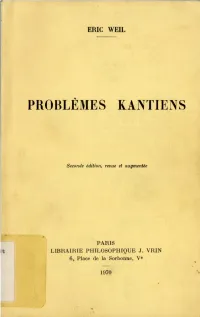
Problèmes Kantiens
ERIC WEIL PROBLÈMES KANTIENS S econde édition, revue el augmentée PARI t LIBRAIRIE PHILO OPHIQUE J. VRIN 6, Place de la Sorbonne, ve 1970 ERIC WEIL PROBLÈMES K .(~NTIENS Seconde éd il io n, rev ue el augmentée PARI LIBRAIRIE PHILO OPHIQUE J. VRIN 6, P la d la orbonn , ve 1970 14 PROBLÈMES KANTIENS PENSER ET CONNAÎTRE, LA FOI ET LA CHOSE·EN·SOI 15 dont la mauvaise compréhension a produit toutes les erreur les deux écoles, puisque leurs erreurs, si erreur il y a, objections faites jusqu'ici » (2). ne sont pas, du propre aveu de Kant, entièrement de leur Les formules de la Préface à la seconde édition doivent faute. Il faudra donc exposer ce qui est la pensée de Kant; donc être prises au sérieux, et il y a lieu de se demander en ou plutôt, puisqu'ji est impossible d'exprimer plus briève quoi consistaient aux yeux de Kant ces malentendus qu'il ment que l'auteur la pensée d'un vrai philosophe (sans croyait devoir éliminer au prix d'un effort qu'il n'a fourni quoi il ne serait pas un vrai philosophe), il faudra enlever qu'à cette occasion, car, en ce qui concerne presque toutes les sédimentations qui obstruent l'accès à cette œuvre ses autres publications, il ne s'intéresse guère aux réédi difficile. tions. Il n'est pas difficile de désigner les auteurs et l'occasion qui ont déterminé Kant. L'article de 1786, Que signifie: s'orienter dans la pensée?, et la note consacrée aux Morgen Une comparaison, même rapide, des deux éditions de la stunden de Mendelssohn l'indiquent clairement : entre le Critique de la Raison Pure montre où Kant situe les wolffianisme mendelssohnien et la philosophie de la foi de malentendus dont il se plaint. -

3 Nonviolence As a Philosophical Imperative
THE PRINCIPLE OF NONVIOLENCE A Philosophical Path Jean-Marie Muller Foreword by Glenn D. Paige Center for Global Nonkilling Honolulu May 2014 © Jean-Marie Muller, 2014 © Center for Global Nonkilling, 2014 (this edition) Translated by Rebecca James and Mike James, 2014. Edited by Iolanda Mato Creo and Joám Evans Pim. Cover design: In the circle of the universe, creative transformational initiatives (blue), drawing upon nonkilling human capabilities (white), work to end human killing (red). First Edition: May 2014 ISBN-13 978-0-9839862-8-7 ______________________________________________________ Cataloging in Publication Data (CIP) The Principle of Nonviolence : A Philosophical Path / Jean-Marie Muller. ISBN 978-0-9839862-8-7 1. Nonviolence 2. Philosophy. 3. Nonkilling. I. Title. II. Muller, Jean-Marie. CDU - 172.4: 327.36 ______________________________________________________ A catalogue record is also available from the Library of Congress. Also available for free download at: http://www.nonkilling.org Center for Global Nonkilling 3653 Tantalus Drive Honolulu, Hawaiʻi 96822-5033 United States of America Email: [email protected] http://www.nonkilling.org Ils ont bonne mine, les non-violents! Nonviolent people certainly look well! Jean-Paul Sartre La non-violence est le point de départ comme le but final de la philosophie. Nonviolence is philosophy’s starting point, as well as its final goal. Eric Weil S'efforcer de devenir tel qu'on puisse être non-violent. To strive to become such that we may be nonviolent. Simone Weil I believe that true democracy can only be an outcome of nonviolence. Mahatma Gandhi Le vrai problème pour nous autres Occidentaux, ne consiste plus tant à récuser la violence qu'à nous interroger sur une lutte contre la violence qui - sans s'étioler dans la non-résistance au Mal - puisse éviter l'insti- tution de la violence à partir de cette lutte même. -

A Topical Bibliography of Scholarship on Aristotle's Nicomachean Ethics
JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH VOLUME 30, 2005 A TOPICAL BIBLIOGRAPHY OF SCHOLARSHIP ON ARISTOTLE’S NICOMACHEAN ETHICS: 1880 TO 2004 THORNTON C. LOCKWOOD, JR. Sacred Heart University INTRODUCTION S cholarship on Aristotle’s NICOMACHEAN ETHICS (hereafter “the Eth- ics”) fl ourishes in an almost unprecedented fashion. In the last ten years, universities in North America have produced on average over ten doctoral dissertations a year that discuss the practical philosophy that Aristotle espouses in his Nicomachean Ethics, Eudemian Ethics, and Politics. Since the beginning of the millennium there have been three new translations of the entire Ethics into English alone, several more that translate parts of the work into English and other modern languages, and half a dozen collections of new articles discussing Aristotle’s Ethics. Such an outpouring of scholarship has produced an almost unmanageable wave of books, articles, and reviews. Through my topical bibliography, I seek to organize this wealth of scholarly writing so as to make it manageable both to scholars working across the disciplines of philosophy, classics, history, and politics, and to scholars pursuing theses on specifi c topics within the Ethics. The bibliography takes as its model and is much indebted to that compiled by Barnes, Schofi eld, and Sorabji in their Articles on Aristotle, Volume 2: Ethics and Politics (1977), which was further updated and incorporated into the complete bibliography to all of Aristotle’s writings in Barnes’s Cambridge Companion to Aristotle (1995). Although I have taken guidance from their model, my bibliog- raphy differs in one main respect. Whereas Barnes et al.