Alberto Kenji Yamabuchi 2009 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
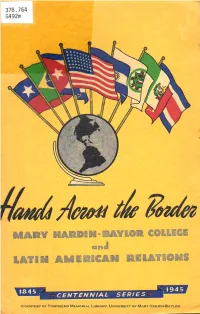
I. VI &.M R~CAII R U.'Irb
378.764 G492m L'.!JARV II R ; ·iiAYLO. Oif.IGI and I. VI &.M R~CAII R U.'irB Courtesy of Townsend Memorial Library, University of Mary Hardin-Baylor M ary H ardz"n ... B aylor C ollege B EL TON. TEXAS and Latz"n A1nerzcan Relattons • Gf summary of rbe concributions made by Mary Hardin-Baylor College in the field of Latin American Relations, with emphasis upon the service of graduates and former students who have been giving reality to "Good Neighbor" ideals since 1881. " A Man that hath friends must show himself friendly." Proverbs 18:2 4 Compiled by Dorothea Lohoff Gingrich ,... 1944 lOWNSEND MEMORIAL UBRARY INMi:RSJTY OF MARY HARDIN-BAYLOR Courtesy of TownsendSPECIAL Memorial Library, COLLECTIONS University of Mary Hardin-Baylor G ood N ezghbors In the past few years enough books and pamphlets h ave been written and p ublished on the subject of Latin American and Inter American relations to fill a good-sized library. There has been tremendous emphasis placed upon something c:tlled a " Good Neighbor'' policy. and the study of the native languages of these Latin American neighbors bas become extremely popular. The premise that the present conflict alone is responsible for greater interest in our neighbors is unfai r. for a good neighbor policy bas been pursued for many years by various N orth American groups, including Mary Hardin-Baylor College. although such poli cy has been unaccompanied by the fan-fare of our present-day attemplS at making friends. Actually the Pan America n Union itself is now fifty-four years old. -

Mary Jones: Last First Lady of the Republic of Texas
MARY JONES: LAST FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF TEXAS Birney Mark Fish, B.A., M.Div. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF NORTH TEXAS December 2011 APPROVED: Elizabeth Hayes Turner, Major Professor Richard B. McCaslin, Committee Member and Chair of the Department of History D. Harland Hagler, Committee Member Denis Paz, Committee Member Sandra L. Spencer, Committee Member and Director of the Women’s Studies Program James D. Meernik, Acting Dean of the Toulouse Graduate School Fish, Birney Mark. Mary Jones: Last First Lady of the Republic of Texas. Doctor of Philosophy (History), December 2011, 275 pp., 3 tables, 2 illustrations, bibliography, 327 titles. This dissertation uses archival and interpretive methods to examine the life and contributions of Mary Smith McCrory Jones in Texas. Specifically, this project investigates the ways in which Mary Jones emerged into the public sphere, utilized myth and memory, and managed her life as a widow. Each of these larger areas is examined in relation to historiographicaly accepted patterns and in the larger context of women in Texas, the South, and the nation during this period. Mary Jones, 1819-1907, experienced many of the key early periods in Anglo Texas history. The research traces her family’s immigration to Austin’s Colony and their early years under Mexican sovereignty. The Texas Revolution resulted in her move to Houston and her first brief marriage. Following the death of her husband she met and married Anson Jones, a physician who served in public posts throughout the period of the Texas Republic. Over time Anson was politically and personally rejected to the point that he committed suicide. -

Book Reviews
East Texas Historical Journal Volume 38 Issue 2 Article 12 10-2000 Book Reviews Follow this and additional works at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj Part of the United States History Commons Tell us how this article helped you. Recommended Citation (2000) "Book Reviews," East Texas Historical Journal: Vol. 38 : Iss. 2 , Article 12. Available at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj/vol38/iss2/12 This Book Review is brought to you for free and open access by the History at SFA ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in East Texas Historical Journal by an authorized editor of SFA ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. 78 EAST TEXAS HISTORICAL ASSOCIATION Tales ofthe Sabine Borderlands: Early Louisiana and Texas Fiction, Theodore Pavie. Edited with an introduction and notes by Be~le Black Klier (Texas A&M University Press, 4354 TAMUS, College Station, TX 77843-4354) 1998. Contents. Tllus. Acknowledgments. "The Myth of the Sabine." Index. P.IIO. $25.95. Hardcover. Theodore Pavie was eighteen years old and a full-blown, wide-eyed Romantic in 1829 when he sailed from France to Louisiana to visit his uncle on a pJantatlon near Natchitoches. While there, Pavie was adventurous enough to explore the wilderness road between Natchitoches and Nacogdoches, and he was completely entranced by the people of the frontier wilderness on both sides of the Sabine River. He absorbed the whole Borderland panorama, ran the experience through the filter of The Romantic Age, and produced a semi fictional travel book and several short stories. The short stories. these Tales of the Sabine Borderlands. -

ETHJ Vol-38 No-2
East Texas Historical Journal Volume 38 | Issue 2 Article 1 10-2000 ETHJ Vol-38 No-2 Follow this and additional works at: http://scholarworks.sfasu.edu/ethj Part of the United States History Commons Tell us how this article helped you. Recommended Citation (2000) "ETHJ Vol-38 No-2," East Texas Historical Journal: Vol. 38: Iss. 2, Article 1. Available at: http://scholarworks.sfasu.edu/ethj/vol38/iss2/1 This Full Issue is brought to you for free and open access by SFA ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in East Texas Historical Journal by an authorized administrator of SFA ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. VOLUME XXXVIII 2000 NUMBER 2 EAST TEXAS HISTORICALASSOCIATION 1999-2000 OFFICERS Donald Willett President Linda S. Hudson First Vice President Kenneth E. Hendrickson, Jr Second Vice President Portia L. Gordon Secretary·Treasurer DIRECTORS Clayton Brown Fort Worth 2000 Ty Cashion Huntsville 2000 JoAnn Stiles Beaumont 2000 Janet G. Brantley Fouke, AR 2001 Kenneth Durham Longview 200I Theresa McGinley Houston 2001 Willie Earl Tindall San'Augustine 2002 Donald Walker Lubbock 2002 Cary Wintz Houston 2002 James V. Reese Nacogdoches ex-President Patricia Kell Baytown ex-President EDITORIAL BOARD Valentine J. Belfiglio Garland Bob Bowman Lufldn Gama L. Christian Houston Ouida Dean Nacogdoches Patricia A. Gajda Tyler Robert W. Glover Aint Bobby H. Johnson Nacogdoches Patricia Kell BaylowD Max S. Lale Fort Worth Irvin M. May, Jr Bryan Chuck Parsons Luling Fred Tarpley Commerce Archie P. McDonald EXECUTIVE DIRECTOR AND EDITOR MEMBERSHIP INSTITUTIONAL MEMBERS pay $100 annually LIFE MEMBERS pay $300 or more BENEFACTOR pays $100, PATRON pays $50 annually STUDENT MEMBERS pay $12 annually FAMILY MEMBERS pay $35 annually REGULAR MEM:BERS pay $25 annually Journals $7.50 per copy P.O. -

Winnovative HTML to PDF Converter for .NET
ARCS homepage The Archival Spirit May 2011, no. 2 Newsletter of the Archivists of Religious Collections Section, Society of American Archivists Contents l Letter from the Chair--forthcoming l Candidates Proposed for ARCS Officers and Steering Committee l Baylor Honors Joan Riffey Sutton and Music in Missions Collection l Catholic Rural Life Collections at Marquette University l ARCS Officers and Editor's Notes From the Chair: forthcoming By Alan Lefever Candidates Proposed for ARCS Officers and Steering Committee By Gwynedd Cannan, Chair of Nominating Committee The 2011 ARCS elections will mark the second time online balloting is used. SAA will send out ballot information and ballots in July. Online voting will be accessible for two weeks. We will keep you alerted as events occur. Don’t forget to vote! The Section has two positions open for election this year: Vice-chair/Chair elect and Representative-at-Large. The Vice-Chair provides assistance to the Chair and in 2013 will assume the Chair. The Representative-at- Large is a member of the Steering Committee who advises the Chair and may be assigned special duties by the Chair. Both offices are two year terms. Read about both candidates below. For Co-Chair Colleen McFarland, Archivist, Mennonite Church USA, Goshen, Indiana Colleen McFarland is archivist at the Mennonite Church USA Archives in Goshen, Indiana. She has been active in both the Society of American Archivists and Midwest Archives Conference, serving as co-chair for the MAC 2010 Fall Symposium on user studies, a member of MAC’s Nominating Committee in 2009, and a member of SAA’s Lone Arrangers Round Table Steering Committee from 2008-2010. -

Baptist Missionary Society Founded
THE MOST POPULAR BIBLES EVER OFFERED ---rHE THE NEW LOW-PRICED PICTORIAL EDITIONS OF THE Southern Baptist Convention Holman Self 11 Pronouncing g.s. s. ceacb~rs' Bible. ALMANAC -FOR- 1899. Ed ited by LA ING BU RROWS, D.D. THE FoREtGN BOARD :-China, Italy, Brazil, Mexico, Africa, Japan. lltlOUCID FACIIMILI. OF aQUIIQl.018 1.DITtON, THE HoME BOARD :-Colored People, State Missions, General Work, Frontier Work, Cuba, The Sunday School In Minion .and Bourgeois type. Embellished with eighty beautiful full Board, and General Denomi- page photo-views of Bible lands, distributed throughout the text. national Information. The Only Pictorial Teachers' Bibles Published. TH£ PICTURES WERE MADE FROM NEWLY TAKEN PH9T08RAPHS, EACH PICTURE IS AOCOMPAN/£D BY A CLEAR AHO CONCISE DESCRIPTION. !IARMONIZING 1;; TOPIC' \\'ITII ~II '!OX CAHD OF \\'01IAN' Attention Is also directed to our general lines of teachers' Bibles and Testaments--over three hundred styles-and to 111SSJONARY "JON. our standard editions of FAMILY and PULPIT BIBLES In ENC· LISH, GERMAN, DANISH, SWEDISH, NORWEGIAN , and FINNISH. PRICE , 10 CENTS SINGLE COPY ; $1.00 PER OOZEN . Illustrated catalogue sent on application. A. J. HOLMAN & CO., No. 1222 Arch St., Philadelphia, Pa. PUBL.ISHED BY THE S U NDAY SCHOOL B OA.RD, NASHVIL.L.E, TENNESSEE. PLANETS BRIGHTEST OR BEST SEEN, 189i). THE YEAR OF OUR LORD, 1899. Mercur;r, ,Januar.v 11, before sunrise; ?\[arch 24, after sunset; May 10, be fore sunru,e; July 22, after sunset; September 5, before i-;un1•i;,e; November 16, after sunset; and December 25, before sunrise. The Jewish year 5660 begins September l. -

Baptist History the Journal of the Texas Baptist Historical Society
TEXASTEXASBAPTIST HISTORY THE JOURNAL OF THE TEXAS BAPTIST HISTORICAL SOCIETY VOLUMES XXX - XXXI 2010 - 2011 TBH EDITORIAL STAFF Michael E. Williams, Sr. Editor Wanda Allen Design Editor Mary Nelson Copy Editor David Stricklin Book Review Editor EDITORIAL BOARD Michael Dain Lubbock Marshall Johnston Port Aransas Kelly Pigott Abilene Naomi Taplin Dallas EDITORIAL ADVISORY BOARD 2010-2011 Hunter Baker Houston Baptist University Jerry Hopkins East Texas Baptist University David Maltsberger Baptist University of the Americas Estelle Owens Wayland Baptist University Rody Roldan-Figuero Baylor University TEXAS BAPTIST HISTORY is published by the Texas Baptist Historical Society, an auxiliary of the Historical Council of the Texas Baptist Historical Collection of the Baptist General Convention of Texas, and is sent to all members of the Society. Regular annual membership dues in the Society are ten dollars. Student memberships are seven dollars and family memberships are thirteen dollars. Correspondence concerning memberships should be addressed to the Secretary-Treasurer, 333 North Washington, Dallas, Texas, 75246-1798. Notice of nonreceipt of an issue must be sent to the Society within three months of the date of publication of the issue. The Society is not responsible for copies lost because of failure to report a change of address. Article typescripts should be sent to Editor, Texas Baptist History, 3000 Mountain Creek Parkway, Dallas, Texas, 75211. Books for review should be sent to Texas Baptist History, Dallas Baptist University. The views expressed in the journal do not necessarily represent those of the Texas Baptist Historical Society, the Historical Council, the Texas Baptist Historical Collection, or the Baptist General Convention of Texas. -

Hidden Work: Baptist Women in Texas 1880-1920
1 Hidden Work: Baptist Women in Texas 1880-1920 By: Patricia Martin Online: <https://legacy.cnx.org/content/col11572/1.7> This selection and arrangement of content as a collection is copyrighted by Patricia Martin. Creative Commons Attribution License 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Collection structure revised: 2019/11/08 PDF Generated: 2019/11/08 11:11:32 For copyright and attribution information for the modules contained in this collection, see the "Attributions" section at the end of the collection. 2 This OpenStax book is available for free at https://legacy.cnx.org/content/col11572/1.7 Table of Contents Preface . 1 Chapter 1: Introduction and Chapter Topics . 3 1.1 . 3 Chapter 2: From Submission to Freedom: Ideology Informing Baptist Women's Role . 11 2.1 From Submission to Freedom: Ideology Informing Baptist Women's Role . 11 2.2 Creation and the Fall . 15 2.3 Jewish law and tradition . 19 2.4 The life and teaching of Jesus . 21 2.5 The literature of the early church . 26 2.6 Conclusion . 33 Chapter 3: Sending the Light: The Organizing of Texas Baptist Women . 35 3.1 Sending the Light: The Organizing of Texas Baptist Women . 35 3.2 Women's activities prior to 1880 . 44 3.3 The administration of Fannie B: Davis, 1880-95 . 48 3.4 The administration of Lou B: Williams, 1895-1906: . 54 3.5 The administration of Mary Hill Davis, 1906-20 . 58 Chapter 4: Other Aspects of Religious Life . 65 4.1 Introduction . 65 4.2 Local Church . -

Baptist History the Journal of the Texas Baptist Historical Society
TEXASTEXASBAPTIST HISTORY THE JOURNAL OF THE TEXAS BAPTIST HISTORICAL SOCIETY VOLUMES XXIV-XXVI 2004-2006 EDITORIAL STAFF Michael E. Williams, Sr. Editor Wanda Allen Design Editor Deborah McCollister Copy Editor David Stricklin Book Review Editor EDITORIAL ADVISORY BOARD 2004-2006 Ellen Brown Waco Andrew Hogue Waco Amy Irvin Arlington Marshall Johnston Port Aransas Estelle Owens Plainview Jerry Summers Marshall TEXAS BAPTIST HISTORY is published by the Texas Baptist Historical Society, an auxiliary of the Historical Council of the Texas Baptist Historical Collection of the Baptist General Convention of Texas, and is sent to all members of the Society. Regular annual membership dues in the Society are ten dollars. Student memberships are seven dollars and family memberships are thirteen dollars. Correspondence concerning memberships should be addressed to the Secretary-Treasurer, 333 North Washington, Dallas, Texas, 75246-1798. Notice of nonreceipt of an issue must be sent to the Society within three months of the date of publication of the issue. The Society is not responsible for copies lost because of failure to report a change of address. Article typescripts should be sent to Editor, Texas Baptist History, 3000 Mountain Creek Parkway, Dallas, Texas 75211. Books for review should be sent to Texas Baptist History, Dallas Baptist University. The views expressed in the journal do not necessarily represent those of the Texas Baptist Historical Society, the Historical Council, the Texas Baptist Historical Collection, or the Baptist General Convention of Texas. US ISSN 0732-43274 ©2009 Texas Baptist Historical Society CONTENTS Volume XXIV, 2004 EDITOR’S NOTES. i Michael E. Williams PREACHING THE GOSPEL IN A WORLD MADE SAFE FOR DEMOCRACY: GEORGE TRUETT, RELIGIOUS LIBERTY, AND THE AMERICAN EXPEDITIONARY FORCE . -

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS Programa De Pós-Graduação Em História
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS Programa de Pós-Graduação em História Natan Alves David “Somos Enviados ao Mundo” A Juventude Protestante em emergências de novos contextos: Religião, Pós-Guerra e Virtualidades Heréticas. (1945-1960) Florianópolis 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS Programa de Pós-Graduação em História Natan Alves David “Somos Enviados ao Mundo”: A Juventude Protestante em emergências de novos contextos: Religião, Pós-Guerra e Virtualidades Heréticas. (1945-1960). Dissertação apresentada para obtenção do título de Mestre em História Cultural, ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Orientador: Prof. Dr. Rogério Luiz de Souza Florianópolis 2017 A Ruth Meier S. Alves, minha amada esposa. AGRADECIMENTOS A vida se faz enquanto ela própria se vai. É instigante pensar em como a vida se constitui enquanto uma fluidez de eventos, sentimentos, aprendizados e passagens. Enquanto esta fluidez permeia os mais recônditos espaços da existência, uma força pode atuar de uma de forma assombrosamente silenciosa: O tempo esvai-se de si cotidianamente em uma fração singular e aparentemente invisível, dando-nos a vida, ao mesmo segundo que a tira. Ele é quem nos dá, segundo após segundo, o privilégio de sentir a vida passando ante a nossos olhos, constituindo-se como o motor de nossa existência, em que frequente ao seu curso, a vida se vai e de si se esvai. De uma forma talvez cruel, o tempo qualifica a experiência: O que era ontem, já não será o hoje; o segundo retirado da nossa existência há pouco, jamais se repetirá; o agora se configura como uma instância volátil, que evapora em um fragmento quase imperceptível. -

THE GROWTH of BRAZILIAN BAPTIST CHURCHES in METROPOLITAN Sao PAULO: 1981- 1990
THE GROWTH OF BRAZILIAN BAPTIST CHURCHES IN METROPOLITAN sAo PAULO: 1981- 1990 by Donald Edward Price submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Theology in the subject MISSIOLOGY atthe University of South Africa SUPERVISOR: PROF WA SAA YMAN JOINT SUPERVISOR: DR B H BURNS NOVEMBER, 1998 University of South Africa Abstract THE GROWTH OF BRAZILIAN BAPTIST CHURCHES IN METROPOLITAN sAo PAULO: 1981-1990 by Donald Edward Price Chairperson of the Supervisory Committee:Professor Willam A. Saayman Department of Missiology This work endeavors to analyze the growth of Brazilian Baptists in metropolitan Sao Paulo between the last two official censes. Protestants have been accused of not adapting to Brazilian culture, of organizing "mini convents," rather than life and society-transforming communities, of having their roots so deeply embedded in their rural past that they are maladjusted to Brazilian urban life. Is this so? Has the result of over one hundred years of missionary effort been the production of a carbuncle within the Brazilian social fabric, a foreign body that must be rejected - as it rejects its host? Chapter two traces the history of Brazil, and of the insertion of Missionary Protestantism into the Brazilian social fabric. Special emphasis is given to the growth and development of the Brazilian Baptist Convention, especially in the State of Sao Paulo. Finally, the growth of the Brazilian Baptist churches in metropolitan Sao Paulo between the last two censes, 1981-1990, is analyzed. Brazilian Baptists have grown at better than twice the rate of the general population, especially in the urban, residential, communities. -

November 2013 VOLUME 36, NO
November 2013 VOLUME 36, NO. 4 Spotlight on: Processing a Large Collection of Congressional Papers Bailey Hoffner * The University of Oklahoma The Congressional Archives Inside: The Carl Albert Congressional Research and Studies Center has been in the business of preserving the history of the U.S. Congress for nearly 35 years. The Congressional Archives are currently comprised of 59 collections of former members Page 4 of Congress (most of these are from Oklahoma) and close to 20 related collections. The From the Editors activities of the Congressional Archives are complemented by other programs offered by the Carl Albert Center, including graduate research fellowships, undergraduate Page 5 programs in research as well as service-learning and civic engagement, an archives From the President visiting scholars program, a biannual journal related to congressional studies, a distinguished lecture series on representative government, and several women’s Pages 6 - 14 leadership initiatives. SSA Committee News Thanks to years of dedication, the Center has become a lively environment for strengthening representative democracy through scholarship, learning, and service, Pages 15 - 33 and the Archives has become an invaluable source for reflecting on our political past Repository News and in turn, our political future. The James R. Jones Collection Page 34 James R. “Jim” Jones was chairman of the House Budget Committee from Leadership Log 1980-1984 during the first Reagan administration, a time of great economic turmoil and change. In 1972, he became the first Democrat in 22 years to represent Oklahoma’s Page 35 first district, and went on to serve in this capacity for 14 years.