Maranguape No Contexto Da Região Metropolitana De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Estado Do Ceará Prefeitura De Jaguaruana Secretaria De Saúde Administrando Para O Povo
Estado do Ceará Prefeitura de Jaguaruana Secretaria de Saúde Administrando Para o Povo AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: 01.24—001/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº OlO/2019-PP OBJETO: Aquisição de veículos novos, zero quilômetro, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará. A Prefeitura de Jaguaruana, Estado de Ceará, através do ' seu Pregoeiro, torna público que fará reabertura do Pregão Presencial nº 010/2019-PP, no dia 05 de Abril de 2019, às 08:00h, na sala da Comissao P_errnanente de Licitações, situada na Praça Adolfo Francisco da Rocha, nº 404, Centro na Cidade de Jaguaruana-CE. Jaguamana, CE, 01 de Abril de 2019. Pregoeiro Av. Simão de Goes, 1734, Anexo, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823- 000 PP1.D2— AQUISIÇÓES- PARTICIPAÇÃO HÍBRIDA (AMPLA COM ITENS EXCLUSIVOS MEIEPP)— PESSOA JURÍDICA O DE (aªªh (lc/) ª“ DIÁRIO OFICIAL DA [, 1.10 3 ISSN 1 . Seção 1677-7069 Nº 64, quarta-feira, 3 de &I de 2076 , PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÃNDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE FI EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS AVISO DE LICITAÇÃO ul, CONCORRENCIA PÚBLICA NACIONAL Nª 2019.04.01.01—SED Extrato da Ata de Registro de Preços nº FMH-010019 - Pregão Presencial para Registro de Preços Nº PMH-250219—PPRP01. Gerenciador: (* Orgão Secretaria Municipal de Administração 0 Presidente da Comissão Permanente de do e Finanças do Municipio de Hidrolândia—CE. Objeto: de eventual Licitações Municipi Registro Preços para do Norte/CE, em atendimento à Lei nº 8.666/93 e aquisição de peças para manutenção dos veículos automotivos às Unidades suas alterações posteri pertencentes público para conhecimento dos interessados que, no dia 06 de maio de 2019, as Administrativas do Municipio de Hidrolândia/CE; Empresa Beneficiária da ARP: Linear Lopes na Sede da Comissão Permanente de Licitações localizada no Palácio Municipal e LTDA, Representante Legal: Francisco Edervaldo Lopes. -

Vacinômetro - Ceará
Vacinômetro - Ceará GRUPOS PRIORITÁRIOS - TOTAL Doses aplicadas (D1) Doses aplicadas (D2) - Doses distribuídas Doses distribuídas (D2) % de doses aplicadas % de doses aplicadas Município Meta Total - Total Total (D1) - Total - Total (D1) - Total (D2) - Total Abaiara 1.889 1.393 194 1.333 1.003 104,50 19,34 Acarape 2.009 1.110 154 1.362 982 81,50 15,68 Acaraú 8.336 5.421 1.275 5.896 4.196 91,94 30,39 Acopiara 10.412 6.551 1.181 7.340 5.575 89,25 21,18 Aiuaba 2.810 2.120 836 1.988 1.483 106,64 56,37 Alcântaras 1.726 1.316 254 1.231 911 106,90 27,88 Altaneira 2.613 1.037 413 2.333 833 44,45 49,58 Alto Santo 2.791 1.806 1.155 1.881 1.401 96,01 82,44 Amontada 5.293 3.777 1.675 3.822 2.852 98,82 58,73 Antonina do Norte 1.319 917 261 967 712 94,83 36,66 Apuiarés 2.338 1.488 273 1.670 1.270 89,10 21,50 Aquiraz 11.015 6.293 1.439 7.541 5.196 83,45 27,69 Aracati 12.740 10.893 2.865 9.138 6.283 119,21 45,60 Aracoiaba 4.624 3.716 1.449 3.358 2.618 110,66 55,35 Ararendá 2.106 1.758 338 1.499 1.109 117,28 30,48 Araripe 3.859 5.207 899 2.941 1.506 177,05 59,69 Aratuba 2.432 1.721 972 1.908 1.578 90,20 61,60 Arneiroz 1.461 942 141 1.071 801 87,96 17,60 Assaré 4.212 2.779 699 2.992 2.257 92,88 30,97 Aurora 4.558 2.985 442 3.254 2.289 91,73 19,31 Baixio 1.169 865 444 884 664 97,85 66,87 Banabuiú 2.760 1.870 730 1.960 1.490 95,41 48,99 Barbalha 10.492 7.415 2.232 7.776 6.306 95,36 35,39 Barreira 3.070 1.955 286 2.119 1.569 92,26 18,23 Barro 4.374 3.054 1.237 3.221 2.486 94,82 49,76 Barroquinha 2.222 1.549 245 1.532 1.132 101,11 21,64 Baturité 6.040 4.538 -

Universidade Federal Do Ceará - Ufc Centro De Tecnologia Departamento De Engenharia Hidráulica E Ambiental
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL JOSEFA MARCIANA BARBOSA DE FRANÇA AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO AÇUDE ACARAPE DO MEIO-CE COM USO DE MODELO MATEMÁTICO E GEOTECNOLOGIA FORTALEZA - CE 2013 JOSEFA MARCIANA BARBOSA DE FRANÇA AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO AÇUDE ACARAPE DO MEIO-CE COM USO DE MODELO MATEMÁTICO E GEOTECNOLOGIA Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, como parte dos requisitos parcial para obten- ção do Título de Mestre em Gestão de Recur- sos Hídricos. Área de concentração: Recursos Hídricos Orientador. Prof. Francisco de Assis de Souza Filho, D.Sc. Coorientador. Prof. Paulo Cesar Colonna Rosman, Ph.D. FORTALEZA – CE 2013 II Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia - BPGE F881a França, Josefa Marciana Barbosa de. Avaliação da degradação do Açude Acarape do Meio-CE com uso de modelo matemático e geotecnologia. / Josefa Marciana Barbosa de França. – 2013. 106 f. : il. color., enc. ; 30 cm. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologi- a, Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, Programa de Pós- Graduação em Engenharia Civil, Fortaleza, 2013. Área de Concentração: Recursos Hídricos Orientação: Prof. Dr. Francisco de Assis de Souza Filho. Coorientação: Prof. Dr. Paulo Cesar Colonna Rosman. 1. Recursos Hídricos. 2. Modelagem computacional. 3. Sensoriamento remoto. 4. Água - Qualidade. 5. Morfometria. I. Título. CDD 627 III JOSEFA MARCIANA BARBOSA DE FRANÇA AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO AÇUDE ACARAPE DO MEIO-CE COM USO DE MODELO MATEMÁTICO E GEOTECNOLOGIA Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional em Gestão de Recursos Hídricos do Depar- tamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, da Universidade Federal do Ceará, como par- te dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em Gestão de Recursos Hídricos. -

Cadastro Geral De Empregados E Desempregados Caged – Lei 4.923/65 Síntese Do Comportamento Do Mercado De Trabalho Formal
CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS CAGED – LEI 4.923/65 SÍNTESE DO COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL CEARÁ – MAIO DE 2016 1. Segundo os dados do CAGED, em maio de 2016 foram perdidos 2.906 empregos celetistas, equivalentes à retração de 0,25% em relação ao estoque de assalariados com carteira assinada do mês anterior. Os setores de atividade que mais contribuíram para esta redução foram Serviços (-1.476 postos), Comércio (-772 postos) e Construção Civil (-383 postos). 2. Na série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo, nos cinco primeiros meses do corrente ano houve decréscimo de 22.983 postos (-1,92%). 3. Ainda na série com ajustes, nos últimos 12 meses verificou-se perda de 3,75% no nível de emprego ou -45.789 postos de trabalho. Evolução do emprego formal sem ajuste no Ceará Período: 2003 a 2016 FONTE: CAGED Lei 4.923/65 4. Comportamento do emprego segundo Setores de Atividade Econômica: Saldo de Maio de 2016 Setores de Atividade Econômica Variação Absoluta Variação Relativa (% ) Extrativa Mineral -43 -1,19 Indústria de Transformação -75 -0,03 Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP -383 -4,32 Construção Civil -473 -0,53 Comércio -772 -0,30 Serviços -1.476 -0,30 Administração Pública 0 0,00 Agropecuária 316 1,23 Total -2.906 -0,25 Fonte: Caged, Lei 4.923/65 5. A Região Metropolitana de Fortaleza registrou perda de 3.807 empregos formais (-0,44%). 6. Comportamento do emprego nos municípios com mais de 30 mil habitantes: EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL EM MUNICÍPIOS COM MAIS DE 30.000 -

Mapa De Uso E Ocupação Do Solo Do Estado Do Ceará
300000 400000 500000 600000 700000 0 0 0 0 0 Estado do Ceará 0 0 0 0 0 7 7 9 Uso do Solo 9 1:1.200.000 Jijoca de Jericoacoara km Cruz 0 12,5 25 50 75 100 Barroquinha Camocim Acaraú 2018 Bela Cruz Itarema ± Chaval Martinópole Marco Granja Amontada Senador Sá Morrinhos Uruoca Trairi Itapipoca Paraipaba Santana do Acaraú Moraújo Massapê Paracuru O Tururu ce Viçosa do ceará an 0 Miraíma o 0 0 Meruoca A 0 0 Alcântaras São Gonçalo do Amarante 0 0 tl 0 0 Uruburetama â 0 6 Coreaú São Luís do Curu n 6 9 tic 9 Umirim o Frecheirinha Itapajé Tianguá Caucaia Fortaleza Forquilha Sobral Pentecoste Ubajara Irauçuba Maracanaú Eusébio Mucambo Groaíras Tejuçuoca Ibiapina Cariré Pacatuba Apuiarés Aquiraz Pacujá Itaitinga São Benedito Maranguape Graça General Sampaio Pindoretama Guaiúba Horizonte Carnaubal Reriutaba Palmácia Paramoti Caridade Varjota Pacoti Pacajus Acarape Guaraciaba do Norte Redenção Cascavel Pires Ferreira Guaramiranga Mulungu Chorozinho Santa Quitéria Barreira Ipu Baturité Croatá Canindé Beberibe Aratuba Hidrolândia 0 Capistrano Fortim 0 0 Aracoiaba 0 0 0 0 0 0 Ocara 0 5 5 9 9 Ipueiras Itatira Itapiúna Catunda Nova Russas Aracati Palhano Itaiçaba Icapuí Ararendá Choró Ibaretama Poranga Russas Madalena Jaguaruana Ipaporanga Tamboril Monsenhor Tabosa Quixadá Ibicuitinga Boa Viagem Quixeré Morada Nova Limoeiro do Norte Crateús Quixeramobim Banabuiú São João do JaguaribeTabuleiro do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 9 Independência Jaguaretama Pedra Branca Alto Santo Senador Pompeu Novo Oriente Milhã Jaguaribara RN Potiretama Mombaça Solonópole Iracema Quiterianópolis Piquet Carneiro Dep. -

10.496 Conselho Tutelar De Abaiara Logradouro: Av
ABAIARA População: 10.496 Conselho Tutelar de Abaiara Logradouro: Av. Coronel Humberto Bezerra, s/n Bairro: Centro CEP: 63240-000 E-mail: [email protected] Horário: 7:00 às 17:00, com intervalo ACARAPE População: 15.338 Conselho Tutelar de Acarapé Logradouro: Rua Paulo Evaristo, 182 Bairro: Centro CEP: 62785-000 Celular: (85) 8589-5324 Horário: 8:00 às 14:00 ACARAÚ População: 57.551 Conselho Tutelar de Acaraú Logradouro: Rua José Júlio Louzada, 560 Bairro: Centro CEP: 62580-000 Telefone: (88) 3661-1021 Fax: (88) 3661-1021 E-mail: [email protected] Horário: 8:00 às 17:00, com intervalo Lei de Criação: Lei 981 de 2001 ACOPIARA População: 51.160 Conselho Tutelar de Acopiara Logradouro: Rua José Paulino, s/n Bairro: Centro CEP: 63560-000 Telefone: (88) 3565-1615 Fax: (88) 3565-1615 E-mail: [email protected] Horário: 7:00 às 19:00 AIUABA População: 16.203 Conselho Tutelar de Aiuaba Logradouro: Rua 07 de Setembro, 41 Bairro: Centro CEP: 63575-000 E-mail: [email protected] Horário: 8:00 às 17:00, com intervalo ALCÂNTARAS População: 10.771 Conselho Tutelar de Alcântaras Logradouro: Rua Pedro Caetano, s/n Bairro: Bela Vista CEP: 62120-000 Telefone: (88) 3640-1184 Celular: (88) 8835-7761 E-mail: [email protected] Horário: 8:00 às 17:00, com intervalo Lei de Criação: Lei 420 de 1997 ALTANEIRA População: 6.856 Conselho Tutelar de Altaneira Logradouro: Rua Joaquim Soares da Silva, 345 Bairro: Centro CEP: 63195-000 Horário: 7:00 às 17:00, com intervalo ALTO SANTO População: 16.359 Conselho Tutelar de Alto Santo Logradouro: Rua José Ferreira, 107 Bairro: Centro CEP: 62970-000 Celular: (88) 9277-7707 E-mail: [email protected] Horário: 8:00 às 17:00, com intervalo AMONTADA População: 39.232 Conselho Tutelar de Amontada Logradouro: Av. -

Ações E Projetos Prioritários Do Governo Do Estado 2008
Cid Ferreira Gomes GOVERNADOR Francisco José Pinheiro VICE- GOVERNADOR Ivo Ferreira Gomes Secretário-Chefe do Gabinete do Governador Fernando Antônio C. Oliveira Procuradoria Geral do Estado Francisco José B. Rodrigues Casa Militar Arialdo de Mello Pinho Secretário-Chefe da Casa Civil Silvana Maria Parente Neiva Santos Secretaria do Planejamento e Gestão Fátima Catunda Rocha Moreira de Andrade Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Camilo Sobreira de Santana Secretaria do Desenvolvimento Agrário René Teixeira Barreira Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior Aloísio Barbosa de C. Neto Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral Francisco Auto Filho Secretaria da Cultura Joaquim Cartaxo Filho Secretaria das Cidades Maria Izolda Cela Arruda Coelho Secretaria da Educação Ferrucio Petri Feitosa Secretaria do Esporte Carlos Mauro Benevides Filho Secretaria da Fazenda Francisco Adail de C. Fontenele Secretaria da Infra-Estrutura Marcos César Cals de Oliveira Secretaria da Justiça e Cidadania César Augusto Pinheiro Secretaria dos Recursos Hídricos João Ananias V. Neto Secretaria da Saúde Roberto das Chagas Monteiro Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Bismark C. L. Pinheiro Maia Secretaria do Turismo Francilene Gomes de Brito Bessa Defensoria Pública Geral Ivan Rodrigues Bezerra Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico Maria Tereza Bezerra Farias Sales Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente Edgar Linhares Lima Conselho Estadual de Educação 2 3 Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão -

Telefones - Sefaz/Ce
Disponibilizado por ICMS Prático – www.icmspratico.com.br TELEFONES - SEFAZ/CE Unidade Fiscal Telefone E-mail Endereço CEFIT – Célula de Fiscalização 85 3215.9950 [email protected] Av. Dr. Silas Munguba, 5260 - Passaré - da Mercadoria em Trânsito FAX 3215.9974 Fortaleza/CE Posto Fiscal Aeroporto [email protected] Av. Sen Carlos Jereissati, 2000 - 85 3216.2850 Fortaleza/CE Posto Fiscal Aracati 88 3421.9200 [email protected] Rod. BR-304, km 64 - Aracati/CE Posto Fiscal Baraúnas [email protected] Rod. RN 015, Km 06 Sitio Currais - 85 3101.9510 Baraúnas/RN Posto Fiscal Campos Sales 88 3533.1460 [email protected] Rod. BR-230 km 03 - Campos Sales/CE Posto Fiscal Caucaia 85 3101.3364 [email protected] BR-222, Km 23 - Guagirú - Caucaia/CE 85 3342.0633 Posto Fiscal Chaval [email protected] Rod. BR 402 - Povoado de Bom Retiro - 88 3625.1130 Chaval/CE Posto Fiscal Crato [email protected] Av. Joaquim Pinheiro B. de Menezes, 88 3102.1232 s/n - Giselia Pinheiro - Crato/CE Posto Fiscal Correios 85 3101.3678 [email protected] Av. Oliveira Paiva, 2800 - Cid. dos 85 3101.3679 Funcionários - Fortaleza/CE Posto Fiscal Ipaumirim 88 3567.1080 [email protected] Rod. BR 116, km 420 - Ipaumirim/CE Posto Fiscal Itaitinga 85 3377.1651 [email protected] Rod. BR-116, km 17 - Eusébio/CE Posto Fiscal Jati [email protected] Rod. Jati, São José do Belmonte, Km 11 88 3575.3970 - Jatí/CE Posto Fiscal Monte Alegre [email protected] Rod. -
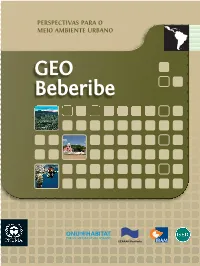
GEO Beberibe GEO Beberibe
PERSPECTIVAS PARA O MEIO AMBIENTE URBANO Perspectivas para o Meio Ambiente Urbano: GEO Beberibe Perspectivas GEO Beberibe División de Evaluación y Alerta Temprana (DEAT) Programa das Nações Unidas para Programa de las Naciones Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) www.unep.org el Medio Ambiente (PNUMA) ROLAC/Escritório do PNUMA no Brasil United Nations Environment Programme Ofi cina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC) EQSW 103/104 Lote 1 - Bloco C - 1° andar United Nations Avenue, Gigiri Clayton, Ciudad del Saber, Edifi cio 103 - Avenida Morse CEP: 70670-350 – Brasília - DF – Brasil P.O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, Panamá. Telefone: +55 (61) 3038-9233 Telephone: (254-20) 7621234 Teléfono (507) 305 3100 / Fax: (507) 305 3105 Fax: +55 (61) 3038-9239 Fax: (254-20) 762448990 Apto. postal: 03590-0843 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Correo electrónico: [email protected] Site: www.pnuma.org.br Web: www.unep.org Sitio internet: www.pnuma.org PERSPECTIVAS PARA O MEIO AMBIENTE URBANO GEO BEBERIBE REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Luiz Inácio Lula da Silva Presidente MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Carlos Minc Baumfeld Ministro Marina da Silva Vaz de LIma Ministra (2003 - 2008) MINISTÉRIO DAS CIDADES Marcio Fortes de Almeida Ministro Olivio Dutra MInistro (2003 - 2005) PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE Odivar Facó Prefeito Marcos Queiroz Prefeito (2004 - 2006) Daniel Queiroz Prefeito (2006 - 2007) INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (IBAM) Ana Lúcia Nadalutti La -

Fluxos Migratórios Intrametropolitanos: O Caso Da Região Metropolitana De Fortaleza (1986/1991, 1995/2000 E 2005/2010)
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional G&DR. V. 15, N. 7, Edição Especial, P. 256-269, dez/2019. Taubaté, SP, Brasil. ISSN: 1809-239X Recebimento: 03/05/2019 Aceite: 04/11/2019 FLUXOS MIGRATÓRIOS INTRAMETROPOLITANOS: O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (1986/1991, 1995/2000 E 2005/2010) (INTRAMETROPOLITAN MIGRATION FLOWS: THE CASE OF FORTALEZA METROPOLITAN REGION - 1986/1991, 1995/2000 AND 2005/2010) Raíssa Marques Sampaio Sidrim1 Silvana Nunes de Queiroz2 Resumo Devido ao intenso crescimento econômico e populacional na RMF faz-se importante contribuir com a análise da evolução recente dos fluxos migratórios intrametropolitanos, dado que poucas pesquisas se propuseram a abordar essa questão durante um período tão longínquo (quinquênios de 1986/1991, 1995/2000 e 2005/2010). Os microdados dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são a principal fonte de informações. Os resultados mostram que o município de Fortaleza (núcleo da RMF) vem perdendo população para as cidades do entorno, principalmente para Caucaia e Maracanaú. No caso de Caucaia a atratividade, em parte, é devido a proximidade geográfica e fácil acesso à Fortaleza, construção de conjuntos habitacionais e a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Pécém (CIPP). Maracanaú, por sua vez, devido à construção de um polo industrial e conjuntos habitacionais. Nesse contexto, os dois municípios apresentaram os maiores saldos migratórios positivos da RMF, enquanto Fortaleza exibiu saldo migratório negativo durante os três períodos analisados, revelando uma nova tendência para a RMF, a partir da saída de pessoas do núcleo (Fortaleza) em direção ao entorno e o aumento do fluxo migratório entorno-entorno, seguindo a tendência apontada para outras regiões metropolitanas do Brasil, conforme aponta a revisão bibliográfica. -

Grande Fortaleza
CEARÁ 2050: Diagnóstico Dados e Informações Regionalizados Grande Fortaleza Dados Básicos da Região Grande Fortaleza Número de municípios: 19 Municípios componentes: Aquiraz, Caucaia, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante e Trairi. Características geoambientais dominantes: Domínios naturais da planície litorânea, tabuleiros costeiros, serras úmidas e sertões. Área territorial (km²) - 2017: 7.440,1 População - 2017: 4.051.744 Densidade demográfica (hab. / km²) - 2017: 544,58 Taxa de urbanização (%) - 2010: PIB (R$ mil) - 2015: 84.830 PIB per capita (R$) - 2015: 21.286 % de domicílios com renda mensal per capita inferior a ½ salário mínimo - 2010: Fonte: Ipece População das 14 Regiões de Planejamento do Ceará. Macrorregiões População 2000 % População 2010 % População 2016 % Cariri 871.031 11,72 962.018 11,38 1.009.678 11,26 Centro Sul 354.501 4,77 376.478 4,45 389.539 4,35 Grande Fortaleza 3.165.796 42,60 3.741.198 44,26 4.019.213 44,84 Litoral Leste 167.962 2,26 191.231 2,26 202.881 2,26 Litoral Norte 327.993 4,41 373.775 4,42 395.897 4,42 Maciço de Baturité 307.582 4,14 364.116 4,31 391.398 4,37 Serra da Ibiapaba 210.317 2,83 230.523 2,73 241.294 2,69 Sertão Central 298.051 4,01 335.506 3,97 354.952 3,96 Vale do Curu 339.687 4,57 373.278 4,42 391.005 4,36 Sertão de Canindé 176.886 2,38 195.281 2,31 204.395 2,28 Sertão de Sobral 401.982 5,41 460.463 5,45 489.265 5,46 Sertão dos Crateús -

Composition, Distribution Patterns, and Conservation Priority Areas for the Herpetofauna of the State of Ceará, Northeastern Brazil
SALAMANDRA 52(2) 134–152 30Igor June Joventino 2016 ISSN Roberto 0036–3375 & Daniel Loebmann Composition, distribution patterns, and conservation priority areas for the herpetofauna of the state of Ceará, northeastern Brazil Igor Joventino Roberto1 & Daniel Loebmann2 1) Universidade Federal do Amazonas, Departamento de Ciências Biológicas, Pós-gradução em Zoologia, Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, 69077-000 Manaus, AM, Brazil 2) Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Vertebrados. Av. Itália, Km 8, 96203-900 Rio Grande, RS, Brazil Corresponding author: Igor Joventino Roberto, e-mail: [email protected] Manuscript received: 4 April 2014 Accepted: 21 March 2016 by Edgar Lehr Abstract. We provide an updated list of amphibians and reptiles of the state of Ceará, northeastern Brazil, with informa- tion on species distribution patterns and conservation priority areas. Data compilation based on information available in the literature, scientific collections, as well as original data resulted in a species list of 57 amphibians and 126 reptiles. The species Lygophis paucidens is recorded for the first time from Ceará. The herpetofauna of this state is predominantly typical of open areas (Cerrado and Caatinga biomes). However, species of Atlantic and Amazon Forests are also found, especially in higher-altitude areas covered by relict moist forests. Endemic species are also found in Ceará, some of them are still un- described. These relict moist forests are phytoecological areas with high species richness of both amphibians and reptiles. Analysis of Key Biodiversity Areas indicated that the herpetofauna of Ceará has six endemic amphibian and six endemic reptile species, as well potentially threatened continental species, most of them are not found in protected areas.