Embaixada Portuguesa Em Londres Nos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Revolta Mendes Norton De 1935
A REVOLTA MENDES NORTON DE 1935 LUÍS MIGUEL PULIDO GARCIA CARDOSO DE MENEZES INTRODUÇÃO Manuel Peixoto Martins Mendes Norton (1875-1967), natural de Via- na do Castelo, teve um percurso militar - profissional brilhante, com provas dadas. Foi o caso da organização do serviço de socorro ao nau- frágio do paquete inglês “Veronese” (1913); o grande impulso que deu à obra de farolagem, deixando a costa portuguesa de chamar-se a “costa negra” (1918-1929); a participação e colaboração na revolta monárquica de Monsanto (1919) e na revolução de 28-5-1926; a organização da Con- ferência Internacional de Farolagem em Lisboa (1930), etc. etc. Activista político empenhado, foi o principal chefe operacional das revoltas de 20-5-1935 e da revolta «Mendes Norton» de 10-9-1935, esta última considerada por Medeiros Ferreira, uma das mais importantes revoltas militares entre 1933-1961, que ousaram agitar o Estado Novo. Foi também, uma das figuras de maior relevo do governo dos ge- nerais António Óscar Fragoso Carmona-Sinel Cordes (de 9-7-1926 a 18-4-1928), e a este propósito George Guyomard, considerava Mendes Norton, então Capitão de Fragata, um dos quatro homens que deti- nham o verdadeiro poder político em Portugal. Até 1934, Mendes Norton está com o regime, tendo aliás sido amiúde nomeado para diversos cargos e comissões de serviço; a partir de então e à medida que se acentua o autoritarismo politico, demarca-se da situação e revela-se um opositor feroz ao regime de Oliveira Salazar, tendo sido consequentemente exonerado dos inúmeros cargos e comissões que deti- nha, bem como lhe foi negado o requerimento em que pedia para fazer o tirocínio para o posto de Contra-Almirante. -

Civilizing Africa” in Portuguese Narratives of the 1870’S and 1880’S Luísa Leal De Faria
Empire Building and Modernity Organização Adelaide Meira Serras Lisboa 2011 EMPIRE BUILDING AND MODERNITY ORGANIZAÇÃO Adelaide Meira Serras CAPA, PAGINAÇÃO E ARTE FINAL Inês Mateus Imagem na capa The British Empire, 1886, M. P. Formerly EDIÇÃO Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa IMPRESSÃO E ACABAMENTO TEXTYPE TIRAGEM 200 exemplares ISBN 978-972-8886-17-2 DEPÓSITO LEGAL 335129/11 PUBLICAÇÃO APOIADA PELA FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA ÍNDICE Foreword Luísa Leal de Faria . 7 Empire and cultural appropriation. African artifacts and the birth of museums Cristina Baptista . 9 Here nor there: writing outside the mother tongue Elleke Boehmer . 21 In Black and White. “Civilizing Africa” in Portuguese narratives of the 1870’s and 1880’s Luísa Leal de Faria . 31 Inverted Priorities: L. T. Hobhouse’s Critical Voice in the Context of Imperial Expansion Carla Larouco Gomes . 45 Ways of Reading Victoria’s Empire Teresa de Ataíde Malafaia . 57 “Buy the World a Coke:” Rang de Basanti and Coca-colonisation Ana Cristina Mendes . 67 New Imperialism, Colonial Masculinity and the Science of Race Iolanda Ramos . 77 Challenges and Deadlocks in the Making of the Third Portuguese Empire (1875-1930) José Miguel Sardica . 105 The History of the Sevarambians: The Colonial Utopian Novel, a Challenge to the 18th Century English Culture Adelaide Meira Serras . 129 Isaiah Berlin and the Anglo-American Predicament Elisabete Mendes Silva . 143 Nabobs and the Foundation of the British Empire in India Isabel Simões-Ferreira . 155 Foreword ollowing the organization, in 2009, of the first conference on The British Empire: Ideology, Perspectives, Perception, the Research Group dedicated Fto Culture Studies at the University of the Lisbon Centre for English Studies organized, in 2010, a second conference under the general title Empire Building and Modernity. -

Roteiro Do Museu Museum Guide MONEY MUSEUM BANCO DE PORTUGAL
MUSEU DO DINHEIRO roteiro do museu museum guide MONEY MUSEUM BANCO DE PORTUGAL O Museu do Dinheiro apresenta a história do dinheiro pondo em paralelo a evolução das sociedades, no ocidente e no oriente, e as relações entre os indivíduos e o meio. Único na sua vocação, o museu expõe as coleções de numismática e notafilia do Banco de Portugal, alguns objetos de enquadramento e dispositivos virtuais de contextualização. A museografia assenta em núcleos temáticos que focam os pré-monetários e outros meios de pagamento, estórias de moedas singulares, a iconografia do din- heiro, a evolução da banca, o fabrico da nota e da moeda, as ilustrações das notas, os elementos de segurança e testemunhos pessoais sobre o papel do dinheiro na vida do cidadão. Este breve roteiro tem o propósito de fundamentar a interpretação dos temas que constituem a narrativa do museu. Permite ao visitante saber mais sobre objetos, conteúdos e espaços, assim como orientar o seu percurso pelo museu. A seleção feita apresenta obras de referência da coleção, privilegia diferentes tipologias e revela peças que ilustram vários períodos históricos, origens ou aspetos curiosos e marcantes da história do dinheiro. The Money Museum presents the history of money side-by-side with the evolution of western and eastern societies and the relation- ships between individuals and money. Unique in its mission, the museum exhibits the numismatic and paper money collections of the Banco de Portugal, some contextual objects, and virtual devices. The museum design rests upon thematic units focused on pre-monetary instruments and other means of payment, stories of exception- al coins, the iconography of money, the evolution of the banking system, the manufacture of paper money and coins, the illustrations on banknotes, security features, and personal stories about the role of money in the lives of people. -

Responsáveis Políticos Pelo Império Colonial Português
Série Documentos de Trabalho Working Papers Series Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Nuno Valério DT/WP nº 72 ISSN 2183-1807 Apoio: Estudos de história colonial Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Nuno Valério (GHES — CSG — ISEG) Resumo Este documento de trabalho apresenta listas dos responsáveis políticos pelo Império Colonial Português: Reis, Regentes e Presidentes da República de Portugal, membros do Governo e governadores dos domínios, províncias, colónias e estados. Abstract This working paper presents lists of the political officials that were responsible for the Portuguese Colonial Empire: kings, regents and Presidents of Republic of Portugal, members of the government and governors of possessions, provinces, colonies and states. Palavras-chave Portugal — responsáveis políticos — Império Colonial Keywords Portugal — political officials — Colonial Empire Classificação JEL / JEL classification N4 governo, direito e regulação — government, law and regulation 1 Estudos de história colonial Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português Plano Reis e Regentes de Portugal 1143-1910 Presidentes da República de Portugal desde 1910 Secretários de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos 1736-1834 Secretários de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos da regência constitucional 1830- 1834 Governos e Ministros e Secretários de Estado encarregados dos assuntos ultramarinos 1834-1976 Governadores do Estado da Índia 1505-1961 Governadores -

J-PV Golden Reviewers List 2020
1512 IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS, VOL. 10, NO. 06, NOVEMBER 2020 Golden List Last Name First Name Institution Country Abdulrazzaq Ali Kareem Budapest University of Technology and Economics Hungary Abe Caio Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brazil Abed Issa Southern Technical University Iraq Ablekim Tursun National Renewable Energy Laboratory United States Abu-Siada Ahmed Curtin University Australia Abusnina Mohamed University of Denver United States Ademulegun Oluwasola University of Ulster Faculty of Computing and Engineering United Kingdom Adinolfi Giovanna ENEA Italy Aeberhard Urs Forschungszentrum Julich¨ GmbH Germany Agarwal Anshul National Institute of Technology Delhi India Ahangharnejhad Ramez University of Toledo United States Ahmad S. H. A. University of Queensland Australia Ahmed Jubaer Swinburne University of Technology - Sarawak Campus Malaysia Ahmed Nuha University of Delaware United States Ahrenkiel Richard K. Colorado School of Mines United States Ajewole Titus Osun State University Nigeria Akey Austin Harvard University Center for Nanoscale Systems United States Akin Seckin Karamanoglu Mehmetbey University Turkey Alam Mohammed Ford Motor company United States Albin David National Renewable Energy Laboratory United States Alcubilla Ramon Polytechnic University of Catalonia Spain Algora Carlos Catedratico de Universidad Spain Allen Thomas King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia Altermatt Pietro Changzhou Trina Solar Energy Ltd China Alves dos Reis Benatto Gisele Technical University of Denmark -

O Maior Burlão De Todos Os Tempos > >
1 GESTÃO DE FRAUDE CRÓNICA VISÃO ELECTRÓNICA Nº 238 / 2013-08-08 http://www.gestaodefraude.eu João Pedro Martins > > O maior burlão de todos os tempos Alves dos Reis é considerado o maior burlão da História de Portugal. O resto são amadores que tentaram plagiar a obra de um artista inigualável. Este humilde cidadão português, com apenas 18 anos já tinha fal- sificado o diploma do curso de engenharia passado pela Polyte- chnic School of Engineering, uma escola politécnica inglesa que nunca existiu em Oxford. Sócrates e Relvas recorreram ao fator cunha para concluírem as licenciaturas, quando já tinham idade para serem avôs de Alves dos Reis. Além disso, ocupavam cargos políticos e limitaram-se a copiar, com mais de cem anos de atraso, uma ideia genial e ainda por cima sem a originalidade de escolherem a chancela de uma universidade com um nome pomposo, como Independent Uni- versity of Lisbon ou Lusophone University. Alves dos Reis, ao contrário dos banqueiros e dos políticos que lideraram Portugal nas últimas três décadas, não fez desaparecer dinheiro do erário público com destino a paraísos fiscais. Ele fez circular mais 200 mil notas de 500 escudos, quantia que na épo- ca correspondia a 1% do PIB português. Alves dos Reis não falsificou notas de 500 escudos com máquinas tipográficas escondidas na cave de um prédio antigo. Ele falsificou assinaturas para conseguir de forma ilegítima que a Waterlow & Sons Limited, a casa impressora do Banco de Portugal (BdP), emi- tisse 200 mil notas de um lote não autorizado pelo BdP. As notas eram autênticas e tinham imprimido numa das faces a efígie do navegador Vasco da Gama. -

A Grande Guerra De Afonso Costa
XXXXXX FILIPE RIBEIRO DE MENESES A GRANDE GUERRA DE AFONSO COSTA 5 A GRANDE GUERRA DE AFONSO COSTA 4 XXXXXX ÍNDICE Agradecimentos . 9 Introdução . 11 Capítulo 1. Portugal perante a guerra europeia (1914) . 23 A República Portuguesa em 1914 (23); Começa a guerra europeia (26); O intervencionismo português (32); Preparações militares (38); Bernardino Machado e a guerra europeia (41); Os famosos canhões de 75mm (45); A posição de Afonso Costa (56); Demoras inexplicáveis (65); Entretan- to, em África… (74); A queda do Governo de Bernardino Machado (77). Capítulo 2. Antes e depois do 14 de Maio (1915) . 87 Manuel de Arriaga intervém (87); A «ditadura» Pimenta de Castro (94); Afonso Costa passa ao ataque (104); A «revolução» de 14 de maio (110); Depois do 14 de maio (114); O papel equívoco de Afonso Costa (120); A situação internacional e suas repercussões domésticas (124). 7 A GRANDE GUERRAÍ NDICE DE AFONSO COSTA Capítulo 3. O segundo Governo de Afonso Costa (1915-1916) . 137 Afonso Costa regressa ao poder (137); As intenções de Afonso Costa (145); Os navios alemães (150); Afonso Costa no Congresso da República (186); A formação da União Sagrada (191). Capítulo 4. A União Sagrada (1916) . 195 Mobilização militar (195); Afonso Costa em Londres (211); Mobilização económica, legal e administrativa (224); De novo à espera (238); O golpe de Machado Santos (242); O CEP parte (254). Capítulo 5. O terceiro Governo de Afonso Costa (1917) . 261 A União Sagrada em crise (261); Uma crise governamental anunciada (267); A formação de um novo Governo (284); Problemas domésticos a resolver (288); O CEP em França (292); África (304); Manejos alemães (306); Agitação em Portugal (312); Afonso Costa e o Partido Democrático (323); As sessões secretas do parlamento (340). -

1 Elections 2014 New Members Approved by the Council
Elections 2014 New members approved by the council: ORDINARY AND FOREIGN PROPOSALS Sect. Full name Country A1 History & Archaeology (17) c. Renate Pieper A1 1. Álvarez Junco José Spain A1 2 Geoffrey Bailey UK A1 3 Gérard Bossuat France A1 4 ISABEL-MAURA BURDIEL Spain A1 5 Robin Dennell UK A1 6 Jos Gommans Netherlands A1 7 Slavko Kacunko Denmark A1 8 Margit Kern Germany A1 9 Marek Kornat Poland A1 10 Gabriele Lingelbach Germany A1 11 Elio Lo Cascio Italy A1 12 Paolo Malanima Italy A1 13 Giorgio Riello UK A1 14 Bogdan SZLACHTA Poland A1 15 Manon Van der Heijden Netherlands A1 16 Eric Vanhaute Belgium A1 17 James Walvin UK A10 Economics, Business & Management Sciences c. P. Nijkamp) (5) A10 2 Richard Blundell UK A10 3 Vincent Crawford UK 1 Sect. Full name Country A10 4 Jan Eeckhout UK A10 5 Frederick van der Ploeg UK A2 Classics & Oriental Studies (12) c. Harm Pinkster A2 1 Øivind Andersen Norway A2 2 John Briscoe UK A2 5 Marcus Deufert Germany A2 6 Eleanor Dickey UK A2 7 Johannes Haubold UK A2 8 Geoffrey Khan UK A2 9 Paolo Liverani Italy A2 10 Gesine Manuwald UK A2 11 Timon Screech UK A2 12 Jakob Wisse UK A3 Linguistic Studies (17) c. Alain Peyraube A3 1 Isabelle BRIL France A3 3 Didier Demolin France A3 4 Konrad Ehlich Germany A3 5 András Kertész Hungary A3 6 Bernd Kortmann Germany A3 8 Shalom Lappin UK A3 9 Melanie Malzahn Austria A3 10 William McGregor Denmark A3 12 Stefan Müller Germany A3 14 Tobias Scheer France A3 15 Klaus von Heusinger Germany A3 17 Ulrike Zeshan UK 2 Sect. -

A Instabilidade Crescente – Entre Greves E Atentados, Forças Vivas E
1920 1920 Ou é da minha vista ou estás a pedir um Baptista (Piada que antecede a chamada ao governo do líder do militarismo democrático) A guerra permitiu, com o auxílio da fraude, reunir nas mãos da Moagem capitais disponíveis enormes. A pouco e pouco, as Moagens começam a alargar o seu campo de operações. Eles são senhores, entre outras coisas, do seguinte: moagens, panificação, indústria da bolacha e fabrico de massas, energia hidráulica, minas de carvão, metalurgia, indústria de fiação, etc. O seu poder torna-se estranho, compram jornais Domingos Pereira políticos e não políticos e manobram, assim, à vontade, a consciência pública A instabilidade crescente. Entre (Cunha Leal em discurso parlamentar, greves e atentados, forças vivas e atacando as Moagens que o hão-de convidar governo da GNR depois para seu agente, como director de O Século ). ●Os Ensaios de António Sérgio – No ano em que atingimos os 6 032 991 habitantes, Fernando Pessoa continua a participar no jornal Acção , do Núcleo de Acção Nacional, de marca sidonista, nele publicando o poema À Memória do Presidente-Rei Sidónio Pais , onde proclama que a vida fê-lo herói, e a Morte/ O sagrou Rei!... Flor alta do paul da grei,/Antemanhã da Redenção,/ Nele uma hora encarnou el-rei/ Dom Sebastião . António Sérgio, exilado no Brasil desde 1919, edita, no Rio de Janeiro, em edição do Anuário do Brasil, o primeiro volume dos seus Ensaios , enquanto surge Clepsidra de Camilo Pessanha, que reside em Macau, desde 1900 e aí permanece até à data da morte, em 1926. No ano da morte de Max Weber, quando António Lino Neto proclama que a Igreja Católica é a mais bela democracia que tem visto o mundo e a primeira democracia de todos os tempos , Harold Laski torna-se professor na London School of Economics, enquanto vai crescendo o modelo intuicionista de Henri Bergson, com destaque para a adesão de Samuel Alexander (1859-1938), autor do conceito de evolução emergente , o precursor do pensamento complexo que será, depois, desenvolvido por Pierre Teilhard de Chardin. -
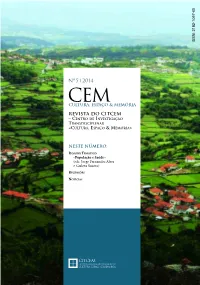
C U L T U R a , E S P a Ç O & M E M Ó R Ia
5 0 - 7 9 5 0 1 - 2 8 1 2 : N S S I a N.º 5 | 2014 i r ó m CEM e cultura, espaço & memória m Revista do CITCEM & – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TRANSDISCIPLINAR o CULTURA, ESPAÇO & MEMÓRIA ç « » a p s e Neste Número: , a DOSSIER TEMÁTICO r «População e Saúde» u (eds. Jorge Fernandes Alves t e Carlota Santos) l u RECENSÕES c NOTÍCIAS M E C CITCEM centro de investigação transdisciplinar CITCEM cultura, espaço e memória CEM N.º 5 cultura, espaço & memória CEM N.º 5 CULTURA, ESPAÇO & MEMÓRIA Edição: CITCEM – Centro de Investigação Transdisci- plinar «Cultura, Espaço & Memória» (Faculdade de Letras da Universidade do Porto/Universidade do Minho)/Edições Afrontamento Directora: Maria Cristina Almeida e Cunha Editores do dossier temático: Jorge Fernandes Alves | Carlota Santos Foto da capa: Paisagem minhota, 2013. Foto de Arlindo Alves. Colecção particular.. Design gráfico: www.hldesign.pt Composição, impressão e acabamento: Rainho & Neves, Lda. Distribuição: Companhia das Artes N.º de edição: 1604 Tiragem: 500 exemplares Depósito Legal: 321463/11 ISSN: 2182-1097-05 Periodicidade: Anual Esta revista tem edição online que respeita os critérios do OA (open access). Outubro de 2014 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projecto PEst-OE/HIS/UI4059/2014 EDITORIAL pág. 5 «EM PROL DO BEM COMUM»: O VARIA CONTRIBUTO DA LIGA PORTUGUESA DE SOB O OLHAR DA CONSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO PROFILAXIA SOCIAL PARA A EDUCAÇÃO MEMÓRIA:RICARDO JORGE NA TRIBUNA HIGIÉNICA NO PORTO (1924-1960) DA HISTÓRIA POPULAÇÃO E SAÚDE I Ismael Cerqueira Vieira pág. -

Volunteering & International Psychiatry
Volunteering & International Psychiatry. R C P S Y C H WORLD HEALTH DAY 2017 EDITION Volunteering and International Psychiatry Special Interest Group to the Royal College of Psychiatry Newsletter Editorial Team Dr Daniel Wolde-Giorgis Dr Faheem Naqvi Dr Peter Hughes Dr Manshant Rani Kaur Guest Editor and Design Gergana Manolova Contributors Abbas Mohammadinasab, Ahmed Hankir, Aleksandr Sapunov, Anna Walder, Anne Doherty, Asanga Fernando, Christos Terniotis, Danielle Maloney, Djibril Ibrahim Moussa Handuleh, Erin McCloskey, Eve Achan, Faheem Naqvi, Ferdinand Jonsson, Gergana Manolova, Hamid Rahmanian, Helen Thomson, Jan Klimach, Jaspreet Gill, Jianan Bao, Kanna Sugiura, Kolee Gboyo, Konstantinos Tsamakis, Kopo Manamolela, Lucienne Aguirre, Manhal Zarroug, Marianna Siapera, Mohamed Sheikh Omar, Moses K. Nyongesa, Mudasir Firdosi, Nandini Chakraborty, Nwe Thein, Onaiza Qureshi, Ramya Kannan, Ravi Paul, Ravivarma Rao Panirselvam, Roman Duncko, Shaazneen Ali, Siobhan Page, Subodh Dave, Suraj Tiwari, Teresa Alves dos Reis Country graphics courtesy of d-maps.com. Photography copyright belongs to the individual authors or as credited. All views and opinions expressed belong to the individual authors and do not necessarily represent the views of the Royal College of Psychiatry. © 2017 Volunteering and International Psychiatry Special Interest Group, all rights reserved. Reproduction by permission only. 2 Contents Foreword .......................................................................................................................... -

Pedro Aires Oliveira* Análise Social, Vol
Pedro Aires Oliveira* Análise Social, vol. XLI (178), 2006, 145-166 O corpo diplomático e o regime autoritário (1926-1974) Pese embora a democratização que vários Estados europeus foram co- nhecendo ao longo do século XIX, a actividade diplomática permaneceu um monopólio das classes aristocráticas até à primeira guerra mundial. Numa época em que as conexões dinásticas eram ainda um elemento a ter em conta nas políticas de alianças das potências europeias, era natural que as transac- ções diplomáticas fossem conduzidas por indivíduos recrutados nas fileiras de uma classe cosmopolita como a nobreza titulada. A este respeito, uma pequena monarquia como Portugal não constituiu excepção à regra, confor- me se pode constatar por uma consulta rápida aos anuários diplomáticos publicados pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros a partir de 1 finais do século XIX . Com a revolução republicana de 1910, porém, a composição social do corpo diplomático conheceu alterações significativas. A seguir a uma primei- ra vaga de demissões verificada logo após a queda da Casa de Bragança, o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi sendo renovado por iniciativa do poder político, ora através de «purgas» selectivas (em escala modesta, diga- -se), ora através da admissão de elementos da confiança do novo regime. No entanto, isso não significa que a carreira diplomática tenha perdido o seu carácter elitista. Em virtude da modéstia dos meios canalizados para a ac- tividade diplomática, a República viu-se forçada a recrutar os seus represen- tantes no estrangeiro entre figuras ligadas à «burguesia argentária»2 ou, em * Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.