DARK PASSAGE / 1947 (O Prisioneiro Do Passado)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
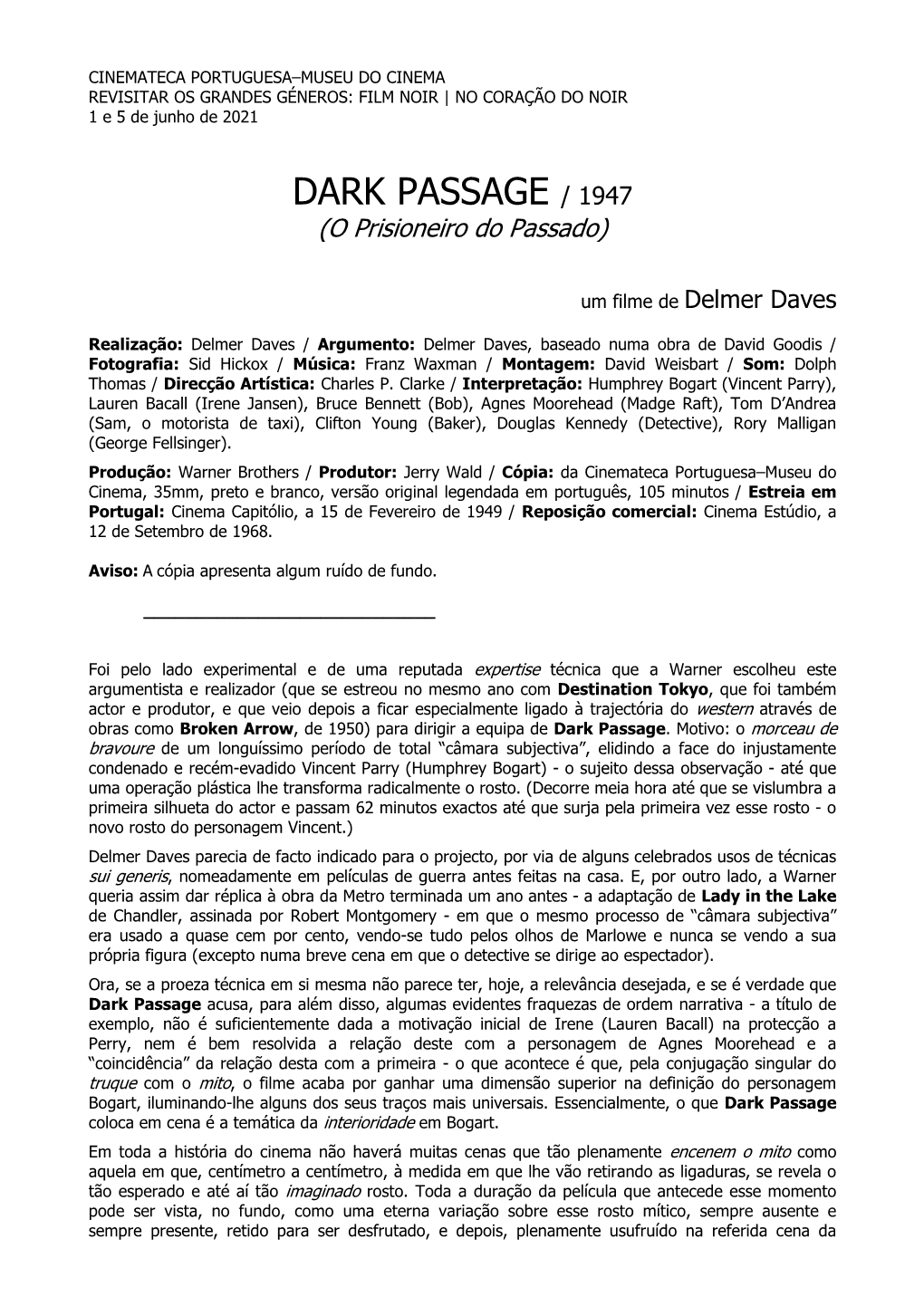
Load more
Recommended publications
-

Delmer Daves ̘͙” ˪…˶€ (Ìž'í'ˆìœ¼ë¡Œ)
Delmer Daves ì˜í ™” 명부 (작품으로) The Hanging https://ko.listvote.com/lists/film/movies/the-hanging-tree-1193688/actors Tree Demetrius and https://ko.listvote.com/lists/film/movies/demetrius-and-the-gladiators-1213081/actors the Gladiators Dark Passage https://ko.listvote.com/lists/film/movies/dark-passage-1302406/actors Never Let Me https://ko.listvote.com/lists/film/movies/never-let-me-go-1347666/actors Go The https://ko.listvote.com/lists/film/movies/the-badlanders-1510303/actors Badlanders Cowboy https://ko.listvote.com/lists/film/movies/cowboy-1747719/actors Kings Go https://ko.listvote.com/lists/film/movies/kings-go-forth-2060830/actors Forth Drum Beat https://ko.listvote.com/lists/film/movies/drum-beat-2081544/actors Jubal https://ko.listvote.com/lists/film/movies/jubal-2481256/actors Hollywood https://ko.listvote.com/lists/film/movies/hollywood-canteen-261550/actors Canteen Rome https://ko.listvote.com/lists/film/movies/rome-adventure-319170/actors Adventure Bird of https://ko.listvote.com/lists/film/movies/bird-of-paradise-3204466/actors Paradise The Battle of https://ko.listvote.com/lists/film/movies/the-battle-of-the-villa-fiorita-3206509/actors the Villa Fiorita The Red https://ko.listvote.com/lists/film/movies/the-red-house-3210438/actors House Treasure of the Golden https://ko.listvote.com/lists/film/movies/treasure-of-the-golden-condor-3227913/actors Condor Return of the https://ko.listvote.com/lists/film/movies/return-of-the-texan-3428288/actors Texan Susan Slade https://ko.listvote.com/lists/film/movies/susan-slade-3505607/actors -

Film Reviews Jonathan Lighter
Film Reviews Jonathan Lighter Lebanon (2009) he timeless figure of the raw recruit overpowered by the shock of battle first attracted the full gaze of literary attention in Crane’s Red Badge of Courage (1894- T 95). Generations of Americans eventually came to recognize Private Henry Fleming as the key fictional image of a young American soldier: confused, unprepared, and pretty much alone. But despite Crane’s pervasive ironies and his successful refutation of genteel literary treatments of warfare, The Red Badge can nonetheless be read as endorsing battle as a ticket to manhood and self-confidence. Not so the First World War verse of Lieutenant Wilfred Owen. Owen’s antiheroic, almost revolutionary poems introduced an enduring new archetype: the young soldier as a guileless victim, meaninglessly sacrificed to the vanity of civilians and politicians. Written, though not published during the war, Owen’s “Strange Meeting,” “The Parable of the Old Man and the Young,” and “Anthem for Doomed Youth,” especially, exemplify his judgment. Owen, a decorated officer who once described himself as a “pacifist with a very seared conscience,” portrays soldiers as young, helpless, innocent, and ill- starred. On the German side, the same theme pervades novelist Erich Maria Remarque’s All Quiet on the Western Front (1928): Lewis Milestone’s film adaptation (1930) is often ranked among the best war movies of all time. Unlike Crane, neither Owen nor Remarque detected in warfare any redeeming value; and by the late twentieth century, general revulsion of the educated against war solicited a wide acceptance of this sympathetic image among Western War, Literature & the Arts: an international journal of the humanities / Volume 32 / 2020 civilians—incomplete and sentimental as it is. -
Download the Monthly Film & Event Calendar
THU SAT WED 1:30 Film 1 10 21 3:10 to Yuma. T2 Events & Programs Film & Event Calendar 1:30 Film 10:20 Family Film FRI Gallery Sessions The Armory Party 2018 Beloved Enemy. T2 Tours for Fours. Irresistible Forces, Daily, 11:30 a.m. & 1:30 p.m. Wed, Mar 7, 9:00 p.m.–12:30 a.m. Education & Immovable 30 5:30 Film Museum galleries VIP Access at 8:00 p.m. Research Building Objects: The Films Film Janitzio. T2 of Amir Naderi. New Directors/ Join us for conversations and Celebrate the opening of The 10:20 Family 7:00 Film See moma.org/film New Films 2018. activities that offer insightful and Armory Show and Armory Arts A Closer Look for El Mar La Mar. T1 4:30 Film 1:30 Film 6:05 Event for details. See newdirectors.org unusual ways to engage with art. Week with The Armory Party SUN WED Kids. Education & FRI SAT MON Pueblerina. T2 Music by Luciano VW Sunday Sessions: for details. at MoMA—a benefit event with 7:30 Film Research Building 1:30 Film Limited to 25 participants 4 7 16 Berio and Bruno Hair Wars. MoMA PS1 24 26 live music and DJs, featuring María Calendaria. T2 7:30 Film Kings Go Forth. T2 10:20 Family 7:30 Event 2:00 Film Film Maderna. T1 Film Film platinum-selling artist BØRNS. Flor silvestre. T1 6:30 Film Art Lab: Nature Tours for Fours. Quiet Mornings. Victims of Sin. T2 Irresistible Forces, 4:30 Film Irresistible Forces, Irresistible Forces, 6:30 Film Music by Pink Floyd, Daily. -
Download the Monthly Film & Event Calendar
SAT 2:00 Film SAT 7:00 Film SAT 7:00 Film 4:00 Film Hale County Ugetsu. T3 Suzakumon. T2 The Devil’s Temple. Film & Event Calendar 7 This Morning, This 14 21 T2 Events & Programs 7:00 Film 10:20 Family Evening. T1 10:20 Family 10:20 Family WED An Evening with 6:30 Film Gallery Sessions Explore This! Activity Stations Tours for Fours. Tours for Fours. Tours for Fours. 4:30 Film Shannon Plumb. T2 Gonza the Spearman. Daily, 11:30 a.m. & 1:30 p.m. Sat, Apr 7 & Sun, Apr 8, Education & Education & Education & 25 The Nothing Factory. T2 Museum galleries 1:00–3:00 p.m. Floor 5 Research Building Research Building Research Building 1:30 Film T2 Mr. Blandings Builds 7:00 Film Join us for conversations and Explore art through fun and 10:20 Family 10:20 Family 10:20 Family His Dream House. T2 In the Last Days of activities that offer insightful and engaging activities for all ages. A Closer Look for MON A Closer Look for A Closer Look for SUN WED the City. T1 unusual ways to engage with art. Kids. Education & Kids. Education & Kids. Education & 4:30 Film Free with admission 1 4 Research Building 9 Research Building Research Building Gonza the Spearman. Limited to 25 participants SUN See moma.org for TUE T2 Family Films: Yum! Films 10:20 Family 7:30 Event 1:00 Family 1:30 Film 12:00 Family up-to-date listings. 29 Art Lab: Nature About Food Tours for Fours. -

Violence and Masculinity in Hollywood War Films During World War II a Thesis Submitted To
Violence and Masculinity in Hollywood War Films During World War II A thesis submitted to: Lakehead University Faculty of Arts and Sciences Department of History In partial fulfillment of the requirements for the degree in Master of Arts Matthew Sitter Thunder Bay, Ontario July 2012 Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-84504-2 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-84504-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distrbute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette thèse. Ni thesis. Neither the thesis nor la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent être imprimés ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

The American Indian in the American Film
THE AMERICAN INDIAN IN THE AMERICAN FILM Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in American Studies in the University of Canterbury by Michael J. Brathwaite 1981 ABSTRACT This thesis is a chronological examination of the ways in which American Indians have been portrayed in American 1 f.ilms and the factors influencing these portrayals. B eginning with the literary precedents, the effects of three wars and other social upheavals and changes are considered. In addition t-0 being the first objective detailed examination of the subj�ct in English, it is the first work to cover the last decade. It concludes that because of psychological factors it is unlikely that film-makers are - capable of advancing far beyond the basic stereotypes, and that the failure of Indians to appreciate this has repeatedly caused ill-feeling between themselves and the film-makers, making the latter abandon their attempts at a fair treatment of the Indians. ii TABLE OF CONTENTS Preface iii Chapter I: The Background of the Problem c.1630 to c.1900. 1 Chapter II: The Birth of the Cinema and Its Aftermath: 1889 to 1939. 21 Chapter III: World War II and Its Effects: 1940 to 1955. 42 Chapter IV: Assimilation of Separatism?: 1953 to 1965. 65 Chapter V: The Accuracy Question. 80 Chapter VI: Catch-22: 1965 to 1972. 105 Chapter VII: Back to the Beginning: 1973 to 1981. 136 Chapter VIII: Conclusion. 153 Bibliography 156 iii PREFACE The aim of this the.sis is to examine the ways in which the American Indians have been portrayed in American films, the influences on their portrayals, and whether or not they have changed. -

World War Ii and Us Cinema
ABSTRACT Title of Document: WORLD WAR II AND U.S. CINEMA: RACE, NATION, AND REMEMBRANCE IN POSTWAR FILM, 1945-1978 Robert Keith Chester, Ph.D., 2011 Co-Directed By: Dr. Gary Gerstle, Professor of History, Vanderbilt University Dr. Nancy Struna, Professor of American Studies, University of Maryland, College Park This dissertation interrogates the meanings retrospectively imposed upon World War II in U.S. motion pictures released between 1945 and the mid-1970s. Focusing on combat films and images of veterans in postwar settings, I trace representations of World War II between war‘s end and the War in Vietnam, charting two distinct yet overlapping trajectories pivotal to the construction of U.S. identity in postwar cinema. The first is the connotations attached to U.S. ethnoracial relations – the presence and absence of a multiethnic, sometimes multiracial soldiery set against the hegemony of U.S. whiteness – in depictions of the war and its aftermath. The second is Hollywood‘s representation (and erasure) of the contributions of the wartime Allies and the ways in which such images engaged with and negotiated postwar international relations. Contrary to notions of a ―good war‖ untainted by ambiguity or dissent, I argue that World War II gave rise to a conflicted cluster of postwar meanings. At times, notably in the early postwar period, the war served as a progressive summons to racial reform. At other times, the war was inscribed as a historical moment in which U.S. racism was either nonexistent or was laid permanently to rest. In regard to the Allies, I locate a Hollywood dialectic between internationalist and unilateralist remembrances. -

Inventory to Archival Boxes in the Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division of the Library of Congress
INVENTORY TO ARCHIVAL BOXES IN THE MOTION PICTURE, BROADCASTING, AND RECORDED SOUND DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS Compiled by MBRS Staff (Last Update December 2017) Introduction The following is an inventory of film and television related paper and manuscript materials held by the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress. Our collection of paper materials includes continuities, scripts, tie-in-books, scrapbooks, press releases, newsreel summaries, publicity notebooks, press books, lobby cards, theater programs, production notes, and much more. These items have been acquired through copyright deposit, purchased, or gifted to the division. How to Use this Inventory The inventory is organized by box number with each letter representing a specific box type. The majority of the boxes listed include content information. Please note that over the years, the content of the boxes has been described in different ways and are not consistent. The “card” column used to refer to a set of card catalogs that documented our holdings of particular paper materials: press book, posters, continuity, reviews, and other. The majority of this information has been entered into our Merged Audiovisual Information System (MAVIS) database. Boxes indicating “MAVIS” in the last column have catalog records within the new database. To locate material, use the CTRL-F function to search the document by keyword, title, or format. Paper and manuscript materials are also listed in the MAVIS database. This database is only accessible on-site in the Moving Image Research Center. If you are unable to locate a specific item in this inventory, please contact the reading room. -

Fyne on Suid, 'Sailing on the Silver Screen: Hollywood and the U.S. Navy'
H-Film Fyne on Suid, 'Sailing on the Silver Screen: Hollywood and the U.S. Navy' Review published on Monday, June 1, 1998 Lawrence Suid. Sailing on the Silver Screen: Hollywood and the U.S. Navy. Annapolis, M.D.: Naval Institute Press, 1996. xiv + 307 pp. $45.00 (cloth), ISBN 978-1-55750-787-7. Reviewed by Robert Fyne (Kean College) Published on H-Film (June, 1998) Positive Public Image As the author of two previous books about film and history, Lawrence Suid's reputation as a motion picture scholar needs little introduction. Both Guts & Glory and Propaganda in America-- stable titles in every bibliography--looked at America's love affair with combat photo-dramas and the influence, both overt and subliminal, that such adulation produced. Why is this? Why do male audiences, especially, adore war movies? Why do so many men plop down in front of television screens and cheer for Old Glory while crushing an empty beer can with one powerful hand? Is it some type of alter ego satisfaction? Some John Wayne syndrome? What propels such vicarious behavior? These questions are never simple but Dr. Suid's new book, Sailing on the Silver Screen: Hollywood and the U.S. Navy, offers some clear answers about the relationship between audience expectations and the military service. Focusing on the men who wear bell-bottom trousers and coats of Navy blue, this book examines ninety years of filmmaking between Hollywood and America's sea-going heroes, a symbiotic relationship that allowed producers to obtain--at little or no cost--personnel, equipment, and locations for movies filled with adventure, romance, and drama. -

American Culture and Submarine Warfare in the Twentieth Century
The University of Southern Mississippi The Aquila Digital Community Master's Theses Summer 8-2011 Beneath the Surface: American Culture and Submarine Warfare in the Twentieth Century Matthew Robert McGrew University of Southern Mississippi Follow this and additional works at: https://aquila.usm.edu/masters_theses Part of the Cultural History Commons, Military History Commons, and the United States History Commons Recommended Citation McGrew, Matthew Robert, "Beneath the Surface: American Culture and Submarine Warfare in the Twentieth Century" (2011). Master's Theses. 209. https://aquila.usm.edu/masters_theses/209 This Masters Thesis is brought to you for free and open access by The Aquila Digital Community. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of The Aquila Digital Community. For more information, please contact [email protected]. The University of Southern Mississippi BENEATH THE SURFACE: AMERICAN CULTURE AND SUBMARINE WARFARE IN THE TWENTIETH CENTURY by Matthew Robert McGrew A Thesis Submitted to the Graduate School of The University of Southern Mississippi in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Approved: Andrew A. Wiest ____________________________________ Director Andrew P. Haley ____________________________________ Michael S. Neiberg ____________________________________ Susan A. Siltanen ____________________________________ Dean of the Graduate School August 2011 ABSTRACT BENEATH THE SURFACE: AMERICAN CULTURE AND SUBMARINE WARFARE IN THE TWENTIETH CENTURY by Matthew Robert McGrew August 2011 Cultural perceptions guided the American use of submarines during the twentieth century. Feared as an evil weapon during the First World War, guarded as a dirty secret during the Second World War, and heralded as the weapon of democracy during the Cold War, the American submarine story reveals the overwhelming influence of civilian culture over martial practices. -

September 24, 2013 (XXVII:5) Delmer Daves, 3:10 to YUMA (1957, 92 Min)
September 24, 2013 (XXVII:5) Delmer Daves, 3:10 TO YUMA (1957, 92 min) National Film Registry—2012 Directed by Delmer Daves Written by Halsted Welles (screenplay) and Elmore Leonard (story) Music by George Duning Cinematography by Charles Lawton Jr. Edited by Al Clark Glenn Ford...Ben Wade Van Heflin...Dan Evans Felicia Farr...Emmy Richard Jaeckel...Charlie Prince DELMER DAVES (director)(b. Delmer Lawrence Daves, July 24, 1904, San Francisco, California—d. August 17, 1977, La Jolla, California) Daves wrote 50 films, among them 1965 The Battle of the Villa Fiorita, 1964 Youngblood Hawke, 1963 Spencer's Alma, Michigan—d. January 24, 1990) wrote 44 films and Mountain, 1959 A Summer Place, 1957 An Affair to Remember television shows, including 1976 “Doctors' Hospital” (TV (screenplay), 1956 The Last Wagon (screenplay), 1955 White series), 1973-1974 “Kojak” (TV series), 1971-1973 “Rod Feather (screenplay), 1954 Drum Beat (screenplay and story), Serling's Night Gallery” (TV series), 1969 “Mannix” (TV series), 1947 Dark Passage (screenplay), 1943 Destination Tokyo 1966 “12 O'Clock High” (TV series), 1965-1966 “The (screenplay), 1943 Stage Door Canteen (screenplay), 1940 The Virginian” (TV series), 1959-1962 “Alfred Hitchcock Presents” Farmer's Daughter (story), 1936 The Petrified Forest (TV series), 1960 “Bonanza” (TV series), 1957 3:10 to Yuma (screenplay), 1932 Divorce in the Family (screenplay and story), (screenplay), 1957 “The George Sanders Mystery Theater” (TV and 1929 Queen Kelly. In addition to writing, Daves directed 30 series), 1957 “Playhouse 90” (TV series), 1955 “Lux Video films, including 1965 The Battle of the Villa Fiorita, 1964 Theatre” (TV series), and 1949 The Lady Gambles (adaptation). -

La Flèche Brisée
Delmer Daves DOSSIER 171 La Flèche brisée COLLÈGE AU CINÉMA Avec la participation de votre Conseil général Les Fiches-élèves ainsi que des Fiches-films sont disponibles sur le site internet : www.lux-valence.com/image Base de données et lieu interactif, ce site, SYNOPSIS conçu avec le soutien du CNC, est un outil au service des actions pédagogiques, et de la diffusion d’une culture cinématographique En 1870, époque des « guerres apaches », le chercheur d'or Tom Jeffords, destinée à un large public. ancien éclaireur, se rend à Tucson (Arizona), appelé par le colonel Bernall. En chemin, il soigne un jeune Apache qui a été blessé par des soldats. Le Edité par le : garçon lui donne un talisman pour le remercier, quand quelques Apaches Centre National de la Cinématographie conduits par Goklia surgissent mais laissent la vie sauve à Jeffords. Un Ce dossier a été rédigé par : moment immobilisé, celui-ci assiste impuissant à l'embuscade improvisée Michel Cyprien, romancier et essayiste, que les Apaches tendent à des Blancs qui sont massacrés ou torturés. critique cinématographique. Frédéric Strauss, critique cinématographique À l'auberge de Tucson, Jeffords trouve Duffield le postier, le rancher Ben et auteur d'ouvrages sur le cinéma. Slade et son fils, le commerçant Lowry, et le seul rescapé de l'embuscade. Le colonel Bernall voudrait que Jeffords soit son éclaireur dans la guerre Les textes sont la propriété du CNC. contre les Apaches de Cochise. Mais Jeffords préfère aller rencontrer Remerciements : Cochise, qui lui promet que les Apaches n'attaqueront plus les courriers. Au Arthur Mas, Swashbuckler Films village apache, Jeffords tombe amoureux de la belle Sonseeahray.