Universidade Federal Do Espírito Santo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
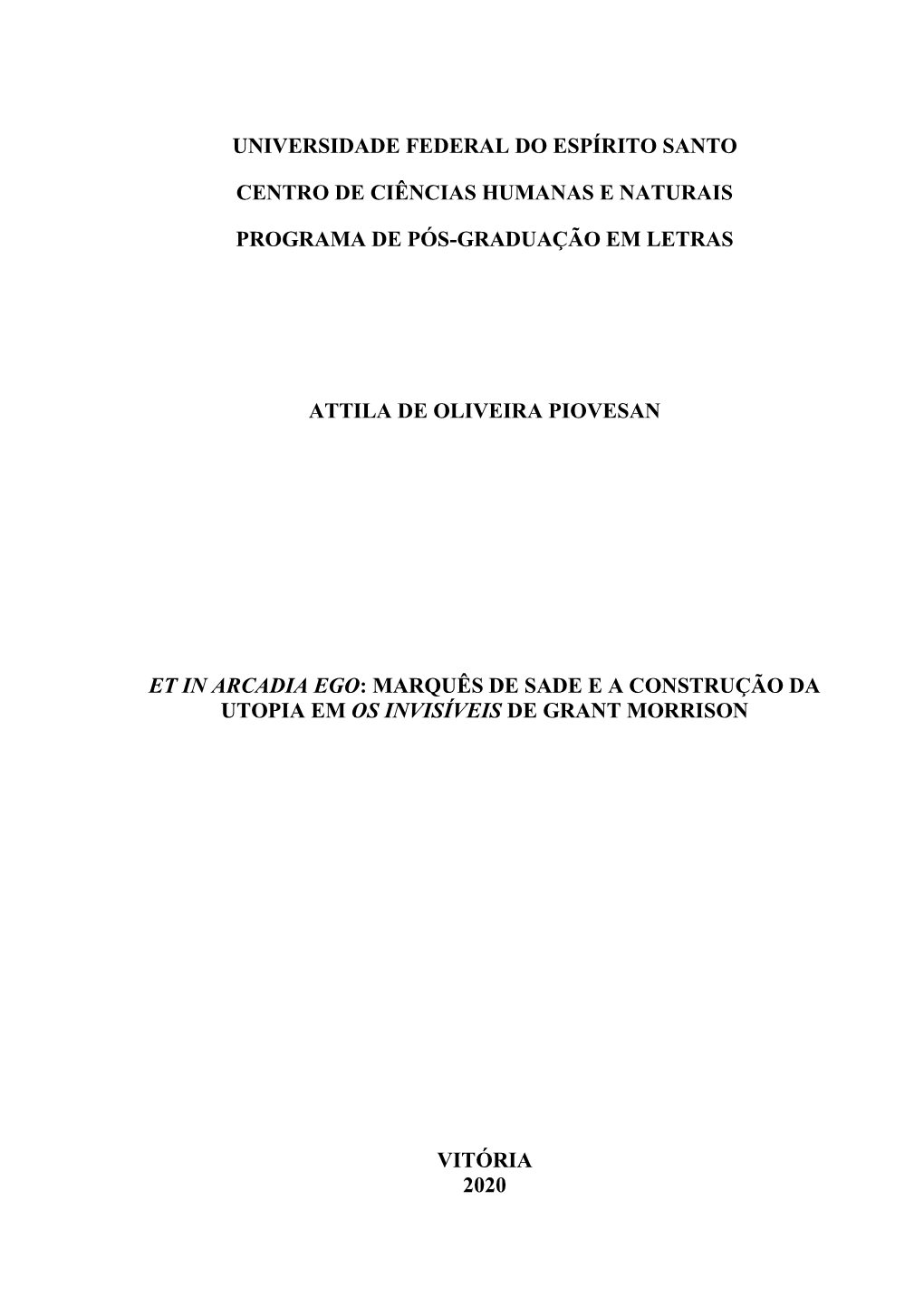
Load more
Recommended publications
-

Free Catalog
Featured New Items DC COLLECTING THE MULTIVERSE On our Cover The Art of Sideshow By Andrew Farago. Recommended. MASTERPIECES OF FANTASY ART Delve into DC Comics figures and Our Highest Recom- sculptures with this deluxe book, mendation. By Dian which features insights from legendary Hanson. Art by Frazetta, artists and eye-popping photography. Boris, Whelan, Jones, Sideshow is world famous for bringing Hildebrandt, Giger, DC Comics characters to life through Whelan, Matthews et remarkably realistic figures and highly al. This monster-sized expressive sculptures. From Batman and Wonder Woman to The tome features original Joker and Harley Quinn...key artists tell the story behind each paintings, contextualized extraordinary piece, revealing the design decisions and expert by preparatory sketches, sculpting required to make the DC multiverse--from comics, film, sculptures, calen- television, video games, and beyond--into a reality. dars, magazines, and Insight Editions, 2020. paperback books for an DCCOLMSH. HC, 10x12, 296pg, FC $75.00 $65.00 immersive dive into this SIDESHOW FINE ART PRINTS Vol 1 dynamic, fanciful genre. Highly Recommened. By Matthew K. Insightful bios go beyond Manning. Afterword by Tom Gilliland. Wikipedia to give a more Working with top artists such as Alex Ross, accurate and eye-opening Olivia, Paolo Rivera, Adi Granov, Stanley look into the life of each “Artgerm” Lau, and four others, Sideshow artist. Complete with fold- has developed a series of beautifully crafted outs and tipped-in chapter prints based on films, comics, TV, and ani- openers, this collection will mation. These officially licensed illustrations reign as the most exquisite are inspired by countless fan-favorite prop- and informative guide to erties, including everything from Marvel and this popular subject for DC heroes and heroines and Star Wars, to iconic classics like years to come. -

Growing up with Vertigo: British Writers, Dc, and the Maturation of American Comic Books
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by ScholarWorks @ UVM GROWING UP WITH VERTIGO: BRITISH WRITERS, DC, AND THE MATURATION OF AMERICAN COMIC BOOKS A Thesis Presented by Derek A. Salisbury to The Faculty of the Graduate College of The University of Vermont In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts Specializing in History May, 2013 Accepted by the Faculty of the Graduate College, The University of Vermont, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, specializing in History. Thesis Examination Committee: ______________________________________ Advisor Abigail McGowan, Ph.D ______________________________________ Melanie Gustafson, Ph.D ______________________________________ Chairperson Elizabeth Fenton, Ph.D ______________________________________ Dean, Graduate College Domenico Grasso, Ph.D March 22, 2013 Abstract At just under thirty years the serious academic study of American comic books is relatively young. Over the course of three decades most historians familiar with the medium have recognized that American comics, since becoming a mass-cultural product in 1939, have matured beyond their humble beginnings as a monthly publication for children. However, historians are not yet in agreement as to when the medium became mature. This thesis proposes that the medium’s maturity was cemented between 1985 and 2000, a much later point in time than existing texts postulate. The project involves the analysis of how an American mass medium, in this case the comic book, matured in the last two decades of the twentieth century. The goal is to show the interconnected relationships and factors that facilitated the maturation of the American sequential art, specifically a focus on a group of British writers working at DC Comics and Vertigo, an alternative imprint under the financial control of DC. -

Historical Influence of the Rosicrucian Fraternity on Freemasonry
Historical Influence of the Rosicrucian Fraternity on Freemasonry Introduction Freemasonry has a public image that sometimes includes notions that we practice some sort of occultism, alchemy, magic rituals, that sort of thing. As Masons we know that we do no such thing. Since 1717 we have been a modern, rational, scientifically minded craft, practicing moral and theological virtues. But there is a background of occult science in Freemasonry, and it is related to the secret fraternity of the Rosicrucians. The Renaissance Heritage1 During the Italian renaissance of the 15th century, scholars rediscovered and translated classical texts of Plato, Pythagoras, and the Hermetic writings attributed to Hermes Trismegistus, thought to be from ancient Egypt. Over the next two centuries there was a widespread growth in Europe of various magical and spiritual practices – magic, alchemy, astrology -- based on those texts. The mysticism and magic of Jewish Cabbala was also studied from texts brought from Spain and the Muslim world. All of these magical practices had a religious aspect, in the quest for knowledge of the divine order of the universe, and Man’s place in it. The Hermetic vision of Man was of a divine soul, akin to the angels, within a material, animal body. By the 16th century every royal court in Europe had its own astrologer and some patronized alchemical studies. In England, Queen Elizabeth had Dr. John Dee (1527- 1608) as one of her advisors and her court astrologer. Dee was also an alchemist, a student of the Hermetic writings, and a skilled mathematician. He was the most prominent practitioner of Cabbala and alchemy in 16th century England. -

Puritans and the Royal Society
Faith and Thought A Journal devoted to the study of the inter-relation of the Christian revelation and modern research Vol. 92 Number 2 Winter 1961 C. E. A. TURNER, M.Sc., PH.D. Puritans and the Royal Society THE official programme of the recent tercentenary celebrations of the founding of the Royal Society included a single religious service. This was held at 10.30 a.m. at St Paul's Cathedral when the Dean, the Very Rev. W. R. Matthews, D.D., D.LITT., preached a sermon related to the building's architect, Sir Christopher Wren. Otherwise there seems to be little reference to the religious background of the Society's pioneers and a noticeable omission of appreciation of the considerable Puritan participation in its institution. The events connected with the Royal Society's foundation range over the period 1645 to 1663, but there were also earlier influences. One of these was Sir Francis Bacon, Lord Verulam, 1561-1626. Douglas McKie, Professor of the History and Philosophy of Science, University College, London, in The Times Special Number, 19 July 1960, states that Bacon's suggested academy called Solomon's House described in New Atlantis (1627) was too often assumed to be influential in the founding of the Royal Society, much in the same way as Bacon's method of induction, expounded in his Novum Organum of 1620, has been erroneously regarded as a factor in the rise of modern science. But this may be disputed, for Bacon enjoyed considerable prestige as a learned man and his works were widely read. -

British Writers, DC, and the Maturation of American Comic Books Derek Salisbury University of Vermont
University of Vermont ScholarWorks @ UVM Graduate College Dissertations and Theses Dissertations and Theses 2013 Growing up with Vertigo: British Writers, DC, and the Maturation of American Comic Books Derek Salisbury University of Vermont Follow this and additional works at: https://scholarworks.uvm.edu/graddis Recommended Citation Salisbury, Derek, "Growing up with Vertigo: British Writers, DC, and the Maturation of American Comic Books" (2013). Graduate College Dissertations and Theses. 209. https://scholarworks.uvm.edu/graddis/209 This Thesis is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks @ UVM. It has been accepted for inclusion in Graduate College Dissertations and Theses by an authorized administrator of ScholarWorks @ UVM. For more information, please contact [email protected]. GROWING UP WITH VERTIGO: BRITISH WRITERS, DC, AND THE MATURATION OF AMERICAN COMIC BOOKS A Thesis Presented by Derek A. Salisbury to The Faculty of the Graduate College of The University of Vermont In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts Specializing in History May, 2013 Accepted by the Faculty of the Graduate College, The University of Vermont, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, specializing in History. Thesis Examination Committee: ______________________________________ Advisor Abigail McGowan, Ph.D ______________________________________ Melanie Gustafson, Ph.D ______________________________________ Chairperson Elizabeth Fenton, Ph.D ______________________________________ Dean, Graduate College Domenico Grasso, Ph.D March 22, 2013 Abstract At just under thirty years the serious academic study of American comic books is relatively young. Over the course of three decades most historians familiar with the medium have recognized that American comics, since becoming a mass-cultural product in 1939, have matured beyond their humble beginnings as a monthly publication for children. -

Kill Your Boyfriend/Vimanarama Deluxe Online
hnt3g [Mobile library] Kill Your Boyfriend/Vimanarama Deluxe Online [hnt3g.ebook] Kill Your Boyfriend/Vimanarama Deluxe Pdf Free Grant Morrison ePub | *DOC | audiobook | ebooks | Download PDF Download Now Free Download Here Download eBook #1166844 in Books 2016-03-01 2016-03-01Original language:EnglishPDF # 1 11.20 x .60 x 7.40l, .0 #File Name: 1401261426144 pages | File size: 61.Mb Grant Morrison : Kill Your Boyfriend/Vimanarama Deluxe before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Kill Your Boyfriend/Vimanarama Deluxe: 1 of 1 people found the following review helpful. Great Stories, Fantastic Art, Beautiful PresentationBy James DawsonTwo great stories by Grant Morrison, fantastic art on both by Philip Bond and everything's beautifully printed in this oversize Deluxe Edition. What more could you want? The humor is pitch black in "Kill Your Boyfriend" and charmingly deadpan in "Vimanarama" (which would make a terrific movie). Highly recommended! Two vibrant, disruptive and groundbreaking narratives from comics auteurs Grant Morrison and Philip Bondmdash;collected in their entirety for the first time ever! When yoursquo;re a teenager, any bad day can feel like the end of the worldmdash;especially in the stifling domesticity of English suburbia. The boredom of everyday life and the inescapability of bourgeois existence make death seem like an attractive option. But what happens when the excitement you crave actually arrives in full force? The answer may surprise you! In KILL YOUR BOYFRIEND, two young lovers trade middle-class security for murder, drugs and hormone-driven anarchy. Is unbridled hedonism really everything itrsquo;s cracked up to be? Of course it is! In VIMANARAMA, a nervous bride and groom anticipate their first meeting, only to be interrupted by immortal avatars of light and shadow battling over the fate of the world. -

The Roots of a Science of Consciousness in Hermetic Alchemy
The Roots of a Science of Consciousness in Hermetic Alchemy Dennis William Hauck, Ph.D. Go directly to the text of the paper Abstract Alchemy is not only the origin of systematic experimentation and chemistry but also the first attempt to create a cohesive science of consciousness. Those early philosophers of nature treated mental contents as objective phenomena, and they believed the universal operations used in their laboratories could transform a dark leaden mind into a shining golden one. The Hermetic philosophy behind alchemy taught that our thoughts and feelings are the thoughts and feelings of the whole universe, and that intrinsic perspective generated deep insight into the structure of mind. Alchemists viewed consciousness as a natural force that could be harnessed through a marriage of logic and intuition – a union of objective and subjective realities. Like modern seekers of a unified field theory, alchemists sought one true philosophy of universal principles that were as valid in Nature as they were in their own minds and souls, and in the One Mind of the Cosmos. The resulting cauldron of ideas on mind and matter leads to a truer understanding of the Philosopher’s Stone – not as an object but a state of mind. Les racines d’une Science de la Conscience dans l’Alchimie hermétique par Dennis William Hauck, Ph.D. Résumé L’Alchimie n’est pas seulement à l’origine de l’expérimentation systématique et de la chimie, elle constitue également la première tentative de créer une science de la conscience. Ces premiers philosophes de la nature tenaient le contenu du mental pour un phénomène objectif ; ils croyaient en effet que les opérations universelles, qu’ils effectuaient dans leurs laboratoires, étaient en mesure de transformer un esprit sombre de plomb en un d’or resplendissant. -

Royal Society a Collection of Quotations
The Royal Society A collection of quotations "We can be sure that the Royal society germinated from the hothouse of thinking that was released by Bacon's definition of the Second Degree of Freemasonry well before people such as Ashmole and Wilkins pieced it all back together after the traumas of the Civil War." - Christopher Knight & Robert Lomas, The Hiram Key: Pharaohs, Freemasons and the Discovery of the Secret Scrolls of Jesus "We date the formation [of the British Royal Society] earlier than was previously thought. There was a series of meetings in England in 1640. This is an important year because it was the beginning of the Long Parliament. Comenius and Samuel Hartlib were involved. Comenius was originally from Bohemia, and was in the Palatinate during the fateful Rosecrucian years, along with the Englishman Samuel Hartlib, with whom he was in close contact. With the defeat of the Palatinate they both, through different routes, end up in England. When the Long Parliament started, there was another outburst of ecstatic literature [following the dissemination of Rosecrucian pamphlets]. One piece written by Hartlib in 1640, "A Description of the Famous Kingdom of Macaria," is a utopian work addressed to the attention of the Long Parliament. A year later, Comenius wrote 'The Way of Light'. They call for an 'Invisible College', which is a Rosicrucian code name." "Now the plot thickens. In 1645, a meeting takes place for a discussion of the natural sciences. Present at the meeting are Mr. Theodore Haak from the Palatinate and Dr. John Wilkins, who at the time was the chaplain to the elector of Palatine. -

Read Ebook {PDF EPUB} Winter's Edge by Neil Gaiman Journal
Read Ebook {PDF EPUB} Winter's Edge by Neil Gaiman Journal. Why you should see WINTER'S TALE and other deep thoughts about stuff. Last night, I went to see WINTER'S TALE , Mark Helprin's remarkable novel, made into a film by writer (and now director) Akiva Goldsman. Firstly: I really, really enjoyed it. Akiva took a huge, sprawling novel that spans over a hundred years and took the elements he needed from it to tell the story he had to tell. He made it small, of necessity. It's a fantasy movie, with demons and angels and a flying horse: it contains a noble burglar, a beautiful dying pianist, an absolutely terrifying Russell Crowe, Will Smith stealing scenes as Lucifer, and New York, New York all the way. Secondly, I'd seen a trailer or two before I went to see it. And the trailer is, well it's wrong. It tells you it's going to be a specific kind of movie and it isn't that. It's not really a love story, small l about the love between two attractive people who want to do kissing, although it may be a Love story (capital L about Love, and who and what we love, and why, and what it means for those we love to die). If you like fantasy, or New York, or magical realism, you should see it. You really should. (You should also read the book. And John Crowley's novel Little, Big, which was published about the same time.) The screening audience loved it. -

A Guide to Banned, Challenged, and Controversial Comics and Graphic
READ BANNED COMIC A Guide to Banned, Challenged and Controversial Comics and Graphic Novels Comic Book Legal Defense Fund Director’s Note is a non-profit organization dedi- cated to the protection of the First Happy Banned Books Week! Amendment rights of the comics art form and its community of Every year, CBLDF joins a chorus of readers, advo- retailers, creators, publishers, cates, and organizations to mark the annual cele- librarians, educators, and readers. CBLDF provides legal bration of the freedom to read! We hope you’ll join referrals, representation, advice, us in the celebration by reading banned comics! assistance, and education in furtherance of these goals. In the pages ahead, you’ll see a sampling of the many, many titles singled out for censorship in STAFF American libraries and schools. Censorship has Charles Brownstein, Executive Director Alex Cox, Deputy Director broad targets, from books that capture the unique Georgia Nelson, Development Manager challenges of younger readers, such as Drama by Patricia Mastricolo, Editorial Coordinator Raina Telgemeier and This One Summer by Mariko Robert Corn-Revere, Legal Counsel and Jillian Tamaki, to the frank discussion of adult BOARD OF DIRECTORS ADVISORY BOARD identity found in Fun Home by Alison Bechdel Christina Merkler, President Neil Gaiman & and Maus by Art Spiegelman. The moral, vision- Chris Powell, Vice President Denis Kitchen, Co-Chairs Ted Adams, Treasurer Susan Alston ary realities of authors like Brian K. Vaughan, Neil Dale Cendali, Secretary Greg Goldstein Gaiman, and Alan Moore have all been targeted. Jeff Abraham Matt Groening Jennifer L. Holm Chip Kidd Even the humor and adventure of Dragon Ball and Reginald Hudlin Jim Lee Bone have come under fire. -

Rosicrucian Society Essay Meanings of the Rose Croix
ROSICRUCIAN SOCIETY ESSAY MEANINGS OF THE ROSE CROIX TRADITION HARRY V. EISENBERG, M.D., Vl 0 Rose Croix, also called Rose Cross or The Rosy Cross, is an Order whose symbol is a red cross with a white rose at its center. Its founder was the semi-mythical Christian Rosenkreuz, who was a Kabba list and alchemist and founder of the Rosicrucian Order. This symbol exemplified the teachings of a tradition formed within the Christian tenets and represented by the following quote which defined itself: "What think you loving people, and how seem you affected, seeing that you now understand and know, that we acknowledge ourselves truly and sincerely to profess Christ, condemn the Pope, addict ourselves to the true Philosophy, lead a Christian life, and daily call, entreat and invite many more unto our Fraternity, unto whom the same Light of God likewise appeareth?"1 However, the symbol had several meanings depending on the source. From a non sectarian or non-religious viewpoint, represented by a group such as the Ancient and Mystical Order Rosae Crucis, it was said that the rosy cross predated Christianity and that the cross represented the human body and the rose represented man's unfolding consciousness. 2 The Rosicrucian Fellowship and similar rosicrucianists holding an esoteric Christian viewpoint maintained that the Rosicrucian Brotherhood was founded in the early 14th century.3 It began as an Invisible College of mystic sages, as previously mentioned, by a highly evolved entity with the symbolic name of Christian Rosenkreuz, with the mission of "preparing a new phase of the Christian religion to be used during the coming age now at hand, for as the world and man evolve, so also must religion change."4 We can define Rosicrucianism in a generic sense as the study or membership in a philosophical secret society founded in late medieval Germany by Christian Rosenkreuz. -

GRANT MORRISON Great Comics Artists Series M
GRANT MORRISON Great Comics Artists Series M. Thomas Inge, General Editor Marc Singer GRANT MORRISON Combining the Worlds of Contemporary Comics University Press of Mississippi / Jackson www.upress.state.ms.us The University Press of Mississippi is a member of the Association of American University Presses. Copyright © 2012 by University Press of Mississippi All rights reserved Manufactured in the United States of America First printing 2012 ∞ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Singer, Marc. Grant Morrison : combining the worlds of contemporary comics / Marc Singer. p. cm. — (Great comics artists series) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-61703-135-9 (cloth : alk. paper) — ISBN 978- 1-61703-136-6 (pbk. : alk. paper) — ISBN 978-1-61703-137-3 (ebook) 1. Morrison, Grant—Criticism and interpretation. 2. Comic books, strips, etc.—United States—History and criticism. I. Title. PN6727.M677Z86 2012 741.5’973—dc22 2011013483 British Library Cataloging-in-Publication Data available Contents vii Acknowledgments 3 Introduction: A Union of Opposites 24 CHAPTER ONE Ground Level 52 CHAPTER TWO The World’s Strangest Heroes 92 CHAPTER THREE The Invisible Kingdom 136 CHAPTER FOUR Widescreen 181 CHAPTER FIVE Free Agents 221 CHAPTER SIX A Time of Harvest 251 CHAPTER SEVEN Work for Hire 285 Afterword: Morrison, Incorporated 293 Notes 305 Bibliography 317 Index This page intentionally left blank Acknowledgments This book would not have been possible without the advice and support of my friends and colleagues. Craig Fischer, Roger Sabin, Will Brooker, and Gene Kannenberg Jr. generously gave their time to read the manuscript and offer feedback. Joseph Witek, Jason Tondro, Steve Holland, Randy Scott, the Michigan State University Library Special Collections, and the George Washington University Gelman Library provided me with sources and images.