39º Encontro Anual Da Anpocs SPG14
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Post-Capitalist Struggles in 21St Century Latin America: Cooperation, Democracy and State Power
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by YorkSpace POST-CAPITALIST STRUGGLES IN 21ST CENTURY LATIN AMERICA: COOPERATION, DEMOCRACY AND STATE POWER MANUEL LARRABURE A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO DECEMBER 2016 © Manuel Larrabure 2016 Abstract This dissertation develops the concept of ‘post-capitalist struggles’. This concept highlights how a post-capitalist future is a recurring moment within the capitalist present and can be developed through struggles that express the latent powers found within what Marx called ‘the collective worker’. Using a comparative and historical framework, I examine four case studies in Latin America: Venezuela’s socialist enterprises, Argentina’s recuperated factories, the Chilean student movement and the Brazilian transit movement. In expressing new values and practices, such as collective management, solidarity and participatory democracy, and their ability to develop the political capacities to formulate clear demands and strategies through the state, these four cases can indeed be considered examples of post-capitalist struggles. However, as mere glimpses of the future, these struggles display number of contradictions and ambiguities, particularly in relation to democratic practice and political organization. This is most marked in struggles that originate in the sphere of capitalist reproduction. A comparative analysis of the four cases also reveals the possibilities and limits of Latin America’s ‘pink tide’. These are found in what I call the ‘neostructuralist bargain’. Through this bargain, vulnerable sectors of the population become the target of small economic reforms that evidence a departure from the neoliberal orthodoxy of previous decades. -

Debates Do NER, Porto Alegre, Ano 16, N
ano 16 DEBATES número 27 DO NER jan./jun. 2015 RELIGIÃO, POLÍTICA, ELEIÇÕES E espaço PÚBLICO PUBLICAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO DO PROGRAMA DE PÓS‑GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Debates do NER, Porto Alegre, ano 16, n. 27, jan./jun. 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Reitor: Carlos Alexandre Netto INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS Diretora: Soraya Maria Vargas Cortes PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL Coordenador: Carlos Alberto Steil EXPEDIENTE CONSELHO EDITORIAL Núcleo de Estudos da Religião – NER André Corten – Université de Québec (Canadá) Programa de Pós‑Graduação em Antropologia Social – Cecília Loreto Mariz – Universidade Estadual do Rio de IFCH/UFRGS Janeiro (Brasil) Av. Bento Gonçalves, 9500 – 91509‑900 – Porto Alegre – RS Marcelo Camurça – Universidade Federal de Juiz de Fora Fone: (51) 3308‑6866 / E‑mail: [email protected] (Brasil) www.ufrgs.br/ner Marjo de Theije – Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda) INDEXADORES Maria das Dores Machado – Universidade Federal do Rio Latindex; Index Copernicus; EBSCO; RCAAP; DOAJ ‑ de Janeiro (Brasil) Directory of Open Access Journals. María Julia Carozzi – Universidad Católica de Buenos EDITOR Aires (Argentina) Carlos Alberto Steil Otávio Velho – Universidade Federal do Rio de Janeiro Rodrigo Toniol (Brasil) COMISSÃO EDITORIAL EXECUTIVA Patrícia Birman – Universidade Estadual do Rio de Janeiro Ari Pedro Oro (Brasil) Bernardo Lewgoy Renzo Pi Hugarte – Universidad de la República (Uruguai) Emerson Giumbelli -
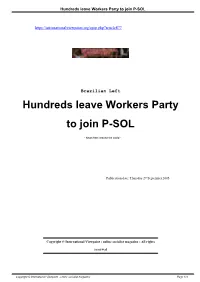
Hundreds-Leave-Workers-Party-To-Join
Hundreds leave Workers Party to join P-SOL https://internationalviewpoint.org/spip.php?article877 Brazilian Left Hundreds leave Workers Party to join P-SOL - News from around the world - Publication date: Thursday 29 September 2005 Copyright © International Viewpoint - online socialist magazine - All rights reserved Copyright © International Viewpoint - online socialist magazine Page 1/3 Hundreds leave Workers Party to join P-SOL There has beena significant walkout of Left activists from the Brazilian Workers Party (PT), to join the Party of Socialism and Freedom (P-SOL). Reports said that:- 1. Last Saturday (24 September) saw a public meeting in Fortaleza, capital of Ceara state, with PSOL senator Heloisa Helena present, at which João Alfredo, (a PT member of the Lower House of Congress for Ceara state who supports Democracia Socialista (DS), a current close to the Fourth International), along some 2/3 of the local membership of DS, publicly announced they were leaving the PT to join the PSOL. Ceara has been the strongest base of Democracia Socialista after Rio Grande do Sul. Local reports say this could mean 150-200 DS supporters joining the P-SOL. [https://internationalviewpoint.org/IMG/jpg/new_parliamentariansiv1.jpg] Existing PSOL national and state parliamentarians at press conference with those newly recruited from the PT. Heloisa Helena in white (front). João Alfredo at back centre (with beard and glasses). Fortaleza Mayor, Luizianne Lins, and the other prominent DS members in Ceara are, for the time being, remaining in the PT. João Alfredo and the others have said they will continue to support her administration from the PSOL. -

Pontifícia Universidade Católica De São Paulo Marcelo Maurício De Morais a Estrutura Organizacional Do Partido Socialismo E
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Marcelo Maurício de Morais A estrutura organizacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Mestrado em Ciências Sociais São Paulo 2017 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo A estrutura organizacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Marcelo Maurício de Morais Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de de Mestre em Ciências Sociais. Sob a Orientação do: Prof. Dr. Rafael de Paula Aguiar Araújo São Paulo 2017 Banca Examinadora _________________________________ _________________________________ _________________________________ Agradecimentos Ao Prof. Dr. Rafael de Paula Aguiar Araújo, pela orientação segura e imparcial, pelo apoio e dedicação para elaboração dessa dissertação. Não teria enfrentado essa empreitada com autonomia e confiança sem seu apoio. À prof. doutora Vera Lúcia Michalany Chaia e ao prof. doutor Claudio Couto, pelas inestimáveis observações, críticas e sugestões realizadas no exame de qualificação. À Silvana Silva, minha esposa, pelo apoio e incentivo nessa difícil empreitada. Ao CNPq pela bolsa concedida durante o mestrado. Resumo O objetivo desta dissertação é fazer uma análise do processo de formação e institucionalização do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a fim de verificar sua estrutura organizacional, bem como compreender como um partido surgido no âmbito parlamentar pode se propor como referência da esquerda brasileira. Percebemos essa premissa -

Brazilian Political Science Review Vol 6, No 1
bpsr brazilianpoliticalsciencereview a journal of the brazilian political science association Volume 6 Number 1 2012 EDITORS EDITORIAL COMMITTEE Gilberto Hochman (Fiocruz, Brazil) Adam Przeworski (New York University, USA) Leticia Pinheiro (IRI/PUC-Rio, Brazil) Ana Maria Mustapic (Instituto Torcuato Di Tella, Argentina) Fernando Limongi (USP, CEBRAP, Brazil) Marcus Figueiredo (IESP/UERJ, Brazil) [email protected] Maria Rita Loureiro (FGV, Brazil) EDITORIAL BOARD Alcides da Costa Vaz (UnB, Brazil) - Andrew Hurrell (Oxford University, United Kingdom) - Argelina Cheibub Figueiredo (CEBRAP; IESP/UERJ, Brazil) - Candido Mendes (UCAM, Brazil) - Carlos Acuña (Universidad de San Andrés, Argentina) - Carlos Huneeus (Universidad de Chile, Chile) - Celi Pinto (UFRGS, Brazil) - Cícero Araújo (USP, Brazil) - Constanza Moreira (Universidad de la República, Uruguay) - Dal Choong Kim (Yonsei University, Korea) - David Altman (Universidad Católica de Chile, Chile) - Dirk Berg-Schlosser (Institut für Politikwissenschaft, Germany) - Eduardo Viola (UnB, Brazil) - Fabio Wanderley Reis (UFMG, Brazil) - Gisele Cittadino (PUC-Rio, Brazil) - Glaucio Soares (IESP/UERJ, Brazil) - José Antônio Borges Cheibub (University of Illinois, USA) - Jose Maria Maravall (Instituto Juan March, Spain) - Kay Lawson (San Francisco State University, USA) - Laurence Whitehead (Oxford University, United Kingdom) - Lourdes Sola (USP, Brazil) - Manuel Villaverde Cabral (Univesidade de Lisboa, Portugal) - Marcelo Cavarozzi (Universidad Nacional de San Martín, Argentina) - Marcelo Jasmin -

Brazil's Constitution of 1988 on Its Twentieth Anniversary
BRAZIL’S CONSTITUTION OF 1988 ON ITS TWENTY FIRST ANNIVERSARY: WHERE WE STAND NOW Luís Roberto Barroso1 Summary: Introduction. The arrival of the royal family and the 1988 Constitution. Part I. From military regime to constitutional democracy. I. The long road. 1. 1964-1985: the rise and fall of the military regime. 2. Convening and nature of the Constitutional Assembly. 3. The work of drafting the Constitution. 4. The approved text. II. The consolidation of Brazilian democracy. 1. The institutional success of the Constitution of 1988. 2. The Fernando Collor and Itamar Franco administrations. 3. The Fernando Henrique Cardoso administration. 4. The Luís Inácio Lula da Silva administration. Part II. Performance of the institutions. I. Executive Branch. II. Legislative Branch. III. Judicial Branch. Conclusion. The victory of democratic constitutionalism. I. What remains to be done. II. What we should celebrate. Introduction THE ROYAL FAMILY’S ARRIVAL AND THE 1988 CONSTITUTION Brazil lagged sorely behind until 1808. It was only three hundred years after its discovery2, with the arrival of the Portuguese royal family, that Brazil began to develop a sense of national identity3. Until then, the ports served Portugal exclusively. Local manufacturing was prohibited by Portuguese authorities, as was the construction of roads. There were no high-level education institutions, only elementary schools run by the Catholic Church. More than 98% of the Brazilian population was illiterate, and in the absence of currency, bartering was the order of the day. One out of every three persons was a slave, and slavery would persist for yet 1 Professor of Constitutional Law, Rio de Janeiro State University – UERJ. -

A Representação Da Mulher Na Câmara Dos Deputados: Trajetória, Atuação Política E Reeleição Das Parlamentares Gaúchas No Período De 2007 a 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS INSTITUTO DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS Dissertação A Representação da Mulher na Câmara dos Deputados: trajetória, atuação política e reeleição das parlamentares gaúchas no período de 2007 a 2011 Isabel Cristina de Carvalho Fonseca Pelotas, 2012 Isabel Cristina de Carvalho Fonseca A Representação da Mulher na Câmara dos Deputados: trajetória, atuação política e reeleição das parlamentares gaúchas no período de 2007 a 2011 Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, do Instituto de Sociologia e Política da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências Sociais. Orientadora: Profª Drª Rosangela Schulz Pelotas, 2012 Agradecimentos Primeiramente, acima de tudo e todos, a Deus, meu Criador, que sempre renova minhas forças e, mesmo quando tudo diz que não, me faz prosseguir. Ao meu esposo, Rogério, companheiro de todas as horas e que me apóia em tudo que desejo fazer. Aos meus filhos, Davi e Gabriela, por simplesmente existirem e tornarem meus dias mais coloridos e alegres. À professora e orientadora Rosangela Schulz pelo incentivo e amizade e por todas as sugestões, críticas e orientações ao longo deste trabalho. Aos demais professores do programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas, e em especial, ao Professor Álvaro Barreto, sempre disposto a ajudar. À professora Céli Pinto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelas preciosas sugestões quando participou da banca de qualificação. À Professora Janete Otte, Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional do IFSul, que me deu incentivo e apoio.