CINEMATECA PORTUGUESA-MUSEU DO CINEMA E a VIDA CONTINUA 10 De Julho De 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Copyright by Joseph Paul Moser 2008
Copyright by Joseph Paul Moser 2008 The Dissertation Committee for Joseph Paul Moser certifies that this is the approved version of the following dissertation: Patriarchs, Pugilists, and Peacemakers: Interrogating Masculinity in Irish Film Committee: ____________________________ Elizabeth Butler Cullingford, Co-Supervisor ____________________________ Neville Hoad, Co-Supervisor ____________________________ Alan W. Friedman ____________________________ James N. Loehlin ____________________________ Charles Ramírez Berg Patriarchs, Pugilists, and Peacemakers: Interrogating Masculinity in Irish Film by Joseph Paul Moser, M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin August 2008 For my wife, Jennifer, who has given me love, support, and the freedom to be myself Acknowledgments I owe many people a huge debt for helping me complete this dissertation. Neville Hoad gave me a crash course in critical theory on gender; James Loehlin offered great feedback on the overall structure of the study; and Alan Friedman’s meticulous editing improved my writing immeasurably. I am lucky to have had the opportunity to study with Charles Ramírez Berg, who is as great a teacher and person as he is a scholar. He played a crucial role in shaping the chapters on John Ford and my overall understanding of film narrative, representation, and genre. By the same token, I am fortunate to have worked with Elizabeth Cullingford, who has been a great mentor. Her humility, wit, and generosity, as well as her brilliance and tenacity, have been a continual source of inspiration. -

U.N. Council Hunts Way to End Gulf
W eekend: Singles Coventry: Planner insists he’s qualified / page 3 mingle at the Civic T Center / page 9 NFL: Little hope for quick settiement / page 23 aurlipstrr HrraiJi ManchRStRr - A City n! VillnijR Chdrm Friday,I iiw a j, Sept. 25, 1987IWOf 30 Cents S U.N. council Storyteller spins hunts way to modern-day tales B y IS E X1SIR: ‘ By Andrew J. Davis Clements is doing his best to try Herald Reporter to teach children such modern- end gulf war day morals. He said his stories jROPEI Children at Bowers Elemen are non-violent, non-sexist and tary School sat intently listening non-racist. UNITED NATIONS (AP) - The td a story about a blg-cjty ant. "These are children learning N»k 1 U.N. Security Council today dls- The children la u g h ^ and things." he said. Modem char ■ v .tl cusseg ways to end the Persian Gulf Related stories smiled as the storyteller acters, such as Rambo, don’t war, one day after the United States on page 7 weaved his carefully chosen teach children much about and the Soviet Union stressed the words, creating an image that P compassion, he said. importance of a common front in became a presence as the story He prefers to" tell his own stopping the conflict. grew longer. stories because stories of old Security Council President Obed 20 cease-fire resolution. But reports published today said “ Alfred the Ant" was the relate the values of the time Asamoah of Ghana summoned the big-city insect and Jehan Cle they were written. -

From Curtis to Eleanor, What Splendor In-Between; from Curtis to Eleanor, Was It Only a Dream
From Curtis Ken Curtis To Eleanor Eleanor Parker An exercise in Proximity and Happenstance by Clark N. Nelson, Sr. (May be updated periodically: Last update 06-07-20) 1 Prelude The quality within several photographs, in particular, those from the motion pictures ‘Untamed Women’, ‘Santa Fe Passage’, and ‘The King and Four Queens’, might possibly prove questionable, yet were included based upon dwindling sources and time capsule philosophy. Posters and scenes relevant to the motion picture ‘Only Angels Have Wings’ from 1939 are not applicable to my personal accounts, yet are included based upon the flying sequences above Washington County by renowned all-ratings stunt pilot Paul Mantz. Acknowledgements I would like to acknowledge the following individuals for their contributions as well as those providing encouragements toward completion of this document: Emma Fife Pete Ewing LaRee Jones Heber Jones Eldon Hafen George R. Cannon. Jr. Winona Crosby Stanley Don Hafen Jim Kemple Rod Kulyk Kelton Hafen Bert Emett 2 Index Page Overture 4 Birth of a Movie Set 4 Preamble 8 Once Upon a Dime 19 Recognize this 4 year-old? 20 Rex’s Fountain 9 Dick’s Cafe 15 The Films Only Angels Have Wings 22 Stallion Canyon 26 Untamed Women 29 The Vanishing American 46 The Conqueror 51 Santa Fe Passage 71 Run of the Arrow 90 The King and Four Queens 97 3 Overture From the bosom of cataclysmic event, prehistoric sea bed, riddles in sandstone; petrified rainbows, tectonic lava flow; a world upside down; cataclysmic brush strokes, portraits in cataclysm; grandeur in script, grandeur in scene. -

Have Gun Won’
Have Gun Won’t Travel According to the podiatrist, I have a heel spur in my left foot that is causing the pain and discomfort that I am experiencing. It is something that is manageable and treatable without surgery. That is good news. I love it when the body shows itself capable of making the corrections needed to fix whatever pain is being caused. The bad news is that for the time being, I’ve got a little hitch in my gitalong. I’m moving around like Chester from Gunsmoke. Gunsmoke was an iconic radio and TV show. It was conceived as a radio program in 1952 where it ran until 1961 starring Bill Conrad as Marshall Matt Dillon. In the 60s it made the transition to television with James Arness as the star. There it ran for another 20 years making it the longest running American made television program in US history. (The Simpsons is poised to finally break that record sometime in 2019.) Here are a few trivia facts: Gunsmoke produced a total of 635 television episodes during its span, not to mention a few reunion shows that aired after its cancellation. The first episode was introduced by legendary cowboy star John Wayne who encouraged viewers to “get used” to this 6’ 7” newcomer James Arness as he was going to become a big star. Chester’s limp was devised by Dennis Weaver who played him. He thought it would help identify him to audiences as the “sidekick.” The phrase “Get the hell out of Dodge” was said to have been popularized by the show. -

CONNEMARA Galway
CONNEMARA Galway Vol. XII — No. 144 Spanish Armada Memorial Centre Grange and Armada Development Association Grange, Sligo | Old Courthouse (green doors) At Ireland Ascending we have written extensively about the local, national, and international efforts in recovering the shipwrecks at Streedagh Beach. As Irish American children, myself & my siblings first heard of the ‘legend’ of Armada shipwrecks somewhere off the Sligo coastline — from my county Sligo born immigrant mother, Bridget Hannon (Ó hAnnáin). In 1985, that legend became Fact. In 2015, both siege & ships cannons were raised from the La Juliana (Spain). Resting nearby are the La Lavia (Venice) and the La Santa María de Visón (Sicily), neither of which have yet given up their secrets (all 3 were mediterranean merchant ships pressed into service by King Philip II). The Spanish Armada was not defeated by England, but by a great storm (1588) of the Wild Atlantic Way that carried one ship to Norway and two to Scotland. Ireland’s west coast counties Donegal, Sligo, Mayo, Galway, Clare and Kerry have 28 known Armada shipwrecks — with others further off the coastline deep in the Atlantic. Year 2020: View Event & Spain’s Ambassador to Ireland Ildefonso Castro’s comments which were held online for Covid-19 reasons: https://youtu.be/EMpQb3uuYQo Year 2015: View a La Juliana Cannon recovery here: https://youtu.be/a_6nxyarrog Eddie O’Gorman chair has invited noted guests from abroad to Grange for annual visits. The Memorial museum will be reopening in early July. Credit also to Cllr. Marie Casserly and Sligo County Council. For more visit www.SpanishArmadaIreland.com ©MMXXI Ken Hannon Larson, Ireland Ascending.com The Quiet Man Movie Off - The - Set Photos Recently the National Museum Of Ireland received “negative glass plates” taken by an unknown professional photographer in Cong, Co. -

GUNSMOKE TV CAST and DETAILS Premiered
GUNSMOKE TV CAST AND DETAILS Premiered: September 10, 1955, on CBS Rating: TV-PG Premise: This landmark adult Western centered on Marshal Matt Dillon of Dodge City. John Wayne turned down the lead, suggesting James Arness (who remained for its entire run). Originating on radio (with William Conrad as Dillon), it moved to TV in September 1955. Its popularity spawned a number of copycats, but none would enjoy the longevity (and few the consistent quality) of this classic. Airing for 20 years, it's TV's longest running prime-time drama (a record that `Law & Order' is currently chasing). Gunsmoke Cast • James Arness : Marshal Matt Dillon • Milburn Stone : Dr. Galen `Doc' Adams • Amanda Blake : Kitty Russell • Dennis Weaver : Chester Goode • Ken Curtis : Festus Haggen • Burt Reynolds : Quint Asper • James Nusser : Louie Pheeters • Charles Seel : Barney Danches • Howard Culver : Howie Culver • Tom Brown : Ed O'Connor • John Harper : Percy Crump • Dabbs Greer : Mr. Jonus • George Selk : Moss Grimmick • Hank Patterson : Hank Miller • Glenn Strange : Sam • Sarah Selby : Ma Smalley • Ted Jordan : Nathan Burke • Roger Ewing : Clayton Thaddeus `Thad' Greenwood • Roy Roberts : Mr. Bodkin • Woody Chamblis : Mr. Lathrop • Buck Taylor : Newly O'Brien • Charles Wagenheim : Halligan • Pat Hingle : Dr. John Chapman • Fran Ryan : Miss Hannah Gunsmoke Credits • Sam Peckinpah : Screenwriter Gunsmoke Directors • Harry Horner : Director Gunsmoke Guest Cast • Aaron Saxon : Basset • Aaron Spelling : Weed Pindle • Abraham Sofaer : Harvey Easter • Adam West : Hall -

University of Oklahoma Libraries Western History Collections Bob
University of Oklahoma Libraries Western History Collections Bob Burke Autographs of Western Stars Collection Autographed Images and Ephemera Box 1 Folder: 1. Roy Acuff Black-and-white photograph of singer Roy Acuff with his separate autograph. 2. Claude Akins Signed black-and-white photograph of actor Claude Akins. 3. Alabama Signed color photograph of musical group Alabama. 4. Gary Allan Signed color photograph of musician Gary Allan. 5. Rex Allen Signed black-and-white photograph of singer, actor, and songwriter Rex Allen. 6. June Allyson Signed black-and-white photograph of actor June Allyson. 7. Michael Ansara Black-and-white photograph of actor Michael Ansara, matted with his autograph. 8. Apple Dumpling Gang Black-and-white signed photograph of Tim Conway, Don Knotts, and Harry Morgan in The Apple Dumpling Gang, 1975. 9. James Arness Black-and-white signed photograph of actor James Arness. 10. Eddy Arnold Signed black-and-white photograph of singer Eddy Arnold. 11. Gene Autry Movie Mirror, Vol. 17, No. 5, October 1940. Cover signed by Gene Autry. Includes an article on the Autry movie Carolina Moon. 12. Lauren Bacall Black-and-white signed photograph of Lauren Bacall from Bright Leaf, 1950. 13. Ken Berry Black-and-white photograph of actor Ken Berry, matted with his autograph. 14. Clint Black Signed black-and-white photograph of singer Clint Black. 15. Amanda Blake Signed black-and-white photograph of actor Amanda Blake. 16. Claire Bloom Black-and-white promotional photograph for A Doll’s House, 1973. Signed by Claire Bloom. 17. Ann Blyth Signed black-and-white photograph of actor and singer Ann Blyth. -

WB Yeats, the Abbey Theatre, and The
Edinburgh Research Explorer W. B. Yeats, the Abbey Theatre, and the cinema, 1909-1939 Citation for published version: Girdwood, M 2018, 'W. B. Yeats, the Abbey Theatre, and the cinema, 1909-1939', Irish Studies Review, vol. 26, no. 4, pp. 455-471. https://doi.org/10.1080/09670882.2018.1515878 Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/09670882.2018.1515878 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Irish Studies Review Publisher Rights Statement: This is a post-peer-review, pre-copy edited version of an article published in Irish Studies Review The definitive publisher-authenticated version Megan Girdwood (2018) W. B. Yeats, the Abbey Theatre, and the Cinema, 1909–1939, Irish Studies Review, 26:4, 455-471, DOI: 10.1080/09670882.2018.1515878 is available online at: https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F09670882.2018.1515878 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 W. B. Yeats, the Abbey Theatre, and the Cinema: 1909-1939 “We may have to close down and, Ezra Pound suggests, put in a cinematograph,” wrote W. -
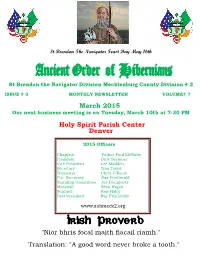
Ancient Order of Hibernians
St Brendan The Navigator Feast Day May 16th Ancient Order of Hibernians St Brendan the Navigator Division Mecklenburg County Division # 2 ISSUE # 3 MONTHLY NEWSLETTER VOLUME# 7 March 2015 Our next business meeting is on Tuesday, March 10th at 7:30 PM Holy Spirit Parish Center Denver 2015 Officers Chaplain Father Paul McNulty President Dick Seymour Vice President Lee Madden Secretary Tom Dowd Treasurer Chris O’Keefe Fin. Secretary Ray FitzGerald Standing Committee Joe Dougherty Marshall Sean Ragan Sentinel Ron Haley Past President Ray FitzGereld www.aohmeck2.org "Níor bhris focal maith fiacail riamh." Translation: "A good word never broke a tooth." President’s Message St. Brendan the Navigator Pray for Us St. Patrick Pray for Us Erin go Baugh Brothers, Here we are, the month of St. Patrick, a busy month for our Division. It’s time to proudly display our heritage. If you haven’t been able to participate in or volunteer to help at our events or activities in the past, this is the perfect time to make that extra effort. Keep alert to our e-mails, website and information in this Newsletter to see how you can help. As we approach St. Patrick’s Day, be alert to stores, kiosks, vendors promoting or selling merchandise that defames or disparages the Irish heritage. Typical are t-shirts depicting the Irish as drunkards and the like. Don’t hesitate to complain either in person or in writing to the vendor or the establishment’s management that you find this offensive and politely ask them to discontinue displaying or selling the items. -
HISTORIC DODGE CITY Walking Tour
HISTORIC DODGE CITY Walking Tour Dodge City Convention & Visitors Bureau 400 W. Wyatt Earp Blvd. Dodge City, KS 67801 620-225-8186 | 1-800-OLD-WEST www.visitdodgecity.org @visitdodgecity 64 E. Cedar St. W. Cedar St. 63 I 68 Ark Valley Ave. HISTORIC 67 62 66 65 A . Vine St. e e v v A A h 69 . t e 5 v B A . Walking Tour e e d v . v n e A A 2 o Ave. v Ford C l A a r t t s 57 n 1 e C . e e v 59 v t. A uce S A pr 56 58 60 61 E. S h d t r 7 W. Spruce St. 3 54 50 71 70 55 52 48 47 49 y Ave. 53 51 46 Militar 72 45 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Walnut St. Gunsmoke St. 33 32 31 29 28 27 26 25 24 34 30 23 73 76 9 vd. 3 6 7 8 10 12 13 p Bl Front St. 4 11 Ear Front St. yatt E. W 22 1 14 74 75 5 W 77 2 . Wy att E arp B 17 16 15 lvd. 20 21 18 19 W. Trail St. E. Trail St. e v A h Maple St. t 4 . e e v v A A u d a e n 2 Park St. n u J . e v A d n a l d o o 78 W. Water St. W E. Water St. e v A t s e r o F 79 80 64 E. -

"RED DAWN'' Continued on Bock Page $1.50 Pre-School Story Times Offered Grand Valley Ledger • Wednesday, Sept
//<£y# HM(! 4 So «' 3ook B(Wer : 49204 The Grand Valley Ledger O Volume 8, Issue 46 Serving LOU PII Area Readers Since 1893 September 19, 1984 C of C membership drive begins The Lowell Area Chamber of vate while imparting relevant in- Commerce is sponsoring a mem- formation that can bring im- bership drive "kick-ofT meeting mediate results for those who on Thursday, September 20. The hear her. She travels around the ge meeting is slated to begin at 6:00 country presenting seminars to p.m. in the Lowell Showboat executives, managers, public of- Amphitheatre, arrangements are ficials, health care providers, being made for an indoor loca- teachers, accountants, attorneys, tion in case of inclement wea- support staff, sales and market- A ther. Chamber President Jerry RADIO SHACK DEALER MOVING * ing departments. She is best Patton urges all business and known for her "Speak Up and Be professional people throughout Effective ", which is open to the Curt*s Sound and Radio Shack Store will be moving from its pre- Lowell and the surrounding area t public on a monthly basis at the sent Main Street address near Amity Street to larger quarters at 221 to please attend this short "get to- Grand Rapids Marriott. W. Main Street, a building last occupied by B & M Used Furniture. gether" (the meeting is sched- Patton and his Board of Direc- Owner Curt Albrecht says he's moving this weekend for sure, and uled to end at 7:30). Patton also tors for the newly re-organized says the increased floor space should be a big improvement for both asks that you bring along your him and his customers. -
Nineteen Hundred Years Ago, Give Or Take a Year Or Two, Around 60 A.D., a Roman Named Festus Was for a Brief Time Procurator Of
Nineteen hundred years ago, give or take a year or two, around 60 A.D., a Roman named Festus was for a brief time procurator of Judea, and, according to the historian Josephus,’ the people rioted because of a decision he made favoring the Syrians at Caes- area. Today there is violent public reaction to another Festus-the re- placement for the seemingly irre- placeable Chester in CBS’s Gunsmoke, a shaggy character named Festus Haggen, played by a former crooner, singing cowboy, movie bit player and parachuting TV hero named Ken Curtis. The producer of Gunsmoke, Norman Macdonnell, says, ‘The mail on Fes- tus is either absolutely white or abso- lutely black. Some people say they can’t stand him. Others say they like him better than Chester. They either love him or they hate him-but 90 percent say they love him.” There is no question of the reaction to Festus in Gunsmoke’s Dodge City. They love him there-100 percent. The rest of the cast had become resentful of the attitude of Dennis Weaver, who played Chester.“Why, on his last show, he hardly even limped!” says Amanda Blake, who plays Kitty. As for Festus himself, where Dennis Weaver said, “After nine years as Chester, I have exhausted all the areas of creativity,”the 48-year-old Curtis, who has been around show business since 1939, says, ‘There are so many good actors that are hurtin’, I’m just grateful. I hope Gunsmoke goes on for another 10 years.” The character was not calculatedly created as a replacement for Chester.