I ANNETE BONNET CARACTERIZAÇÃO
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

BROMELI ANA PUBLISHED by the NEW YORK BROMELIAD SOCIETY (Visit Our Website
BROMELI ANA PUBLISHED BY THE NEW YORK BROMELIAD SOCIETY (visit our website www.nybromeliadsociety.org) February, 2014 Volume 51, No.2 ON ROOTING (there is a time for every season...) by Herb Plever It is well told in Ecclesiastes 3 that there is a right even though I was aware of the seasonal slowdown. time for everything to be done, including a time to plant. But even in my indoor apartment, in the fall and More specifically, there is a right time to pot up a winter the light is reduced, it is drier and it is much bromeliad, particularly atmospheric tillandsias, so they cooler. We don’t put on the blower motors in our will quickly root in the medium. heating convectors even when it is very cold outside, As a general proposition it is said that tillandsias although the valves are open. (This permits the 1 foot produce roots in inverse proportion to the density of pipe leading to the convector to hold hot water and their trichome coverage, ie. glabrous stay hot.) leaved tillandsias with minimal or no So in the context of the above trichomes have strong root growth while rooting principles, this experiment was trichomed atmospheric tillandsias produce begun out of season at a time when many just enough wiry roots to attach plants slow down their growth and their themselves to the tree, branch or rock they production of carbohydrates. Nonetheless are holding on to. This goes contrary to some of the tillandsias did root quickly the basic idea of my experiment designed while many others rooted very slowly. -

Carnivorous Plant Newsletter of Australia
Volume 6 September, 1980. Registered as a Publication, Category B. Page 6 CPNA Page 1 EDITORS, : : : : KEN HATLEY. SUSAN HATLEY. CORRESPONDENCE ADDRESSED TO : C.P.N.A. Wandena Rd, B~allsbrook East. West Australia. 6084. Published Quarterly by C.P.N.A. Subscriptions $6-OO Annually. Back copies issued to late subscribers. ........................................................................... FROM THE EDITORS. We would like to start this issue with an apology for its late arrival to you. Unfortunately, we experienced an unexpected delay in the arrival of replacment parts for the copying equipment. The good news this issue is of course that spring is upon us again, and with it the regrowth of our dormant varieties ready to come forward and show off their beauty for yet another year. The response for articles for the newsletter is dissappointing to say the least. There is enough experienced c.p. growers in Australia capable of contributing write-ups to ensure the success of the CPNA for many years to come, but if the lack of interest continues the newsletter is doomed to failure. To put it bluntly, if you want your newsletter to continue then get behind it and give it your support. Good Growing, Editors. ........................................................................... ........................................................................... FRONT COVER - DROSERA GLANDULIGERA, HABITAT WEST AUSTRALIA. Vol 6 CPNA Page 2 C.P. LETTERBOX. Received a letter from Mrs I.D. Anderson of 23 Harrow St, Launceston, Tasmania 7250 asking of other members in Tasmania. As we don't now publish a list of subscribers we leave it to any member in her area to drop a line and swap C.P. -

Grace Goode's Miniature Neoregelia Hybrids
Bromeliaceae VOLUME XLI - No. 6 - NOV/DEC 2007 The Bromeliad Society of Queensland Inc. P. O. Box 565, Fortitude Valley Queensland, Australia 4006, Home Page www.bromsqueensland.com OFFICERS PRESIDENT Olive Trevor (07) 3351 103 VICE PRESIDENT Barry Kable PAST PRESIDENT Bob Reilly (07) 3870 809 SECRETARY Chris Coulthard TREASURER Glenn Bernoth (07) 4661 3 634 BROMELIACEAE EDITOR Ross Stenhouse SHOW ORGANISER Bob Cross COMMITTEE David Rees, Paul Dunstan, Ann McBur- nie, Arnold James,Viv Duncan MEMBERSHIP SECRETARY Roy Pugh (07) 363 5057 SEED BANK CO-ORDINATOR Doug Parkinson (07) 5497 50 AUDITOR Anna Harris Accounting Services SALES AREA STEWARD Pat Barlow FIELD DAY CO-ORDINATOR Nancy Kickbusch LIBRARIAN Evelyn Rees ASSISTANT SHOW ORGANISER Phil Beard SUPPER STEWARDS Nev Ryan, Barry Genn PLANT SALES Nancy Kickbusch (Convenor) N. Poole (Steward) COMPETITION STEWARDS Dorothy Cutcliffe, Alan Phythian CHIEF COMPETITION STEWARD Jenny Cakurs HOSTESS Gwen Parkinson BSQ WEBMASTER Ross Stenhouse LIFE MEMBERS Grace Goode OAM Peter Paroz, Michael O’Dea Editors Email Address: [email protected] The Bromeliad Society of Queensland Inc. gives permission to all Bromeliad Societies to re- print articles in their journals provided proper acknowledgement is given to the original author and the Bromeliaceae, and no contrary direction is published in Bromeliaceae. This permission does not apply to any other person or organisation without the prior permission of the author. Opinions expressed in this publication are those of the individual contributor and may not neces- sarily reflect the opinions of the Bromeliad Society of Queensland or of the Editor Authors are responsible for the accuracy of the information in their articles. -

Potting Shed Observer
The Potting Shed Observer Issue 2. August 2012 ISSN 2253-5187 The Potting Shed Observer, August 2012. Page 1 Photos Cover picture is of an imported Bolivian species, named Tillandsia comarapaensis by Harry Luther in 1984. All photos are by the Editor unless advised otherwise. Wellington Tillandsia Study Group Meeting, July 2012 Held on 22 July 2012 at the home of Phyllis Purdie. The following plants were discussed: Phyl Purdie: Tillandsia punctualata in flower, had a distinctly orange tone to the floral bracts. This species normally has deep red bracts, like the picture below left. In the case of Phyllis’s plant the lighter colour may be due to the Tillandsia punctulata typical bract Tillandsia punctulata grown by Phyl colour. Purdie. Contents Publication details 2 Wellington Tillandsia Study Editor and publisher: Andrew Flower MA(Hons) Group Meeting July 2012 P.O. Box 57021, Mana Porirua 5247, New Zealand. email: [email protected] 7 An evolving Enano? Andrew Flower phone: (04) 2399-659 Copyright © 2012, all rights reserved. 8 Tillandsia funckiana, Bob Hudson Please request permission from the Editor before reproducing or distributing any portion of this document. The Potting Shed Observer, August 2012. Page 2 relatively cool, shady conditions it was grown in, or maybe the inflorescence might colour up more when it matures. Offsets of her plant were available to members, so when they flower it will be interesting to see whether they colour up differently. One of the members asked about her T. punctulata that has started an inflorescence which stopped developing and shown no movement for 4-5 months. -

Morphological and Molecular Evidence of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Associations in Costa Rican Epiphytic Bromeliads1
BIOTROPICA 37(2): 245–250 2005 10.1111/j.1744-7429.2005.00033.x Morphological and Molecular Evidence of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Associations in Costa Rican Epiphytic Bromeliads1 Annette R. Rowe2 and Anne Pringle Department of Plant and Microbial Biology, 111 Koshland Hall, University of California, Berkeley, California 94720-3102, U.S.A. ABSTRACT Arbuscular mycorrhizal fungi influence the growth, morphology, and fitness of a variety of plant species, but little is known of the arbuscular mycorrhizal (AM) fungal associations of plant species in forest canopies. Plant species’ associations with AM fungi are most often elucidated by examining the roots for fungal structures; however, morphological data may provide a limited resolution on a plant’s mycorrhizal status. We combined a traditional staining technique with a molecular marker (the 18S ribosomal gene) to determine whether or not a variety of epiphytic bromeliads form arbuscular mycorrhizal fungal associations. Using these methods we show that the epiphytic bromeliad Vriesea werkleana forms arbuscular mycorrhizal fungal associations with members of the genus Glomus. AM fungal sequences of this plant species formed three distinct clades nested within a larger Glomus clade; two of the clades did not group with any previously sequenced lineage of Glomus. Novel clades may represent novel species. Although Vriesea werkleana is associated with multiple AM fungal species, each individual plant is colonized by a single lineage. The combination of morphological and molecular methods provides a practical approach to the characterization of the mycorrhizal status of epiphytic bromeliads, and perhaps other tropical epiphytes. Key words: cloud forest; Costa Rica; Monteverde; symbiosis; tropical mycorrhizae; VAM fungi. -

Interação Entre Epífitas Vasculares E Forófitos: Estrutura E Padrões De Distribuição
INTERAÇÃO ENTRE EPÍFITAS VASCULARES E FORÓFITOS: ESTRUTURA E PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO TALITHA MAYUMI FRANCISCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ JUNHO DE 2017 INTERAÇÃO ENTRE EPÍFITAS VASCULARES E FORÓFITOS: ESTRUTURA E PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO TALITHA MAYUMI FRANCISCO Tese apresentada ao Centro de Biociências e Biotecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, como parte das exigências para obtenção do título de Doutor em Ecologia e Recursos Naturais. Orientador: PhD Carlos Rámon Ruiz-Miranda Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Centro de Biociências e Biotecnologia, Laboratório de Ciências Ambientais Coorientador: Dr. Mário Luís Garbin Universidade de Vila Velha, Laboratório de Ecologia Vegetal CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ JUNHO DE 2017 II III Dedico... A minha família, em especial a minha querida e amada mãe Edina e minha madrinha Célia (in memoriam) por serem os maiores e melhores exemplos de vida. E ao Dayvid, fonte inesgotável de amor. IV AGRADECIMENTOS Essa fase que aqui se encera foi um dos desafios mais imponente que a vida me proporcionou. Nessa fase, pude ultrapassar as barreiras da inércia, sair da “zona de conforto” e adentrar em um mundo tão vastos de informações novas. Não foi nada fácil, confesso! Mas, levo a certeza que somos capazes de vencer todos esses obstáculos que nos são apresentados para alcançarmos voos ainda mais altos. Por isso, gratidão pela oportunidade, vida! Agradeço, À Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e ao Programa de Pós- Graduação em Ecologia e Recursos Naturais pela oportunidade de realização do curso de doutorado. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES pela concessão de bolsa de estudos durante o período de vigência do doutorado. -

Tillandsia (Bromeliaceae) of BELIZE 1
Tillandsia (Bromeliaceae) of BELIZE 1 Bruce K. Holst1, David Amaya2, Ella Baron2, Marvin Paredes2, Elma Kay3 1Marie Selby Botanical Gardens, 2 Ian Anderson’s Caves Branch Botanical Garden, 3University of Belize © Marie Selby Botanical Gardens ([email protected]), Ian Anderson’s Caves Branch Botanical Garden ([email protected]). Photos by D. Amaya (DA), E. Baron (EB), W. Collier (WC), B. Holst (BH); J. Meerman (JM), L. Munsey (LM), M. Paredes (MP), P. Nelson (PN), D. Troxell (DT) Support from the Marie Selby Botanical Gardens, Ian Anderson’s Caves Branch Jungle Lodge, Environmental Resource Institute - University of Belize [fieldguides.fieldmuseum.org] [964] version 1 11/2017 The genus Tillandsia in Belize includes approximately 30 species, which can be found growing singly, or in large colonies, and can usually be identified by their non-spiny leaves, often flattened inflorescence branches, symmetrical sepals, free petals, and often colorful flower clusters which fade quickly after flowering. They are most always epiphytic growing on trees and shrubs to gain better access to sunlight; an occasional species is found on rocks or on the ground (e.g., T. dasyliriifolia). Many have gray/silvery, scaly leaves (e.g., T. pruinosa, T. streptophylla). The scales (or “trichomes”) help capture water and nutrients from the environment. Some spe- cies form water-holding tanks by means of their overlapping leaves. These tanks are rich with nutrients from the environment, provide sustenance for the plant, and create important habitat for animals in the forest canopy. The genus is found throughout Belize, but reaches its peak of species diversity on the high summits of the Maya Mountains. -

March, 2015 BS/H Spring Bromeliad Sale
Bromeliad Society Vol 48 No 3 March, 2015 BS/H Spring Bromeliad Sale pring is right around the corner and so is our Spring Bromeliad Sale! The sale will be held S at the West Gray Multi-Service Center where we are currently holding our meetings. The date is Saturday, April 11 from 9:00 a.m. until 3 p.m. Set- up begins at 8:00 a.m. Customers usually start showing up around 8:15 a.m. to grab the best ones. Remember that all bromeliads must be named cor- rectly. This applies to all Sales and the Raffle Table. MEETING DATE: Tuesday, March 17, 7:30 p.m. Minimum price for bromeliads is $5. Please double tag your sale plants with your sale number on each PROGRAM SPEAKER: Dr. Steve Reynolds tag and the bromeliad info on just one tag. PROGRAM TITLE: Please email me at [email protected] if you “Yes — You too can show bromeliads” plan on selling at any sale. Once again we will need Steve will show us how to choose the best show plastic bags, small boxes and soft drink boxes for the plants and discuss the best ways to groom them to plants. be winners. I will be bringing breads (white and wheat), deli SEEDLING: Neoregelia ‘Red Bird’ meats (turkey, ham and roast beef) and cheeses (Swiss and cheddar) along with lettuce, pickles, to- Supplied by Jimmy Woolsey. An Oeser hybrid of un- matoes and mustard and mayo. (Breakfast donations known parentage. Care is typical for neoregelias: po- and beverages are always appreciated by our hard- rous mix, good water and bright indirect light for best working staff. -

Bat Pollination in Bromeliaceae Pedro A
PLANT ECOLOGY & DIVERSITY https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1566409 ARTICLE Bat pollination in Bromeliaceae Pedro A. Aguilar-Rodrígueza, Thorsten Krömer a, Marco Tschapka b,c, José G. García-Francod, Jeanett Escobedo-Sartie and M.Cristina MacSwiney G. a aCentro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico; bInstitute of Evolutionary Ecology and Conservation Genomics, University of Ulm, Ulm, Germany; cSmithsonian Tropical Research Institute, Balboa Ancón, Panamá, República de Panamá; dRed de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, Xalapa, Veracruz, México; eFacultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Crucero de Tecomán, Tecomán, Colima, México ABSTRACT ARTICLE HISTORY Background: Chiropterophily encompasses the floral traits by which bats are attracted as the Received 2 May 2017 main pollinators. Among the chiropterophilous flowering plants of the New World, Accepted 3 January 2019 Bromeliaceae is one of the most ecologically important families; however, information KEYWORDS about the chiropterophilous interaction in this family is still scarce. Anoura; bromeliads; Aims: We present a comprehensive review of bat pollination in bromeliads, covering floral chiropterophily; floral scent; traits, rewards offered to pollinators, floral attractants and the identity of visiting bat species. nectar; pollination; Werauhia Methods: We discuss traits shared among chiropterophilous bromeliads and present general trends in an evolutionary context. We constructed a phylogenetic tree to elucidate the ancestral pollination syndromes of the 42 extant bromeliad species (ca. 1% of total) known to be bat-pollinated. Results: Most of the species within the ten genera reported belong to the Tillandsioideae subfamily, with three genera appearing to be exclusively bat-pollinated. Floral visitors include 19 bat species of 11 genera from the Phyllostomidae. -

List of Intercepted Plant Pests
tvrf- APHIS 82-6 February 1980 "TJ 5Pi^^^ LIST OF INTERCEPTED PLANT PESTS (Pests Recorded from October 1, 1977 Through September 30, 1978) Animal and Plant Health Inspection Service UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE APHIS 82-6 February 1980 LIST OF INTERCEPTED PLANT PESTS (Pests Recorded from October 1, 1977 Through September 30, 1978) Animal and Plant Health Inspection Service UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE Contents Page Introduct ion T]l Changes in nomenclature IV V Correction ; Summary of number of interceptions listed 1 Tabulation of insects ^ Hosts and insects ^U Insects intercepted with hosts unknown I'O Countries of origin and insects 116 Tabulation of mites 140 Hosts and mites 141 Mites intercepted with hosts unknown 142 Countries of origin and mites 143 Tabulation of mollusks 144 Hosts and mollusks 1 50 Mollusks intercepted with hosts unknown 152 Countries of origin and mollusks 153 Tabulation of diseases 155 Hosts and diseases 166 Diseases intercepted with hosts unknown 170 Countries of origin and diseases 171 Tabulation of nematodes 174 Hosts and nematodes • 176 Nematodes intercepted with hosts unknown 1 77 Countries of origin and nematodes 1 78 Plant Protection and Quarantine Programs Animal and Plant Health Inspection Service U.S. Department of Agriculture Federal Building Hyattsville, Maryland 20782 n List of Intercepted Plant Pests, 1978 Plant Importation and Technical Support Staff Technical Information Unit INTRODUCTION This, the 61st annual report of pests and pathogens found in agricultural quarantine inspections. Is the 6th such publication to be assembled and printed from computerized interception records. It summarizes records of significant living plant pests and pathogens found in, on, or with plants, plant products, carriers and container vans, imported or entering into the continental United States and Hawaii or the offshore possessions, or moving between these areas. -
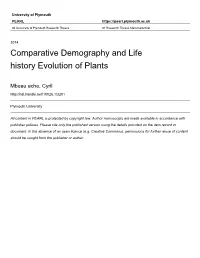
Copyright Statement
University of Plymouth PEARL https://pearl.plymouth.ac.uk 04 University of Plymouth Research Theses 01 Research Theses Main Collection 2014 Comparative Demography and Life history Evolution of Plants Mbeau ache, Cyril http://hdl.handle.net/10026.1/3201 Plymouth University All content in PEARL is protected by copyright law. Author manuscripts are made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the details provided on the item record or document. In the absence of an open licence (e.g. Creative Commons), permissions for further reuse of content should be sought from the publisher or author. Copyright Statement This copy of the thesis has been supplied on the condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with its author and that no quotation from the thesis and no information derived from it may be published without the author’s prior consent. Title page Comparative Demography and Life history Evolution of Plants By Cyril Mbeau ache (10030310) A thesis submitted to Plymouth University in partial fulfillment for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY School of Biological Sciences Plymouth University, UK August 2014 ii Comparative demography and life history evolution of plants Cyril Mbeau ache Abstract Explaining the origin and maintenance of biodiversity is a central goal in ecology and evolutionary biology. Some of the most important, theoretical explanations for this diversity centre on the evolution of life histories. Comparative studies on life history evolution, have received significant attention in the zoological literature, but have lagged in plants. Recent developments, however, have emphasised the value of comparative analysis of data for many species to test existing theories of life history evolution, as well as to provide the basis for developing additional or alternative theories. -

Aechmea Gamosepala and Vriesea Platynema) from the Atlantic Forest of Southern Brazil
diversity Article Seasonal Physiological Parameters and Phytotelmata Bacterial Diversity of Two Bromeliad Species (Aechmea gamosepala and Vriesea platynema) from the Atlantic Forest of Southern Brazil Adriana Giongo 1, Renata Medina-Silva 1,2, Leandro V. Astarita 2, Luiz Gustavo dos A. Borges 1 , Rafael R. Oliveira 1, Taiz L. L. Simão 2, Kelsey A. Gano 3, Austin G. Davis-Richardson 3, Christopher T. Brown 3 , Jennie R. Fagen 3, Pedro M. Arzivenco 2, Calino P. Neto 2, André D. Abichequer 4, Catiéli G. Lindholz 2, Anelise Baptista-Silva 2, Claudio A. Mondin 2, Laura R. P. Utz 2, Eric W. Triplett 3 and Eduardo Eizirik 2,* 1 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais, Porto Alegre, RS 90619-900, Brazil 2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Escola de Ciências, Porto Alegre, RS 90619-900, Brazil 3 Department of Microbiology and Cell Science, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida (UF), Gainesville, FL 32611, USA 4 Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI-RS), Porto Alegre, RS 90150-004, Brazil * Correspondence: [email protected]; Tel.: +55-51-3353-4685 Received: 13 May 2019; Accepted: 3 June 2019; Published: 14 July 2019 Abstract: The ecology of complex microhabitats remains poorly characterized in most tropical and subtropical biomes, and holds potential to help understand the structure and dynamics of different biodiversity components in these ecosystems. We assessed nutritional and metabolic parameters of two bromeliad species (Aechmea gamosepala and Vriesea platynema) at an Atlantic Forest site and used 16S rDNA metabarcoding to survey the microbial communities inhabiting their tanks.