White Dog / 1982
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
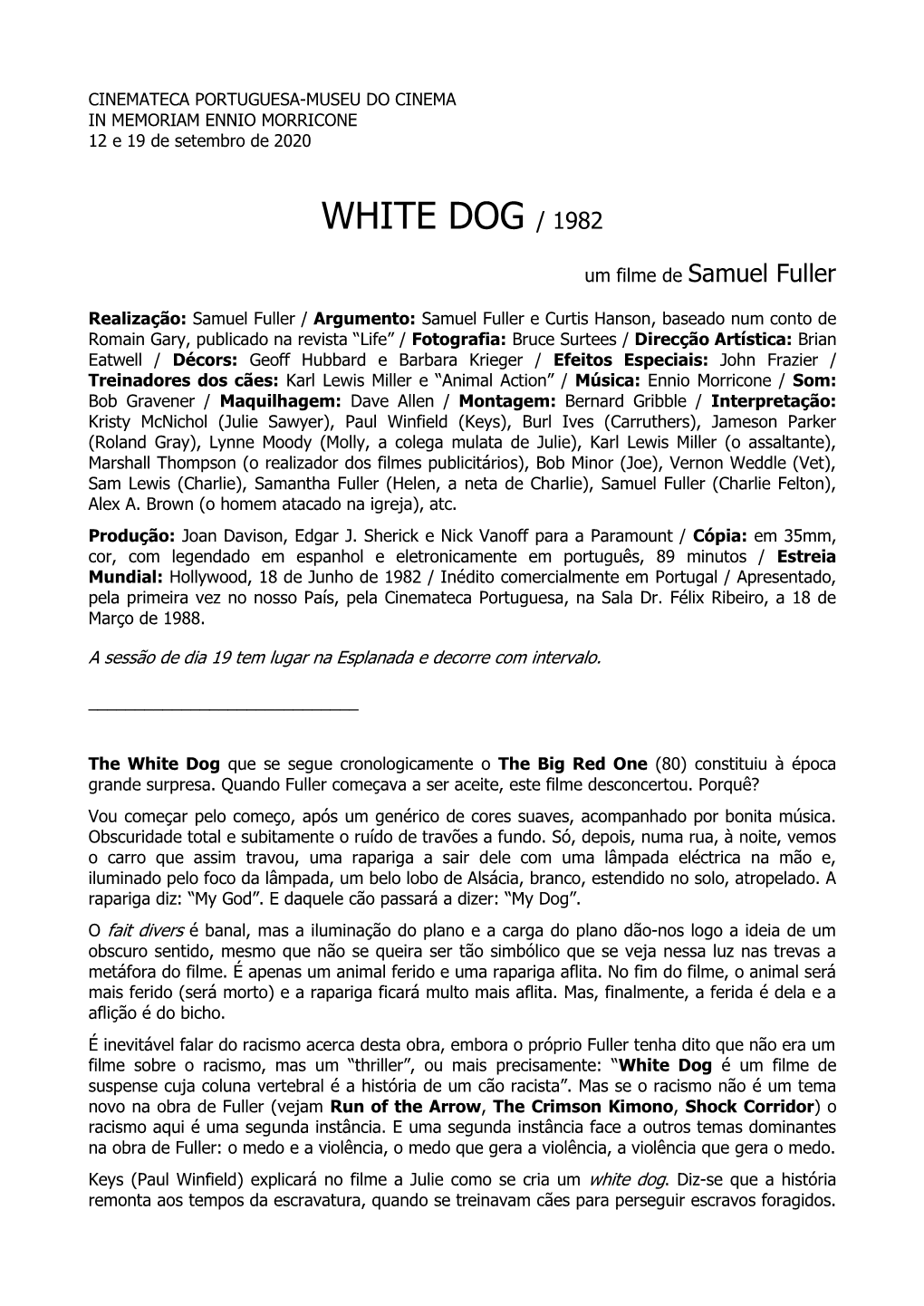
Load more
Recommended publications
-

9782873404178 01.Pdf
SOMMAIRE Jean-François Rauger : La douceur Fuller L’ŒUVRE Thanatos Pierre Gabaston. La fureur Fuller Serge Chauvin. Crever l’écran. Une esthétique du surgissement Sarah Ohana. Faire face. À propos du style de Samuel Fuller Laurent Le Forestier. Samuel Fuller, cinéaste responsable Jean-Marie Samocki. Le chaos comme le chant. Samuel Fuller metteur en son Éros Murielle Joudet. La violence en partage Patrice Rollet. L’autre visage de la fureur. Érotique de Fuller Figures humaines Sergio Toffetti. Le jaune, le rouge, le noir et le blanc Chris Fujiwara. Les visages asiatiques de Samuel Fuller Jean-Marie Samocki. Le vieillissement de Lee Marvin. It Tolls for Thee / The Big Red One Simon Laperrière. Une grande mêlée. Les romans de Samuel Fuller LES FILMS Gilles Esposito. L’enfer du développement. Samuel Fuller scénariste Marcos Uzal. La Passion du traître. I Shot Jesse James / J’ai tué Jesse James Laura Laufer. L’Amour, vaste territoire The Baron of Arizona / Le Baron de l’Ari- zona Mathieu Macheret. Le Théâtre des opérations. The Steel Hemlet / J’ai vécu l’en- fer de Corée et Fixed Bayonets !/Baïonnette au canon Bernard Eisenschitz. Park Row / Violence à Park Row Murielle Joudet. Pickpocket. Pickup on South Street / Le Port de la drogue Samuel Bréan. Anatomie d’un mensonge. Le doublage de Pickup on South Street Jean-François Rauger. Le Sous-marin et les Rouges. Hell and High Water / Le Démon des eaux troubles The Steel Helmet. Egdardo Cozarinsky. House of Bamboo / La Maison de Bambou Bernard Benoliel. Fuller, l’attendrisseur. Run of the Arrow / Le Jugement des Jean-François Rauger flèches Jean-François Rauger. -

January 27, 2009 (XVIII:3) Samuel Fuller PICKUP on SOUTH STREET (1953, 80 Min)
January 27, 2009 (XVIII:3) Samuel Fuller PICKUP ON SOUTH STREET (1953, 80 min) Directed and written by Samuel Fuller Based on a story by Dwight Taylor Produced by Jules Schermer Original Music by Leigh Harline Cinematography by Joseph MacDonald Richard Widmark...Skip McCoy Jean Peters...Candy Thelma Ritter...Moe Williams Murvyn Vye...Captain Dan Tiger Richard Kiley...Joey Willis Bouchey...Zara Milburn Stone...Detective Winoki Parley Baer...Headquarters Communist in chair SAMUEL FULLER (August 12, 1912, Worcester, Massachusetts— October 30, 1997, Hollywood, California) has 53 writing credits and 32 directing credits. Some of the films and tv episodes he directed were Street of No Return (1989), Les Voleurs de la nuit/Thieves After Dark (1984), White Dog (1982), The Big Red One (1980), "The Iron Horse" (1966-1967), The Naked Kiss True Story of Jesse James (1957), Hilda Crane (1956), The View (1964), Shock Corridor (1963), "The Virginian" (1962), "The from Pompey's Head (1955), Broken Lance (1954), Hell and High Dick Powell Show" (1962), Merrill's Marauders (1962), Water (1954), How to Marry a Millionaire (1953), Pickup on Underworld U.S.A. (1961), The Crimson Kimono (1959), South Street (1953), Titanic (1953), Niagara (1953), What Price Verboten! (1959), Forty Guns (1957), Run of the Arrow (1957), Glory (1952), O. Henry's Full House (1952), Viva Zapata! (1952), China Gate (1957), House of Bamboo (1955), Hell and High Panic in the Streets (1950), Pinky (1949), It Happens Every Water (1954), Pickup on South Street (1953), Park Row (1952), Spring (1949), Down to the Sea in Ships (1949), Yellow Sky Fixed Bayonets! (1951), The Steel Helmet (1951), The Baron of (1948), The Street with No Name (1948), Call Northside 777 Arizona (1950), and I Shot Jesse James (1949). -

BCOA Bulletin April-May-June 2007
BCOA Business President’s Message ..........................2 Make your Treasurer’s Reports ........................5-6 plans now! Editor’s Message ...............................4 October 13-19, 2007 Pleasanton, CA Learn about Columns & Feature Articles basenji native hunting skills Affi liate Club Columns ......................... 40-50 The Offi cial - pg. 18 Africa - Home of Our Basenjis ................... 10 Basenji Native Traits-Preservation Project .......... 18 ULLETIN BCOA AKC Trial ........................................ 49 Breeders’ Forum ........................................ 22 of the Basenji Club of America, Inc. For the Health of Your Dog ......................... 8 Anja Strietzel From Africa With Love .............................. 26 Giraffe Named Arnieta .............................. 20 B (USPS 707-210) describes her ISSN 1077-808X travel to the God Bless the USDA ................................. 36 Is Published Quarterly Dark Continent Honing Fostering Skills .............................. 24 March, June, September & December - pg. 10 Memoriam-Anne Rogers Clark ...................34 By the Basenji Club of America, Inc. Refl ections ................................................ 16 8050 Old River Road, Rockford, IL 61103-8736 Periodical Postage Paid at Rockford, Il Departments Find out what these POSTMASTER: 2007 Affi liate Club Specialty Dates ............. 2 Send address changes to: mystery letters mean Basenji Club of America, Inc. and how they can AKC Delegate’s Report & AKC News ......... 39 Wanda Pooley affect -

Dogs Represent, in My Mind, Some of the Very Best Dogs Performing As Dogs
BEST DOG PERFORMANCES by Kevin Clarke Who doesn’t love a good pup!? Nobody, that’s who! These dogs represent, in my mind, some of the very best dogs performing as dogs. You may notice some of the more obvious, showy movie dogs missing from this list, which is by design. No stupid pet tricks here. No talking, anthropomorphized animals (sorry BABE movies). No pandering or mugging for the camera. Just canines being canines to the best of their abilities. If there were an Academy Award for dogs, these guys would all go home with the gold! UMBERTO D. (1952)(DIR. VITTORIO DE SICA)☐ Umberto’s terrier Flike (played by Napoleone), as the only one keeping an old man from ending it all. The final scene with Flike, Umberto and a train is one of the most heart-rending scenes in all of cinema. I agree with director Vittorio De Sica, this is his best film. THE ROAD WARRIOR (1982)(DIR. GEORGE MILLER)☐ The greatest silver screen dog of all time. Max's one true friend, known only as "Dog." George Miller and cinematographer Dean Semler have nothing but nice things to say about her in their Blu-ray commentary track. THE THING (1982)(DIR. JOHN CARPENTER)☐ Jed, as the most intense dog ever filmed. My favorite performance in the movie (sorry Kurt). Honestly, one of the most controlled performances, human or canine, in the history of cinema. And he’d better have gotten a whole damn rib-eye steak after suffering the dog pen sequence. E.T. (1982)(DIR. -

Antiblackness, Social Exclusion, and the Question of Who Is Human
JBSXXX10.1177/0021934719836421Journal of Black StudiesParker 836421research-article2019 Article Journal of Black Studies 2019, Vol. 50(4) 367 –387 Who Let the Dogs in? © The Author(s) 2019 Article reuse guidelines: Antiblackness, Social sagepub.com/journals-permissions https://doi.org/10.1177/0021934719836421DOI: 10.1177/0021934719836421 Exclusion, and the journals.sagepub.com/home/jbs Question of Who Is Human Lynette Parker1 Abstract This article illuminates how the lived experiences of Black men in comparison to experiences of dogs in society highlight antiblackness as the prevailing sentiment in America. This juxtaposition illuminates the psychological project embedded within antiblackness—to dehumanize Black people by elevating dogs alongside other racial groups that have been deemed as human. The article demonstrates how dogs have not only been embraced by Whites, but have been given access into spaces and granted civil liberties for which Blacks continue to struggle. The article looks at the role of dogs in a country that once categorized them as nuisances and marked them with distain by identifying them along with Blacks, Mexicans, Jews, Irish, Chinese, and Japanese as the “undesirable” elements of society. Today’s acceptance of and advocacy for dogs as a social phenomenon demonstrates the possibility of an ideology shift by Whites, while simultaneously demonstrating their dogged determination to hold to an ideology that cast Black people as less than human. Keywords race, antiblackness, social exclusion, humanism, speciesism 1Reach Institute for School Leadership, Oakland, CA, USA Corresponding Author: Lynette Parker, Reach Institute for School Leadership, 1221 Preservation Park Way, Suite 100, Oakland, CA 94612, USA. Email: [email protected] 368 Journal of Black Studies 50(4) Today the dog world is in the throes of political and ideological convulsions of a kind not seen since Victorian times, when the dog as we know it was invented. -

Film Soleil 28/9/05 3:35 Pm Page 2 Film Soleil 28/9/05 3:35 Pm Page 3
Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 2 Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 3 Film Soleil D.K. Holm www.pocketessentials.com This edition published in Great Britain 2005 by Pocket Essentials P.O.Box 394, Harpenden, Herts, AL5 1XJ, UK Distributed in the USA by Trafalgar Square Publishing P.O.Box 257, Howe Hill Road, North Pomfret, Vermont 05053 © D.K.Holm 2005 The right of D.K.Holm to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of the publisher. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may beliable to criminal prosecution and civil claims for damages. The book is sold subject tothe condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated, without the publisher’s prior consent, in anyform, binding or cover other than in which it is published, and without similar condi-tions, including this condition being imposed on the subsequent publication. A CIP catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 1–904048–50–1 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 Book typeset by Avocet Typeset, Chilton, Aylesbury, Bucks Printed and bound by Cox & Wyman, Reading, Berkshire Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 5 Acknowledgements There is nothing -

Dog” Looks Back at “God”: Unfixing Canis Familiaris in Kornél Mundruczó’S † Film Fehér Isten/White God (2014)
humanities Article Seeing Beings: “Dog” Looks Back at “God”: Unfixing Canis familiaris in Kornél Mundruczó’s † Film Fehér isten/White God (2014) Lesley C. Pleasant Department of Foreign Languages and Cultures, University of Evansville, Evansville, IN 47714, USA; [email protected] † I have had to rely on the English subtitles of this film, since I do not speak Hungarian. I quote from the film in English, since the version to which I have had access does not give the option of Hungarian subtitles. Received: 6 July 2017; Accepted: 13 October 2017; Published: 1 November 2017 Abstract: Kornél Mundruczó’s film Fehér isten/White God (2014) portrays the human decreed options of mixed breed, abandoned dogs in the streets of Budapest in order to encourage its viewers to rethink their relationship with dogs particularly and animals in general in their own lives. By defamiliarizing the familiar ways humans gaze at dogs, White God models the empathetic gaze between species as a potential way out of the dead end of indifference and the impasse of anthropocentric sympathy toward less hierarchical, co-created urban animal publics. Keywords: animality; dogs; film; White God; empathy 1. Introduction Fehér isten/White God (2014) is not the first film use mixed breed canine actors who were saved from shelters1. The Benji films starred mixed breed rescued shelter dogs (McLean 2014, p. 7). Nor is it unique in using 250 real screen dogs instead of computer generated canines. Disney’s 1996 101 Dalmations starred around 230 Dalmation puppies and 20 adult Dalmations (McLean 2014, p. 20). It is also certainly not the only film with animal protagonists to highlight Liszt’s Hungarian Rhapsody # 2 in its soundtrack. -

Fuller Film Series
FALL 2015 fuller film series LECTURE SERIES Film Series: Tribute to Filmmaker Samuel Fuller Join us for a film series focusing on the works of American filmmaker, crime reporter, and soldier Samuel Fuller, the audacious visionary renowned for his low-budget genre movies with controversial themes. Special guests Christa Fuller (the filmmaker’s widow) and Samantha Fuller (the filmmaker’s daughter) will introduce the films and join the audience for a discussion after each screening, moderated by SMC Political Science professor Alan Buckley and SMC Film Studies professor Josh Kanin. Sponsored by the SMC Associates (www.smc.edu/associates), SMC Communication & Media Studies Department, and SMC Political Science Department. Seating is strictly on a first-arrival basis. A FULLER LIFE Samantha Fuller’s revealing documentary about her father — featuring newly discovered home movies and readings by a wide range of his collaborators and fellow travelers — follows the passionate individualist Samuel Fuller on his path from New York tabloid journalist to Hollywood director-producer. Year released: 2013. Director: Samantha Fuller. FRIDAY, NOVEMBER 13 Z 6:30pm Z FREE Z HSS 165 SHOCK CORRIDOR This satirical commentary on racism and other hot issues in 1960s America — with daring cinematography by Stanley Cortez — charts the uneasy terrain between sanity and madness with the tale of a Pulitzer Prize-seeking investigative reporter who has himself committed to a mental hospital to investigate a murder. Year released: 1963. Director: Samuel Fuller. Starring: Peter Breck, Constance Towers, Gene Evans, and James Best. SATURDAY, NOVEMBER 14 Z 1pm Z FREE Z HSS 165 THE NAKED KISS This incisive satire of American culture is a bold and pulpy film about a former prostitute who relocates to a buttoned-down suburb and tries to fit in, but perverse secrets simmer beneath the wholesome surface. -

Last Tango in Paris (1972) Dramas Bernardo Bertolucci
S.No. Film Name Genre Director 1 Last Tango in Paris (1972) Dramas Bernardo Bertolucci . 2 The Dreamers (2003) Bernardo Bertolucci . 3 Stealing Beauty (1996) H1.M Bernardo Bertolucci . 4 The Sheltering Sky (1990) I1.M Bernardo Bertolucci . 5 Nine 1/2 Weeks (1986) Adrian Lyne . 6 Lolita (1997) Stanley Kubrick . 7 Eyes Wide Shut – 1999 H1.M Stanley Kubrick . 8 A Clockwork Orange [1971] Stanley Kubrick . 9 Poison Ivy (1992) Katt Shea Ruben, Andy Ruben . 1 Irréversible (2002) Gaspar Noe 0 . 1 Emmanuelle (1974) Just Jaeckin 1 . 1 Latitude Zero (2000) Toni Venturi 2 . 1 Killing Me Softly (2002) Chen Kaige 3 . 1 The Hurt Locker (2008) Kathryn Bigelow 4 . 1 Double Jeopardy (1999) H1.M Bruce Beresford 5 . 1 Blame It on Rio (1984) H1.M Stanley Donen 6 . 1 It's Complicated (2009) Nancy Meyers 7 . 1 Anna Karenina (1997) Bernard Rose Page 1 of 303 1 Fanny Hill: Memoirs of a Woman of Pleasure (1964) Russ Meyer 9 . 2 Vixen! By Russ Meyer (1975) By Russ Meyer 0 . 2 Deep Throat (1972) Fenton Bailey, Randy Barbato 1 . 2 A STREETCAR NAMED DESIRE (1951) Elia Kazan 2 . 2 Pandora Peaks (2001) Russ Meyer 3 . 2 The Lover (L'amant) 1992 Jean-Jacques Annaud 4 . 2 Damage (1992) Louis Malle 5 . 2 Close My Eyes (1991) Stephen Poliakoff 6 . 2 Casablanca 1942 H1.M Michael Curtiz 7 . 2 Duel in the Sun (film) (1946) I1.M King Vidor 8 . 2 The Bridge on the River Kwai (1957) H1.M David Lean 9 . 3 Caligula (1979) Tinto Brass 0 . -

Tarnished Angels
The Dark Vision of Douglas Sirk 38 NOIR CITY I SPRING 2016 I filmnoirfoundation.org Imogen Sara Smith n a hot night in New Orleans, in a half-lit, elegantly shabby apartment, two troubled souls share a bottle of cheap wine and an intimate, confessional conversation. Next door, a raucous costume party is in full swing, revelers dancing like hopped-up zombies to relentless Dixieland jazz. The man and woman speak tenderly about betrayals and disillusion- O ment, building to a kiss that is jarringly interrupted by Death— a guy in a leering skull mask who bursts in from the party. This scene, from Douglas Sirk’s underappreciated drama The Tarnished Angels (1958), dramatizes one of the director’s key themes: people struggling for authentic connection, surrounded by an oppressive, sinister masquerade of happi- ness. Sirk is best known for baroquely stylized Technicolor melodramas, once dismissed as sudsy kitsch but now embraced by many cinephiles for their formalist rigor and their subversive notes of unease. The work of a European intellectual often saddled with projects he disdained, Sirk’s films are complex, oblique, and visually incisive. One of the few German refugee filmmakers who didnot specialize in film noir, Sirk shared his fellow exiles’ gimlet eye for his adopted country. His lush melodramas strike a dissonant note, resonating from the hollowness behind the false front of the American “good life.” Like his sophisticated noir films of the 1940s, they reveal an insatiable hunger bred by idealized visions of plenty, and the paradoxical seduc- tion of death in a willfully complacent society. -

Complete Film Noir
COMPLETE FILM NOIR (1940 thru 1965) Page 1 of 18 CONSENSUS FILM NOIR (1940 thru 1959) (1960-1965) dThe idea for a COMPLETE FILM NOIR LIST came to me when I realized that I was “wearing out” a then recently purchased copy of the Film Noir Encyclopedia, 3rd edition. My initial plan was to make just a list of the titles listed in this reference so I could better plan my film noir viewing on AMC (American Movie Classics). Realizing that this plan was going to take some keyboard time, I thought of doing a search on the Internet Movie DataBase (here after referred to as the IMDB). By using the extended search with selected criteria, I could produce a list for importing to a text editor. Since that initial list was compiled almost twenty years ago, I have added additional reference sources, marked titles released on NTSC laserdisc and NTSC Region 1 DVD formats. When a close friend complained about the length of the list as it passed 600 titles, the idea of producing a subset list of CONSENSUS FILM NOIR was born. Several years ago, a DVD producer wrote me as follows: “I'd caution you not to put too much faith in the film noir guides, since it's not as if there's some Film Noir Licensing Board that reviews films and hands out Certificates of Authenticity. The authors of those books are just people, limited by their own knowledge of and access to films for review, so guidebooks on noir are naturally weighted towards the more readily available studio pictures, like Double Indemnity or Kiss Me Deadly or The Big Sleep, since the many low-budget B noirs from indie producers or overseas have mostly fallen into obscurity.” There is truth in what the producer says, but if writers of (film noir) guides haven’t seen the films, what chance does an ordinary enthusiast have. -

E C H O E S 1 L U M O E V
E M U L 1 O V of memory e c h o e s UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM score echoes of memory - volume United States Holocaust Memorial Museum, WashinGton, D.C. 1 spine trim United States Holocaust Memorial Museum 100 Raoul Wallenberg Place, SW Washington, DC 20024-2126 ECHOES L U M O E of memory V 1 STORIES FROM THE MEMORY PROJECT UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM This program has been made possible in part with support from the Helena Rubinstein Foundation. • CONTENTS Echoes of Memory LETTER FROM THE DIRECTOR ................................................................ i FOREWORD ...................................................................................... iii Elizabeth Anthony, Memory Project Coordinator INTRODUCTION .................................................................................. v Margaret Peterson, Memory Project Instructor ERIKA ECKSTUT ................................................................................ 1 Teach Love, Not Hate .................................................................... 2 Lasting Memory .......................................................................... 4 FRANK EPHRAIM ................................................................................ 5 Sardines .................................................................................... 6 Lunch Trade * .............................................................................. 7 Teapot in a Tempest * .................................................................... 12 MANYA FRIEDMAN