Miolo Futebol
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

OLÍMPICAS AS PORTUGUESAS NOS JOGOS DE HELSÍNQUIA’52 AO RIO’16 CIPRIANO LUCAS OLÍMPICAS As Portuguesas Nos Jogos De Helsínquia’52 Ao Rio’16 OLÍMPICAS
CIPRIANO LUCAS OLÍMPICAS AS PORTUGUESAS NOS JOGOS DE HELSÍNQUIA’52 AO RIO’16 CIPRIANO LUCAS OLÍMPICAS AS poRTUGUEsas Nos JOGos DE HElsíNQUia’52 ao Rio’16 OLÍMPICAS ÍNDICE PREFÁCIO – Rita Amaral Nunes ................................................................................................................................ 7 APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................................................... 9 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................... 11 EVOLUÇÃO HISTÓRica – da GRÉCIA ANTiga A TÓQUIO 2020 ............................................... 12 PRESENÇA PORTUGUESA – de HELSÍNQUIA’52 AO RIo’16 ............................................................ 20 ATLETAS PORTUGUESAS OLÍMpicaS ........................................................................................................... 47 Albertina Dias – Atletismo, Seoul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996 .............................................................. 48 Albertina Machado – Atletismo, Los Angeles 1984, Seoul 1988 e Atlanta 1996 .................................................. 49 Ana Alegria – Natação, Barcelona 1992 e Atlanta 1996 ........................................................................................... 50 Ana Barros – Ciclismo, Barcelona 1992 e Atlanta 1996 ........................................................................................... -

Nigerian Football System: Examining Meso-Level Practices Against a Global Model for Integrated Development of Mass and Elite Sport I
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences Vol:13, No:9, 2019 Nigerian Football System: Examining Meso-Level Practices against a Global Model for Integrated Development of Mass and Elite Sport I. Derek Kaka’an, P. Smolianov, D. Koh Choon Lian, S. Dion, C. Schoen, J. Norberg football programs and organizations for peace-making and Abstract—This study was designed to examine mass advancement of international relations, tourism, and socio-economic participation and elite football performance in Nigeria with reference development. Accurate reporting of the sports programs from the to advance international football management practices. Over 200 media should be encouraged through staff training for better sources of literature on sport delivery systems were analyzed to awareness of various events. The systematic integration of these construct a globally applicable model of elite football integrated with meso-level practices into the balanced development of mass and mass participation, comprising of the following three levels: macro- high-performance football will contribute to international sport (socio-economic, cultural, legislative, and organizational), meso- success as well as national health, education, and social harmony. (infrastructures, personnel, and services enabling sport programs) and micro-level (operations, processes, and methodologies for Keywords—Football, high performance, mass participation, development of individual athletes). The model has received Nigeria, sport development. scholarly validation and showed to be a framework for program analysis that is not culturally bound. The Smolianov and Zakus I. INTRODUCTION model has been employed for further understanding of sport systems such as US soccer, US Rugby, swimming, tennis, and volleyball as N Nigeria, there has been an increase in football well as Russian and Dutch swimming. -

Imperialism and the 1999 Women's World Cup
IMPERIALISM AND THE 1999 WOMEN’S WORLD CUP: REPRESENTATIONS OF THE UNITED STATES AND NIGERIAN NATIONAL TEAMS IN THE U.S. MEDIA by Michele Canning A Thesis Submitted to the Faculty of The Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Florida Atlantic University Boca Raton, Florida April 2009 Copyright by Michele Canning 2009 ii ABSTRACT Author: Michele Canning Title: Imperialism and the 1999 Women’s World Cup: Representations of the United States and Nigerian National Teams in the U.S. Media Institution: Florida Atlantic University Thesis Advisor: Dr. Josephine-Beoku-Betts Degree: Master of Arts Year: 2009 This research examines the U.S. media during the 1999 Women’s World Cup from a feminist postcolonial standpoint. This research adds to current feminist scholarship on women and sports by de-centering the global North in its discourse. It reveals the bias of the media through the representation of the United States National Team as a universal “woman” athlete and the standard for international women’s soccer. It further argues that, as a result, the Nigerian National Team was cast in simplistic stereotypes of race, class, ethnicity, and nation, which were often also appropriated and commodified. I emphasize that the Nigerian National Team resisted this construction and fought to secure their position in the global soccer landscape. I conclude that these biased representations, which did not fairly depict or value the contributions of diverse competing teams, were primarily employed to promote and sell the event to a predominantly white middle-class American audience. -
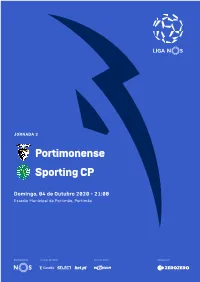
Portimonense Sporting CP
JORNADA 3 Portimonense Sporting CP Domingo, 04 de Outubro 2020 - 21:00 Estádio Municipal de Portimão, Portimão MAIN SPONSOR OFFICIAL SPONSOR OFFICIAL STATS POWERED BY Jornada 3 Portimonense X Sporting CP 2 Confronto histórico Ver mais detalhes Portimonense 6 5 26 Sporting CP GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 32 golos marcados, uma média de 0,86 golos/jogo 16% 14% 70% 71 golos marcados, uma média de 1,92 golos/jogo TOTAL PORTIMONENSE (CASA) SPORTING CP (CASA) CAMPO NEUTRO J PSC E SCP GOLOS PSC E SCP GOLOS PSC E SCP GOLOS PSC E SCP GOLOS Total 37 6 5 26 32 71 6 5 9 25 37 0 0 17 7 34 0 0 0 0 0 Liga NOS 34 5 5 24 27 61 5 5 7 20 27 0 0 17 7 34 0 0 0 0 0 Taça de Portugal 1 0 0 1 1 6 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Allianz Cup 2 1 0 1 4 4 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, PSC=Portimonense, SCP=Sporting CP FACTOS PORTIMONENSE FACTOS SPORTING CP TOTAIS TOTAIS 70% derrotas 70% vitórias 51% em que marcou 86% em que marcou 86% em que sofreu golos 51% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 1 Jogos a vencer 2 Jogos sem vencer 1980-03-30 -> 1980-12-08 13 Jogos sem vencer 1982-10-17 -> 1988-11-20 1 Jogos a perder 2 Jogos sem perder 1980-03-30 -> 1980-12-08 13 Jogos sem perder 1982-10-17 -> 1988-11-20 RECORDES PORTIMONENSE: MAIOR VITÓRIA EM CASA I Divisão 1988/89 Portimonense 3-1 Sporting CP Taça CTT 2015/16 Portimonense 2-0 Sporting CP Liga NOS 18/19 Portimonense 4-2 Sporting CP I Divisão 1981/82 Portimonense 2-0 Sporting CP SPORTING CP: MAIOR VITÓRIA EM CASA I Divisão 1983/84 Sporting CP 3-0 Portimonense SPORTING CP: MAIOR -

Political Discourse in Football Coverage – the Cases of Côte D’Ivoire and Ghana
GIGA Research Unit: Institute of African Affairs ___________________________ Political Discourse in Football Coverage – The Cases of Côte d’Ivoire and Ghana Andreas Mehler N° 27 August 2006 www.giga-hamburg.de/workingpapers GIGA-WP-27/2006 GIGA Working Papers Edited by GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. The Working Paper Series serves to disseminate the research results of work in progress prior to publication to encourage the exchange of ideas and academic debate. An objective of the series is to get the findings out quickly, even if the presentations are less than fully polished. Inclusion of a paper in the Working Paper Series does not constitute publication and should not limit publication in any other venue. Copyright remains with the authors. When Working Papers are eventually accepted by or published in a journal or book, the correct citation reference and, if possible, the corresponding link will then be included in the Working Papers website at: www.giga-hamburg.de/workingpapers. GIGA research unit responsible for this issue: Research Unit: Institute of African Affairs. Editor of the GIGA Working Paper Series: Bert Hoffmann <[email protected]> Copyright for this issue: © Andreas Mehler Editorial assistant and production: Verena Kohler All GIGA Working Papers are available online and free of charge at the website: www.giga-hamburg.de/workingpapers. Working Papers can also be ordered in print. For production and mailing a cover fee of € 5 is charged. For orders or any requests please contact: e-mail: [email protected] phone: ++49 (0)40 - 428 25 548 GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien Neuer Jungfernstieg 21 20354 Hamburg Germany E-mail: [email protected] Website: www.giga-hamburg.de GIGA-WP-27/2006 Political Discourse in Football Coverage – The Cases of Côte d’Ivoire and Ghana Abstract Football coverage in newspapers is both an arena for and a mirror of political discourse within a society. -

O DESPORTO NA DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA Índice
VALORIZAR SOCIALMENTE O DESPORTO: UM DESÍGNIO NACIONAL 6 O DESPORTO NA DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA ÍNDICE CONTEXTUALIZAÇÃO .............................................3 NOTA INTRODUTÓRIA DO AUTOR ..........................5 DESPORTO E A LÍNGUA PORTUGUESA..................7 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DO FUTEBOL NO SÉCULO XX .................................9 PELÉ NO BRASIL, EUSÉBIO EM PORTUGAL ........10 O ATLETA NEGRO ..................................................11 A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA ...................14 CONCLUSÃO ..........................................................21 CONTEXTUALIZAÇÃO Foi a 23 de agosto de 2013 que a Assembleia Geral das Nações Unidas tomou a decisão histórica de aprovar a criação de um Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz. Ficou então decidido que, a partir daquele dia, o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz seria celebrado a 6 de abril, por ter sido o dia da cerimónia de abertura dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna em 1896, em Atenas. No âmbito desta decisão, a AG das Nações Unidas relembrou ainda o papel fulcral que o Comité Olímpico Internacional desem- penha na promoção de estilos de vida saudáveis e na criação de acesso ao desporto ao maior número de pessoas possível em todo o mundo. Após a decisão das Nações Unidas, Jacques Rogue, Presidente do Comité Olímpico Internacional, acompanhado do n.º 1 do ranking mundial de ténis, Novak Djokovic, afirmou que “o ver- dadeiro valor do desporto é determinado não por palavras escri- tas, mas pela forma como o desporto é praticado. Sem valores, o desporto é um combate com outro nome. Mas com valores, é um caminho para o entendimento cultural, educação, saúde e desenvolvimento económico e social. Vemos o verdadeiro valor do desporto e da atividade física várias vezes. -

Ÿþm I C R O S O F T W O R
ýlj 119m11,1J i lill ýlj 119m11,1J i lill L:liv:liýlýlil MOCAMBIOUE PELO SED POVO EDIÇAO DE JOSÉ CAPELA / PORTO 1971 MOCAMBIOUE PELO SEU POVO CARTAS À "VOZ AFRICANA" selecção prefácio notas de: josé capela afrontamento/porto Os ladrões que mais pr6pria e dignamente merecem este itulo, são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das provincias, ou a administração das cidades, os quais j com manha, j6 com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, 'nem perigo: os outros, se furtam são enforcados, estes furtam e enforcam. P. António Vieira (Sermão do Bom Ladrão) PREFACIO O que se publica, a seguir, são cartas dirigidas pelos leitores ao jornal «Voz Africana». Iniciei a publicação semanal de «Voz Africana» em 2 de Junho de 1962. Este título é pertença do Centro Africano de Manica e Sofala, Beira, que, na altura, e desde há muito, não dispunha de meios para o editar. Entramos num acordo, segundo o qual, o Centro Social, Lda.' (que publicava, então, o «Diário de Moçambique» e que viria a publicar, mais tarde, outro semanário, «Voz da Zambézia», e a revista mensal «Em Economia de Moçambique) passaria a editar, de sua inteira responsabilidade, «Voz Africana». ' Sociedade por quotas mais tarde transformada em sociedade anónima sob a designação de Companhia Editora de Moçambique S. A. R. L., em cujo capital ficou largamente maiorit6ria a Diocese de Beira. A posiç5o da Diocese nesta Companhia foi vendida em 1 de Setembro de 1970 a um grupo de que apareceu como único executivo o engenheiro Jorge Jardim, então o personagem principal dos grandes interesses que o grupo Champalimaud detém em Moçambique (Exclusivo dos cimentos, aço, indústria química, BancaPinto e Sotto Mayor, seguros- Mundial de Moçambique, produtos alimentares- Mobeira, imprensa, etc.) e de outros empreendimentos empresariais tais como a Lusalite de Moçambique. -

Belenenses SAD Moreirense FC
JORNADA 4 Belenenses SAD Moreirense FC Sexta, 27 de Agosto 2021 - 19:00 Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria POWERED BY Jornada 4 Belenenses SAD X Moreirense FC 2 Confronto histórico Ver mais detalhes Belenenses SAD 10 9 8 Moreirense FC GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 36 golos marcados, uma média de 1,33 golos/jogo 37% 33% 30% 26 golos marcados, uma média de 0,96 golos/jogo TOTAL BELENENSES SAD (CASA) MOREIRENSE FC (CASA) CAMPO NEUTRO J BEL E MFC GOLOS BEL E MFC GOLOS BEL E MFC GOLOS BEL E MFC GOLOS Total 27 10 9 8 36 26 7 4 2 18 4 3 5 6 18 22 0 0 0 0 0 Liga Portugal bwin 20 8 6 6 23 16 5 3 2 12 3 3 3 4 11 13 0 0 0 0 0 Liga Portugal SABSEG 6 2 2 2 10 7 2 1 0 6 1 0 1 2 4 6 0 0 0 0 0 Allianz Cup 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, BEL=Belenenses SAD, MFC=Moreirense FC FACTOS BELENENSES SAD FACTOS MOREIRENSE FC TOTAIS TOTAIS 78% em que marcou 56% em que marcou 56% em que sofreu golos 78% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 5 Jogos a vencer 2012-04-07 -> 2016-02-13 3 Jogos a vencer 2019-02-04 -> 2020-07-11 3 Jogos a perder 2019-02-04 -> 2020-07-11 6 Jogos sem vencer 2012-04-07 -> 2016-12-29 6 Jogos sem perder 2012-04-07 -> 2016-12-29 5 Jogos a perder 2012-04-07 -> 2016-02-13 RECORDES BELENENSES SAD: MAIOR VITÓRIA EM CASA 2ª Divisão de Honra 1998/1999 Belenenses SAD 4-0 Moreirense FC BELENENSES SAD: MAIOR VITÓRIA FORA Liga NOS 15/16 Moreirense FC 2-3 Belenenses SAD SuperLiga 04/05 Moreirense FC 0-1 Belenenses SAD Liga NOS 14/15 Moreirense FC 0-1 Belenenses SAD MOREIRENSE FC: MAIOR VITÓRIA EM CASA -
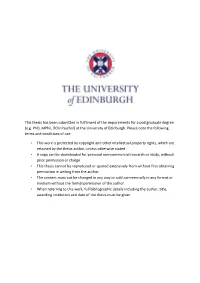
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. ‘These whites never come to our game. What do they know about our soccer?’ Soccer Fandom, Race, and the Rainbow Nation in South Africa Marc Fletcher PhD African Studies The University of Edinburgh 2012 ii The thesis has been composed by myself from the results of my own work, except where otherwise acknowledged. It has not been submitted in any previous application for a degree. Signed: (MARC WILLIAM FLETCHER) Date: iii iv ABSTRACT South African political elites framed the country’s successful bid to host the 2010 FIFA World Cup in terms of nation-building, evoking imagery of South African unity. Yet, a pre-season tournament in 2008 featuring the two glamour soccer clubs of South Africa, Kaizer Chiefs and Orlando Pirates, and the global brand of Manchester United, revealed a racially fractured soccer fandom that contradicted these notions of national unity through soccer. -

Gil Vicente FC Belenenses SAD
JORNADA 16 Gil Vicente FC Belenenses SAD Domingo, 12 de Janeiro 2020 - 15:00 Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos ORGANIZADOR POWERED BY Jornada 16 Gil Vicente FC X Belenenses SAD 2 Confronto histórico Ver mais detalhes Gil Vicente FC 10 13 15 Belenenses SAD GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 33 golos marcados, uma média de 0,87 golos/jogo 26% 34% 39% 46 golos marcados, uma média de 1,21 golos/jogo TOTAL GIL VICENTE FC (CASA) BELENENSES SAD (CASA) CAMPO NEUTRO J GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS Total 38 10 13 15 33 46 7 6 6 19 19 3 7 9 14 27 0 0 0 0 0 Liga NOS 30 9 10 11 27 34 6 4 5 15 16 3 6 6 12 18 0 0 0 0 0 LigaPro 4 0 2 2 2 8 0 2 0 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 Allianz Cup 4 1 1 2 4 4 1 0 1 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, GVFC=Gil Vicente FC, BEL=Belenenses SAD FACTOS GIL VICENTE FC FACTOS BELENENSES SAD TOTAIS TOTAIS 79% em que marcou 58% em que marcou 58% em que sofreu golos 79% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 5 Jogos a vencer 1991-03-24 -> 1994-03-06 4 Jogos a vencer 2005-01-09 -> 2006-05-07 5 Jogos sem vencer 1999-02-28 -> 2001-05-20 15 Jogos sem vencer 1991-03-24 -> 2000-01-30 4 Jogos a perder 2005-01-09 -> 2006-05-07 5 Jogos a perder 1991-03-24 -> 1994-03-06 15 Jogos sem perder 1991-03-24 -> 2000-01-30 5 Jogos sem perder 1999-02-28 -> 2001-05-20 RECORDES GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA EM CASA Taça da Liga 2011/12 Gil Vicente FC 2-0 Belenenses SAD SuperLiga 2002/2003 Gil Vicente FC 3-1 Belenenses SAD GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA FORA Liga betandwin.com 05/06 Belenenses -
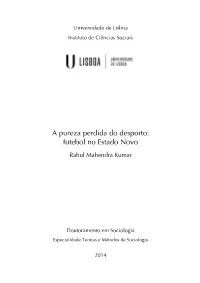
Tese Final Rahul
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais A pureza perdida do desporto: futebol no Estado Novo Rahul Mahendra Kumar Doutoramento em Sociologia Especialidade Teorias e Métodos de Sociologia 2014 Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais A pureza perdida do desporto: futebol no Estado Novo Rahul Mahendra Kumar Tese orientada pelo Professor Doutor José Manuel Sobral Doutoramento em Sociologia Especialidade Teorias e Métodos de Sociologia Tese apoiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia Bolsa de Doutoramento SFRH/BD/44577/2008 2014 Índice Agradecimentos i Resumo iv Abstract v Introdução 1 I. Sociogénese do campo desportivo português _ Introdução 21 _ Os primórdios do desporto em Portugal: uma prática distintiva 22 _ Comité Olímpico Português e o modelo aristocrático-militar 31 _ Alargamento e popularização do campo desportivo: o ciclismo e o boxe 38 _ A difusão do futebol e o crescimento da sociedade civil 48 _ Associativismo e ecletismo: dois traços fundamentais das organizações desportivas nacionais 52 _ A formação dos quadros competitivos e a popularização do jogo 55 _ O futebol no Algarve e o desenvolvimento do sector conserveiro: um estudo de caso 59 _ Olhanense campeão: a vitória do futebol popular 65 _ Os primeiros passos do semi-profissionalismo: o início e o fim do amor à camisola 71 _ A imprensa e a produção de uma narrativa desportiva 79 _ A selecção nacional nos Jogos Olímpicos de 1928: Cândido de Oliveira e António Ferro 83 _ Conclusão 94 II. Estado Novo e o desporto: ideologias e instituições _ Introdução -

Policia Militar Do Estado Do Rio De Janeiro Edital
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDITAL CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PRAÇAS – CRSP CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CFSd/2014 RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ETAPA MÉDICA O Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final da Etapa médica do concurso CFSd /2014. Serão disponibilizados 02 (dois) dias para interposição de recursos, 25 e 26 de junho de 2018, referentes a retificação do resultado final da etapa dos exames médicos do CFSd/2014, no endereço eletrônico da Exatus www.exatuspr.com.br. INSC NOME RESULTADO 1523427 ABEL GOMES DA COSTA JUNIOR APTO 1566820 ABEL JUSTINO SILVEIRA JUNIOR APTO 1569107 ABILIO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA APTO 1586022 ABNER DE SOUZA AMORIM APTO 1530070 ABNER DE SOUZA VELLOSO APTO 1655811 ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR APTO 1664179 ABNER FREITAS MAGALHAES APTO 1684521 ABRAHAO LEVI ALVES DA SILVA APTO 1676442 ADAILTON FRANCISCO DE LIMA RAMOS APTO 1574997 ADALBERTO DA CONCEIçãO REGO APTO 1646894 ADALBERTO SILVA DE SOUZA INAPTO 1652594 ADALBERTO SOUZA DE RESENDE APTO 1571702 ADALTON GONçALVES ROSA APTO 1568584 ADAM DE OLIVIERA DE PAULA APTO 1575236 ADAUTO LOBO DE SOUZA JUNIOR APTO 1517437 ADELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA APTO 1557566 ADEMAR LIMA VIEIRA INAPTO 1543490 ADEMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR APTO 1654936 ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA APTO 1550612 ADEMIR FERRAZ DA SILVA APTO 1631201 ADENILSON RODRIGUES DE SOUZA APTO 1512253 ADIELSON SILVA DE OLIVEIRA APTO