Entre Rios E a Cidade: Os Flutuantes De Tapauá No Amazonas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
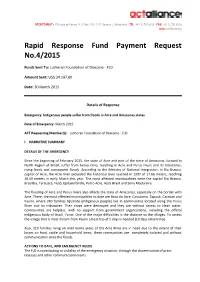
Rapid Response Fund Payment Request No.4/2015
SECRETARIAT - 150 route de Ferney, P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland - TEL: +41 22 791 6033 - FAX: +41 22 791 6506 www.actalliance.org Rapid Response Fund Payment Request No.4/2015 Funds Sent To: Lutheran Foundation of Diaconia - FLD Amount Sent: US$ 34.197,00 Date: 30 March 2015 Details of Response Emergency: Indigenous people suffer from floods in Acre and Amazonas states Date of Emergency: March 2015 ACT Requesting Member(s): Lutheran Foundation of Diaconia - FLD I. NARRATIVE SUMMARY DETAILS OF THE EMERGENCY Since the beginning of February 2015, the state of Acre and part of the state of Amazonas, located in North Region of Brazil, suffer from heavy rains, resulting in Acre and Purus rivers and its tributaries, rising levels and consequent floods. According to the Ministry of National Integration, in Rio Branco, capital of Acre, the Acre river exceeded the historical level reached in 1997 of 17.66 meters, reaching 18.40 meters in early March this year. The most affected municipalities were the capital Rio Branco, Brasiléia, Tarauacá, Feijó, Epitaciolândia, Porto Acre, Assis Brasil and Sena Madureira. The flooding of Acre and Purus rivers also affects the state of Amazonas, especially on the border with Acre. There, the most affected municipalities to date are Boca do Acre, Canutama, Tapauá, Carauari and Pauini, where 240 families Apurinãs (indigenous people) live in communities located along the Purus River and its tributaries. Their crops were destroyed and they are without access to clean water. Communities are helpless, with no support from government organizations, including the official indigenous body of Brazil, Funai. -

Lista De Contatos De Todos Os Municípios Do Amazonas
ATUALIZADA JUNHO / 2015 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS Rua Elin Virtonen, 35 – Cj. Shangrilá II - Bairro Parque Dez de Novembro - CEP: 69.054-694 FONE: (92) 3133-3250 FAX: (92) 3133-3251 - Site: www.aam.org.br - E-mail: [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES Endereço: PRAÇA DA LIBERDADE, 329 - CENTRO CEP: 69.475-000 Chefe de Gabinete: Sra. Ilce Rodrigues FONE: (97) 98808-1592 E-mail: [email protected] Prefeito: MÁRIO TOMAS LITAIFF - REELEITO Partido: PMDB Aniversário: 08/02/1968 Vice-Prefeito: Edenilson Litaiff Mendes Partido: PDT Aniversário: 16/07/1958 REPRESENTAÇÃO EM MANAUS: Rua 1, 351 - Conjunto Hiléia I (Próximo Centro Educacional Brígido Neto) Representante: Celular: Email: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ Endereço: RUA 21 DE JUNHO, 1746 - CENTRO CEP: 69.620-000 Gabinete FONE/FAX:(97) 3463-1150 Chefe Gabinete João Litaiff: (92) 98246-9933 Sec. Def. Civil Edimar: (97) 98124-4174 Fiscal de Tributo Denis: (97) 98123-4654 E-mail: [email protected] Prefeito: JOÃO BRAGA DIAS - REELEITO Partido: PT Aniversário: 03/10/1962 Vice-Prefeito: Sergio Ferreira dos Santos Neto Partido: PT Aniversário: 22/04/1977 REPRESENTAÇÃO EM MANAUS: Casa de Apoio: Rua L, 483 - Alvorada II Representante: Benedito Azedo Ribeiro Email: [email protected] FONE / FAX: (92) 3321-1751 Celular: (92) 99250-8413/98270-2361/99619-3981 Email: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ Endereço: RUA ÁLVARO MAIA, 38 - CENTRO CEP: 69.445-000 Gabinete FONE/FAX: (97) 3356 -1123 Sec. Adm.: Tereza Fone/Fax: (97) 3356-1309 Email: Sec. Finanças: (97) -

Nota Técnica Nº 2 Reflexões Sobre O Comportamento Da
NOTA TÉCNICA Nº 2 REFLEXÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DA EPIDEMIA DA COVID-19 SEGUNDO AS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS. 1 - INTRODUÇÃO O Instituto “Leônidas e Maria Deane - ILMD”, em conjunto com o Observatório Covid-19, ambos da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, em continuidade à proposta de contribuição ao estado do Amazonas e seus municípios, está disponibilizando a sua segunda Nota Técnica, cujo conteúdo aborda o comportamento da epidemia da COVID- 19, com enfoque nas macrorregiões do Estado e regionais de saúde, frente a um olhar da magnitude e ocorrência espaço-temporal dos casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, correlacionados à etiologia pelo Sars-Cov-2. O foco do presente estudo encontra-se direcionado à análise do comportamento da curva epidêmica, tendo como principal indicador a taxa de incidência de SRAG, onde se estima as tendências a curto e a médio prazo, por macrorregiões e regionais de saúde do Estado. Para eliminar o possível viés desses aglomerados, sua capital Manaus foi trabalhada de forma isolada, assim como, para as regionais, foram excluídas as notificações que tinham como local de residência a capital do Estado. Para a análise espacial foram utilizadas as três macrorregiões do Estado, compreendendo: a Macrorregião CENTRAL, que abrange as regionais de saúde: Entorno de Manaus e Alto Rio negro, Rio Negro e Solimões e regional do rio Purus; Macrorregião LESTE, com as regionais de saúde: Médio Amazonas, Baixo Amazonas e Rio Madeira; e, Macrorregião OESTE, com as regionais de saúde Rio Juruá, -

Relação De Unidades Hospitalares Com Leito Interior - Amazonas
Relação de Unidades Hospitalares com leito Interior - Amazonas Nº Total CPAP COVID Cápsula Mecânico UNIDADE UNIDADE leitos UCI Ventilador MUNICÍPIO HOSPITALAR Neonatologia leitos sala rosa 1 Alvarães UNIDADE HOSPITALAR DE ALVARAES 22 0 4 0 0 0 0 2 Amaturá UNIDADE HOSPITALAR DE AMATURA 30 0 8 0 0 0 0 3 Amaná UNIDADE HOSPITALAR DE ANAMA 20 0 3 0 0 0 0 4 Anori UNIDADE HOSPITALAR DE ANORI 23 0 3 0 0 0 0 5 Apuí UNIDADE HOSPITALAR DE APUI 42 2 4 2 0 0 0 6 Atalaia do Norte UNIDADE HOSPITALAR DE ATALAIA DO NORTE 31 0 4 0 0 0 0 7 Autazes UNIDADE HOSPITALAR DE AUTAZES 33 0 11 0 0 1 0 8 Barcelos UNIDADE DE CAMPANHA BARCELOS 31 0 31 1 0 4 10 9 Barcelos UNIDADE HOSPITALAR DE BARCELOS 20 0 0 1 0 0 0 10 Barreirinha UNIDADE HOSPITALAR DE BARREIRINHA 31 0 5 0 0 0 0 HOSPITAL GERAL DE BENJAMIN CONSTANT DOUTOR Benjamin Constant 38 0 4 0 0 0 0 11 MELVINO DE JESUS 12 Beruri UNIDADE HOSPITALAR DE BERURI 13 0 2 0 0 0 0 13 Boa Vista do Ramos UNIDADE HOSPITALAR DE BOA VISTA DO RAMOS 22 0 3 0 0 1 0 14 Boca do Acre UNIDADE HOSPITALAR DE BOCA DO ACRE 61 1 18 0 0 1 0 15 Borba HOSPITAL DE BORBA VO MUNDOCA 40 2 10 1 0 0 16 Caapiranga UNIDADE HOSPITALAR DE CAAPIRANGA 21 0 2 0 0 0 0 17 Canutama UNIDADE HOSPITALAR DE CANUTAMA 16 0 3 0 0 0 0 18 Carauari UNIDADE HOSPITALAR DE CARAUARI 50 2 3 0 0 1 0 19 Careiro da Várzea - 0 0 4 0 0 0 0 20 Careiro UNIDADE HOSPITALAR DE CASTANHO 20 0 4 0 0 1 0 HOSPITAL REGIONAL DE COARI PREF DR ODAIR CARLOS Coari 104 5 10 9 0 0 0 21 GERALDO 22 Codajás UNIDADE HOSPITALAR DE CODAJAS 47 0 2 0 0 0 0 23 Eirunepé UNIDADE HOSPITALAR DE EIRUNEPE 80 -

Mansonella Ozzardi in Brazil: Prevalence of Infection in Riverine Communities in the Purus Region, in the State of Amazonas
74 Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 104(1): 74-80, February 2009 Mansonella ozzardi in Brazil: prevalence of infection in riverine communities in the Purus region, in the state of Amazonas Jansen Fernandes Medeiros1/+, Victor Py-Daniel2, Ulysses Carvalho Barbosa2, Thiago Junqueira Izzo3 1Coordenação de Pesquisas em Ciências da Saúde 2Núcleo de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais 3Coordenação de Pesquisas em Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CP 478, 69011-970 Manaus, AM, Brasil This study was undertaken to investigate the prevalence of Mansonella ozzardi infection and to estimate the parasitic infection rate (PIR) in simuliid black flies in the municipality of Pauini, Amazonas, Brazil. We used thick blood films to examine 921 individuals in 35 riverine communities along the Pauini and Purus Rivers. Simuliids were caught in several communities. Flies were identified, stained with haematoxylin and dissected. Overall, 44 (24.86%) of 177 riverines were infected in communities on the Pauini River and 183 (24.19%) of 744 on the Purus. The preva- lence was higher in men (31.81% and 29.82%) than in women (17.98% and 19.18%) and occurred in most age groups. The prevalence increased sharply in the 28-37 (50% and 42.68%) age group and increased in the older age classes. The highest prevalence was in farmers (44% and 52.17%, respectively) in the Pauini and Purus Rivers. Only Cer- queirellum amazonicum (Simuliidae) transmits M. ozzardi in this municipality, and we found a PIR of 0-8.43% and infectivity rate of 0-3.61%. These results confirm that rates of M. -

Diptera: Culicidae) Along the Acre and Purus Rivers, Amazon Basin, Brazil
A SURVEY OF THE Anopheles MOSQUITOES (DIPTERA: CULICIDAE) ALONG THE ACRE AND PURUS RIVERS, AMAZON BASIN, BRAZIL Robert H. ZIMMERMAN1, Francisco Xavier PAULINO2, Mercia de ARRUDA3 ABSTRACT — From January 19 to February 25, 1997 an entomological survey of the seringais and larger towns along the Acre and Purus rivers was made as part of the project “Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas; da Borracha a Biodiversidad”. Eleven anopheline species and 1285 specimens were collected landing on human baits. The four most abundant species were Anopheles albitarsis s.l. (n=778), A. darlingi (n=359), A. rangeli (n=69) and A. oswaldoi (n=60). A total of 252 larvae were collected of which 10 anopheline species were identified. The most abundant species collected were A. albitarsis s.l. (n=88), A. deaneorum (n=45) and A. triannulatus (n=40). The low numbers of Anopheles collected and the absence of the principal malaria vector A. darlingi at the seringais sites suggests that they arc not high risk malarious areas. Other Diptera collected were Culex sp., Mansonia titillans, Mansonia pseudotitillans, Psorophora ciliata, Psorophora sp., Coquillettidia (Rhynchotaenia) sp., Simulium amazonicum and S. sanguineum. Keywords: Anopheles, Malaria, Amazon Levantamento dos Mosquitos Anopheles (Diptera: Culiicidae) ao Longo dos Rios Acre e Purus, na Bacia Amazônica, Brasil. RESUMO — Entre os meses de Janeiro/Fevereiro de 1997, foi realizado um levantamento entomológico nos seringais c comunidades localizadas no vale do rios Acre e Purus, como parte do projeto “Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas; da Borracha a Biodiversidade”. Foram capturados no processo de pouso, um total de 1.285 anofelinos pertencentes a 11 espécies. -

(Testudines: Podocnemididae) in the Purus River, Amazon Basin, Brazil: Current Status and Perspectives Pantoja-Lima Et Al
JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE Chain of commercialization of Podocnemis spp. turtles (Testudines: Podocnemididae) in the Purus River, Amazon basin, Brazil: current status and perspectives Pantoja-Lima et al. Pantoja-Lima et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2014, 10:8 http://www.ethnobiomed.com/content/10/1/8 Pantoja-Lima et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2014, 10:8 http://www.ethnobiomed.com/content/10/1/8 JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE RESEARCH Open Access Chain of commercialization of Podocnemis spp. turtles (Testudines: Podocnemididae) in the Purus River, Amazon basin, Brazil: current status and perspectives Jackson Pantoja-Lima1*, Paulo HR Aride1, Adriano T de Oliveira1, Daniely Félix-Silva2, Juarez CB Pezzuti2 and George H Rebêlo3 Abstract Background: Consumption of turtles by natives and settlers in the Amazon and Orinoco has been widely studied in scientific communities. Accepted cultural customs and the local dietary and monetary needs need to be taken into account in conservation programs, and when implementing federal laws related to consumption and fishing methods. This study was conducted around the Purus River, a region known for the consumption and illegal trade of turtles. The objective of this study was to quantify the illegal turtle trade in Tapauá and to understand its effect on the local economy. Methods: This study was conducted in the municipality of Tapauá in the state of Amazonas, Brazil. To estimate turtle consumption, interviews were conducted over 2 consecutive years (2006 and 2007) in urban areas and isolated communities. The experimental design was randomized with respect to type of household. To study the turtle fishery and trade chain, we used snowball sampling methodology. -

Relatório Atualizado - Situação Dos Municípios Válido Até 19/05/2021
DEFESA CIVIL AMAZONAS CHEIA 2021 Relatório atualizado - Situação dos municípios Válido até 19/05/2021 Levantamento realizado diariamente pela Defesa Civil do Amazonas através do Centro de Monitoramento e Alerta -CEMOA e pela gerência regional que realiza o acompanhamento diário com os coordenadores municipais. Municípios em situação de ATENÇÃO: 06 Calha do Médio Solimões Coari - 8.808 pessoas afetadas, 2.202 famílias atingidas e 524 desabrigadas Calha do Baixo Solimões Codajás – 20.300 pessoas afetadas e 5.075 famílias atingidas Calha do Rio Negro São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Novo Airão e Barcelos Municípios em situação de ALERTA:09 Calha do Médio Solimões Jutaí - 1.773 pessoas afetadas e 444 famílias atingidas Fonte Boa - 9.644 pessoas afetadas e 2.411 famílias atingidas Alvarães - 5.791 pessoas afetadas e 1.448 famílias atingidas Uarini - 5.544 pessoas afetadas, 1.386 famílias atingidas Japurá, Maraã, Tefé DEFESA CIVIL AMAZONAS CHEIA 2021 Calha do Madeira Manicoré Careiro Castanho - 1.017 pessoas afetadas, 254 famílias atingidas e 411 desalojadas Municípios em situação de TRANSBORDAMENTO: 18 Calha do Purus Beruri - 1.712 pessoas afetadas e 428 famílias atingidas Calha do Baixo Solimões Iranduba - 1.138 pessoas afetadas e285 famílias atingidas Calha do Médio Amazonas Itacoatiara, Silves, Urucurituba e Itapiranga Autazes - 868 pessoas afetadas e 217 famílias atingidas Calha do Baixo Amazonas Barreirinha - 16.560 pessoas afetadas 4.140 famílias atingidas Urucará, São Sebastião do Uatumã, Maués Parintins - 47.035 pessoas afetadas e 11.759 famílias atingidas Nhamundá - 5.180 pessoas afetada, 1.295 famílias atingidas, 123 pessoas desabrigadas e 1.765 pessoas desalojadas. -

Manacapuru Leo Wagner
Sales, L. T. et al. Rev. Bras. Eng. Pesca 4(2): i-viii, 2009 ISSNe 2175-3008 ______________________________________________________________________________________________ INFORMES SOBRE A PESCA EM MANACAPURU, AMAZONAS, BRASIL Leonardo Teixeira de SALES*, Wagner Gondim CAVALCANTI-FILHO Departamento de Ciências do Mar, Universidade Federal do Piauí-UFPI *e-mail: [email protected] Recebido em: 15 de julho de 2009 A cidade de Manacapuru, fundada em 1894, está localizada numa altitude de 34 metros acima do nível do mar, na latitude 3º 18’ 33’’ S e longitude 60º 33’ 21” W, estabelecendo limites com os municípios de Anamã, Beruri, Caapiranga, Iranduba, Manaquiri e Novo Airão. Seu clima tropical chuvoso e úmido é amenizado por alta pluviosidade e ventos alísios do Atlântico, chegando a ocorrer leve queda de temperatura durante a noite, sua temperatura média é de 26ºC, com variações entre máxima de 31ºC e mínima de 23ºC, com duas estações distintas, verão a partir de maio e inverno a partir de dezembro. Figura 1. Posição geográfica de Manacapuru, Amazonas, Brasil (Adaptado de http://www.viagensmaneiras.com/ viagens/manacapuru.htm). Figura 2. Manacapuru, Amazonas, Brasil Centro Comercial (Fonte: http://www.viagensmaneiras.com/viagens/manacapuru.htm). i ________________________________________________________________________________________________ Indexada na base de dados: www.sumarios.org Sales, L. T. et al. Rev. Bras. Eng. Pesca 4(2): i-viii, 2009 ISSNe 2175-3008 ______________________________________________________________________________________________ Com uma área de 7.063 Km², o município é banhado pelos rios Solimões, Purus, Manacapuru e Jarí, tendo seu centro comercial e sede administrativa situados à margem esquerda do rio Solimões (Figura 1), na confluência com a foz do rio Manacapuru, a Sudoeste de Manaus, distando em linha reta 68 Km da capital, 88 km por via fluvial e 86 km por rodovia, direção 74º 09' exatamente na Zona Fisiográfica Solimões-Tefé. -

ZEE Do Purus
1 1 Omar José Abdel Aziz Governador Fernando Figueiredo Prestes Vice-Governador Coordenação Geral: Nádia Cristina d’Avila Ferreira (SDS) Coordenação Técnica: Valdenor Pontes Cardoso (SDS) Nadia Cristina d’Avila Ferreira Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Ruth Lilian Rodrigues da Silva Secretária Executiva de Gestão – SDS Daniel Borges Nava Secretário Executivo de Geodiversidade e Recursos Hídricos – SDS Valdenor Pontes Cardoso Secretário Executivo Adjunto de Gestão Ambiental – SDS José Adailton Alves Secretária Executiva Adjunta de Compensações e Serviços Ambientais – SDS Aldenilza Mesquita Vieira Secretária Executiva Adjunta de Florestas e Extrativismo – SDS Graco Diniz Fregapani Diretor - Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM Raimundo Valdelino Rodrigues Cavalcante Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável - ADS Daniel Jack Feder Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS Elaboração/Equipe Técnica: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS Valdenor Pontes Cardoso Alexsandra de S. S. Bianchini Mario Ney Nascimento Ferreira Ney Ribeiro Filho Anne Carolina M. Dirane Gil Wemerson Moraes de Lima 2 Cintia Castro Quaresma Alzenilson Santos de Aquino Marcus Wilson Tardelly L. Cursino Frank Luiz de Lima Gadelha Glaucius Douglas Y. Ferreira Kildery Alex Freitas Serrão Carlos Weber Passos da Silva Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas - CEZEE. Kampatec Assessoria e Consultoria Ltda. Katia Castro de Matteo Eraldo Matricardi Taiguara Raiol Alencar Thiago Galvão Gustavo de Oliveira Lopes Juliana Jacinto Urbanski Serviço Geológico do Brasil - CPRM Valter Marques Chefe da Divisão de Gestão Territorial da Amazônia Cooperação Técnica Alemã Heliandro Torres Maia Maria Beatriz O. David Colaboração/Parceiros: Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas - CEZEE. -

Boletim Nº 20 - 21 De Maio De 2021 - BOLETIM DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL – DHT SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS BOLETIM DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL Boletim nº 20 - 21 de maio de 2021 - BOLETIM DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL O objetivo do presente boletim é fornecer informações hidrológicas atualizadas das principais estações hidrometeorológicas da Amazônia Ocidental, a serem utilizadas para os diversos fins que se fizerem necessários. Para tanto, são fornecidos dados provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional, operada em parceria entre ANA e CPRM, apresentando-se uma breve comparação entre o comportamento hidrológico atual e o observado ao longo das respectivas séries históricas. Também são apresentados o diagnóstico e a previsão climática fornecidos pelo SIPAM – Sistema de Proteção da Amazônia. Quaisquer dúvidas em relação às informações apresentadas podem ser esclarecidas através do e-mail: [email protected]. 1. Comportamento das estações fluviométricas monitoradas De acordo com o comportamento atual dos níveis dos rios, em comparação aos dados observados nas respectivas séries históricas apresentados nos cotagramas ao final do boletim, verifica-se os seguintes padrões: Bacia do rio Branco: As estações do rio Branco, Boa Vista e Caracaraí, apresentam processo de enchente, com níveis considerados altos para o atual período do ano. Bacia do rio Negro: O nível do rio Negro continua elevado em todas as estações monitoradas da calha principal do rio. Em São Gabriel da Cachoeira, o rio atingiu a cheia recorde, estabelecendo 2021 como a maior cheia da série histórica da estação. Em Manaus, o rio segue em processo de enchente severa subindo a uma média de 3 cm por dia na última semana. -

Manaus, Quarta-Feira, 28 De Abril De 2021 7
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 28 de abril de 2021 7 MUNICIPIO: PAUINI 1 SUZANA CARVALHO LIMA 23183691 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA MUNICIPIO: TONANTINS CLASS. NOME DOC. IDENT DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA 5 LUCIELLE DE ASSIS WIERMANN MG 12350733 CLASS. NOME DOC. IDENT 6 ROSELI ROBERTO DE LIMA 19922299 2 EDILSON NASCIMENTO SEVERIANO 16966562 MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA MUNICIPIO: TONANTINS DISCIPLINA: GEOGRAFIA DISCIPLINA: QUÍMICA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 4 CLOALVES MEDEIROS NASCIMENTO 1939169-2 1 MARIA DO BOM CONSELHO NASCIMENTO 4446810 5 LAZIOMAR MARTINS DOS SANTOS JUNIOR 1754458-0 MUNICIPIO: URUCARÁ MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA DISCIPLINA: CIÊNCIAS DISCIPLINA: HISTÓRIA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 3 ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA 5372152 4 TAMARA PRADO RODRIGUES 1894050-1 MUNICIPIO: URUCARÁ MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA DISCIPLINA: GEOGRAFIA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 7 RILDO DA CUNHA TEIXEIRA 10307893 12 ADRIELLE FABIOLA DE SOUZA CAMPOS 2136592-0 MUNICIPIO: URUCURITUBA MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA DISCIPLINA: BIOLOGIA DISCIPLINA: MATEMÁTICA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 3 LILIA ROSA GOMES DE AZEVEDO 15756351 7 FABRICIO CRUZ CASTRO 26487136 MUNICIPIO: URUCURITUBA MUNICIPIO: TABATINGA DISCIPLINA: GEOGRAFIA DISCIPLINA: HISTÓRIA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 4 RICARDO DE SOUZA MATOS 7335227 3 DENISE TARGINO VILLAR 2597779 5 MARIA DE JESUS SOARES FONSECA 11296348 MUNICIPIO: TABATINGA MUNICIPIO: URUCURITUBA DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA DISCIPLINA: HISTÓRIA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 3 MARILENE BENTES FONSECA 12000752 2 SABRINA ALMEIDA DOS SANTOS 20006659 MUNICIPIO: URUCURITUBA MUNICIPIO: TABATINGA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA CLASS.