ZEE Do Purus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
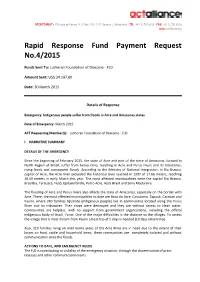
Rapid Response Fund Payment Request No.4/2015
SECRETARIAT - 150 route de Ferney, P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland - TEL: +41 22 791 6033 - FAX: +41 22 791 6506 www.actalliance.org Rapid Response Fund Payment Request No.4/2015 Funds Sent To: Lutheran Foundation of Diaconia - FLD Amount Sent: US$ 34.197,00 Date: 30 March 2015 Details of Response Emergency: Indigenous people suffer from floods in Acre and Amazonas states Date of Emergency: March 2015 ACT Requesting Member(s): Lutheran Foundation of Diaconia - FLD I. NARRATIVE SUMMARY DETAILS OF THE EMERGENCY Since the beginning of February 2015, the state of Acre and part of the state of Amazonas, located in North Region of Brazil, suffer from heavy rains, resulting in Acre and Purus rivers and its tributaries, rising levels and consequent floods. According to the Ministry of National Integration, in Rio Branco, capital of Acre, the Acre river exceeded the historical level reached in 1997 of 17.66 meters, reaching 18.40 meters in early March this year. The most affected municipalities were the capital Rio Branco, Brasiléia, Tarauacá, Feijó, Epitaciolândia, Porto Acre, Assis Brasil and Sena Madureira. The flooding of Acre and Purus rivers also affects the state of Amazonas, especially on the border with Acre. There, the most affected municipalities to date are Boca do Acre, Canutama, Tapauá, Carauari and Pauini, where 240 families Apurinãs (indigenous people) live in communities located along the Purus River and its tributaries. Their crops were destroyed and they are without access to clean water. Communities are helpless, with no support from government organizations, including the official indigenous body of Brazil, Funai. -

Mansonella Ozzardi in Brazil: Prevalence of Infection in Riverine Communities in the Purus Region, in the State of Amazonas
74 Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 104(1): 74-80, February 2009 Mansonella ozzardi in Brazil: prevalence of infection in riverine communities in the Purus region, in the state of Amazonas Jansen Fernandes Medeiros1/+, Victor Py-Daniel2, Ulysses Carvalho Barbosa2, Thiago Junqueira Izzo3 1Coordenação de Pesquisas em Ciências da Saúde 2Núcleo de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais 3Coordenação de Pesquisas em Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CP 478, 69011-970 Manaus, AM, Brasil This study was undertaken to investigate the prevalence of Mansonella ozzardi infection and to estimate the parasitic infection rate (PIR) in simuliid black flies in the municipality of Pauini, Amazonas, Brazil. We used thick blood films to examine 921 individuals in 35 riverine communities along the Pauini and Purus Rivers. Simuliids were caught in several communities. Flies were identified, stained with haematoxylin and dissected. Overall, 44 (24.86%) of 177 riverines were infected in communities on the Pauini River and 183 (24.19%) of 744 on the Purus. The preva- lence was higher in men (31.81% and 29.82%) than in women (17.98% and 19.18%) and occurred in most age groups. The prevalence increased sharply in the 28-37 (50% and 42.68%) age group and increased in the older age classes. The highest prevalence was in farmers (44% and 52.17%, respectively) in the Pauini and Purus Rivers. Only Cer- queirellum amazonicum (Simuliidae) transmits M. ozzardi in this municipality, and we found a PIR of 0-8.43% and infectivity rate of 0-3.61%. These results confirm that rates of M. -

Relatório Atualizado - Situação Dos Municípios Válido Até 19/05/2021
DEFESA CIVIL AMAZONAS CHEIA 2021 Relatório atualizado - Situação dos municípios Válido até 19/05/2021 Levantamento realizado diariamente pela Defesa Civil do Amazonas através do Centro de Monitoramento e Alerta -CEMOA e pela gerência regional que realiza o acompanhamento diário com os coordenadores municipais. Municípios em situação de ATENÇÃO: 06 Calha do Médio Solimões Coari - 8.808 pessoas afetadas, 2.202 famílias atingidas e 524 desabrigadas Calha do Baixo Solimões Codajás – 20.300 pessoas afetadas e 5.075 famílias atingidas Calha do Rio Negro São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Novo Airão e Barcelos Municípios em situação de ALERTA:09 Calha do Médio Solimões Jutaí - 1.773 pessoas afetadas e 444 famílias atingidas Fonte Boa - 9.644 pessoas afetadas e 2.411 famílias atingidas Alvarães - 5.791 pessoas afetadas e 1.448 famílias atingidas Uarini - 5.544 pessoas afetadas, 1.386 famílias atingidas Japurá, Maraã, Tefé DEFESA CIVIL AMAZONAS CHEIA 2021 Calha do Madeira Manicoré Careiro Castanho - 1.017 pessoas afetadas, 254 famílias atingidas e 411 desalojadas Municípios em situação de TRANSBORDAMENTO: 18 Calha do Purus Beruri - 1.712 pessoas afetadas e 428 famílias atingidas Calha do Baixo Solimões Iranduba - 1.138 pessoas afetadas e285 famílias atingidas Calha do Médio Amazonas Itacoatiara, Silves, Urucurituba e Itapiranga Autazes - 868 pessoas afetadas e 217 famílias atingidas Calha do Baixo Amazonas Barreirinha - 16.560 pessoas afetadas 4.140 famílias atingidas Urucará, São Sebastião do Uatumã, Maués Parintins - 47.035 pessoas afetadas e 11.759 famílias atingidas Nhamundá - 5.180 pessoas afetada, 1.295 famílias atingidas, 123 pessoas desabrigadas e 1.765 pessoas desalojadas. -

ZEE Do Purus
1 1 Omar José Abdel Aziz Governador Fernando Figueiredo Prestes Vice-Governador Coordenação Geral: Nádia Cristina d’Avila Ferreira (SDS) Coordenação Técnica: Valdenor Pontes Cardoso (SDS) Nadia Cristina d’Avila Ferreira Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Ruth Lilian Rodrigues da Silva Secretária Executiva de Gestão – SDS Daniel Borges Nava Secretário Executivo de Geodiversidade e Recursos Hídricos – SDS Valdenor Pontes Cardoso Secretário Executivo Adjunto de Gestão Ambiental – SDS José Adailton Alves Secretária Executiva Adjunta de Compensações e Serviços Ambientais – SDS Aldenilza Mesquita Vieira Secretária Executiva Adjunta de Florestas e Extrativismo – SDS Graco Diniz Fregapani Diretor - Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM Raimundo Valdelino Rodrigues Cavalcante Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável - ADS Daniel Jack Feder Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS Elaboração/Equipe Técnica: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS Valdenor Pontes Cardoso Alexsandra de S. S. Bianchini Mario Ney Nascimento Ferreira Ney Ribeiro Filho Anne Carolina M. Dirane Gil Wemerson Moraes de Lima 2 Cintia Castro Quaresma Alzenilson Santos de Aquino Marcus Wilson Tardelly L. Cursino Frank Luiz de Lima Gadelha Glaucius Douglas Y. Ferreira Kildery Alex Freitas Serrão Carlos Weber Passos da Silva Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas - CEZEE. Kampatec Assessoria e Consultoria Ltda. Katia Castro de Matteo Eraldo Matricardi Taiguara Raiol Alencar Thiago Galvão Gustavo de Oliveira Lopes Juliana Jacinto Urbanski Serviço Geológico do Brasil - CPRM Valter Marques Chefe da Divisão de Gestão Territorial da Amazônia Cooperação Técnica Alemã Heliandro Torres Maia Maria Beatriz O. David Colaboração/Parceiros: Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas - CEZEE. -

Manaus, Quarta-Feira, 28 De Abril De 2021 7
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 28 de abril de 2021 7 MUNICIPIO: PAUINI 1 SUZANA CARVALHO LIMA 23183691 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA MUNICIPIO: TONANTINS CLASS. NOME DOC. IDENT DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA 5 LUCIELLE DE ASSIS WIERMANN MG 12350733 CLASS. NOME DOC. IDENT 6 ROSELI ROBERTO DE LIMA 19922299 2 EDILSON NASCIMENTO SEVERIANO 16966562 MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA MUNICIPIO: TONANTINS DISCIPLINA: GEOGRAFIA DISCIPLINA: QUÍMICA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 4 CLOALVES MEDEIROS NASCIMENTO 1939169-2 1 MARIA DO BOM CONSELHO NASCIMENTO 4446810 5 LAZIOMAR MARTINS DOS SANTOS JUNIOR 1754458-0 MUNICIPIO: URUCARÁ MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA DISCIPLINA: CIÊNCIAS DISCIPLINA: HISTÓRIA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 3 ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA 5372152 4 TAMARA PRADO RODRIGUES 1894050-1 MUNICIPIO: URUCARÁ MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA DISCIPLINA: GEOGRAFIA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 7 RILDO DA CUNHA TEIXEIRA 10307893 12 ADRIELLE FABIOLA DE SOUZA CAMPOS 2136592-0 MUNICIPIO: URUCURITUBA MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO IÇA DISCIPLINA: BIOLOGIA DISCIPLINA: MATEMÁTICA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 3 LILIA ROSA GOMES DE AZEVEDO 15756351 7 FABRICIO CRUZ CASTRO 26487136 MUNICIPIO: URUCURITUBA MUNICIPIO: TABATINGA DISCIPLINA: GEOGRAFIA DISCIPLINA: HISTÓRIA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 4 RICARDO DE SOUZA MATOS 7335227 3 DENISE TARGINO VILLAR 2597779 5 MARIA DE JESUS SOARES FONSECA 11296348 MUNICIPIO: TABATINGA MUNICIPIO: URUCURITUBA DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA DISCIPLINA: HISTÓRIA CLASS. NOME DOC. IDENT CLASS. NOME DOC. IDENT 3 MARILENE BENTES FONSECA 12000752 2 SABRINA ALMEIDA DOS SANTOS 20006659 MUNICIPIO: URUCURITUBA MUNICIPIO: TABATINGA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA CLASS. -

Gerência De Epidemiologia Estrutura Organizacional E Recursos Humanos
Gerência de Epidemiologia Estrutura Organizacional e Recursos Humanos Dra. Lucilene Sales Arinilda Andreza Maria Débora Álvaro Roger Assis Raju Radiene Janete Moraes Diego Socorro Abreu AçõesAçõesAções realizadas realizadas realizadas nos nos MunicípiosMunicípios Municípios do do Amazonas do Amazonas Amazonas pela pela pelaFundaçãoFundação Fundação Alfredo Alfredo Alfredo da da MattaMatta da Matta 2016em 2014 2015 S. G. DA CACHOEIRA STA. I. DO R. NEGRO BARCELOS URUCARÁ PRES. FIGUEIREDO JAPURÁ S. S. UATUMÃ HNAMUNDÁ MARAA FONTE BOA NOVO AIRÃO ITAPIRANGA R. P. EVA PARINTINS MANAUS URUCURITUBA TONANTINS SILVES STO. A. IÇA CAAPIRANGA UARINI CODAJAS B. V. RAMOS IRAND. AMATURA MANACAPURU C. VÁRZEA ITACOATIARA JURUA CAREIRO BARRERINHA ALVARAES ANAMA CAREIRO AUTAZES N. O. NORTE TABATINGA TABATINGA MANAQUIRI COARI ANORI JUTAI TEFE BERURI S. P. OLIVENÇA BORBA MAUES CARAUARI BENJ. CONSTANT ATALAIA DO NORTE Intensificação + Monitoramento MANICORE N. ARIPUANÃ TAPAUA EIRUNEPE ITAMARATI Treinamento na FUAM IPIXUNA GUAJARA CANUTAMA HUMAITA Treinamento via Telessaúde PAUINI APUI ENVIRA Realizado Cirurgia LABREA BOCA DO ACRE 53 Municípios2540 Municípios supervisionados supervisionados Ações realizadas nos Municípios do Amazonas pela Fundação Alfredo da Matta 2014, 2015 e 2016 2014 2015 25 Municípios 40 Municipios S. G. DA CACHOEIRA STA. I. DO R. NEGROBARCELOS S. G. DA CACHOEIRA STA. I. DO R. NEGROBARCELOS URUCARÁ URUCARÁ PRES. FIGUEIREDO JAPURÁ PRES. FIGUEIREDO JAPURÁ S. S. UATUMÃHNAMUNDÁ S. S. UATUMÃ MARAA MARAA HNAMUNDÁ FONTE BOA NOVO AIRÃO ITAPIRANGA FONTE BOA NOVO AIRÃO ITAPIRANGA R. P. EVA PARINTINS R. P. EVA PARINTINS MANAUS MANAUS TONANTINS SILVESURUCURITUBA TONANTINS SILVESURUCURITUBA STO. A. IÇA STO. A. IÇA UARINI CODAJASCAAPIRANGA B. V. RAMOS UARINI CODAJASCAAPIRANGA B. V. RAMOS AMATURA MANACAPURUIRAND.C. -

Seasonal Pattern of Malaria Cases and the Relationship with Hydrologic Variability in the Amazonas State, Brazil
DOI: 10.1590/1980-549720200018 ARTIGO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE Padrão sazonal dos casos de malária e a relação com a variabilidade hidrológica no Estado do Amazonas, Brasil Seasonal pattern of malaria cases and the relationship with hydrologic variability in the Amazonas State, Brazil Bruna Wolfarth-CoutoI , Naziano FilizolaII , Laurent DurieuxIII RESUMO: Introdução: A malária é uma doença infecciosa de alta transmissão na região amazônica, porém sua dinâmica e distribuição espacial podem variar, dependendo da interação de fatores ambientais, socioculturais, econômicos e políticos e serviços de saúde. Objetivo: Verificar a existência de padrões de casos de malária em consonância com os regimes fluviométricos da bacia amazônica. Métodos: Foram utilizados métodos de estatística descritiva e inferencial nos dados de casos de malária e nível d’água para 35 municípios do estado do Amazonas, no período de 2003 a 2014. Resultados: A existência de uma tendência que module a sazonalidade dos casos de malária, devido a períodos distintos de inundação dos rios, foi demonstrada. Diferenças foram observadas na variabilidade hidrológica anual, acompanhada por diferentes padrões de casos de malária, mostrando uma tendência de remodelação do perfil epidemiológico em função do pulso de inundação. Conclusão: O estudo sugere a implementação de estratégias regionais e locais, considerando os regimes hidrológicos da Bacia Amazônica, possibilitando ações municipais de atenuação da malária no estado do Amazonas. Palavras-chave: Hidrologia. Malária. Distribuição espacial. IPrograma de Pós-Graduação em Clima e Ambiente, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Manaus (AM), Brasil. IILaboratório de Potamologia do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas – Manaus (AM), Brasil. IIIUMR ESPACE-DEV, Institut de Recherche pour le Développement – Montpellier, France. -

Fpm) - Urbano E Rural Brasil 2018
POPULAÇÃO, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) - URBANO E RURAL BRASIL 2018 Percentual em que QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO VALOR DOS BENEFÍCIOS PAGOS FPM - VALOR DOS o valor dos Benef. UNIDADE DA PREVIDENCIÁRIOS MUNICÍPIO (JUL-2018)* EM 2018 (em R$) FEDERAÇÃO (DEZ-2018) REPASSES EM 2018 Prev. Rurais supera (em R$) os repasses do FPM (%) Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Alvarães Amazonas 8.879 6.981 38 527 588.108 5.326.238 9.854.003 -45,9% Amaturá Amazonas 5.937 5.395 35 427 462.032 4.681.180 7.883.202 -40,6% Anamã Amazonas 5.422 7.847 28 360 312.780 3.762.355 7.883.202 -52,3% Anori Amazonas 12.587 7.951 37 625 586.436 6.679.178 11.824.803 -43,5% Apuí Amazonas 12.699 8.884 105 1.331 1.520.317 14.030.612 11.824.803 18,7% Atalaia do Norte Amazonas 8.842 10.596 23 292 391.513 3.340.875 11.824.803 -71,7% Autazes Amazonas 16.787 22.043 189 2.289 2.793.446 23.980.028 17.737.204 35,2% Barcelos Amazonas 11.871 15.493 50 672 934.636 7.675.245 14.093.825 -45,5% Barreirinha Amazonas 14.342 17.251 72 1.642 1.002.354 16.671.054 15.766.404 5,7% Benjamin Constant Amazonas 25.327 16.693 143 2.255 2.524.142 25.046.136 17.737.204 41,2% Beruri Amazonas 9.673 9.585 34 951 319.386 9.941.860 11.824.803 -15,9% Boa Vista do Ramos Amazonas 9.466 9.315 57 501 800.132 5.090.161 11.824.803 -57,0% Boca do Acre Amazonas 21.460 12.516 288 1.522 4.468.452 16.638.442 15.766.404 5,5% Borba Amazonas 16.748 23.817 216 1.800 2.778.947 19.418.394 17.737.204 9,5% Caapiranga Amazonas 6.031 6.846 10 229 187.012 2.320.197 -

Amazonas , 02 De Agosto De 2018 • Diário Oficial Dos Municípios Do Estado Do Amazonas • ANO IX | Nº 2162
Amazonas , 02 de Agosto de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO IX | Nº 2162 ESTADO DO AMAZONAS modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE MUNICÍPIO DE AMATURÁ PREÇOS Nº 018/2018 - CPL para AQUISIÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE AMATURÁ/AM; COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitados todos DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO os prazos estabelecidos pela legislação vigente; CONSIDERANDO a inexistência de recursos pendentes ao referido O PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ, no uso de suas procedimento licitatório; atribuições legais e, CONISDERANDO a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, datada de 05/07/2018, edição 2142 e no CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo, Diário Oficial da União, seção 3 de 04/07/2018; oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação RESOLVE: I – HOMOLOGAR o resultado da licitação do Pregão Presencial Expediente: SRP nº. 018/2018 - SRP – Objeto: “AQUISIÇÃO VEÍCULO Associação Amazonense de Municípios - AAM UTILITÁRIO TIPO PICK UP PARA ATENDER A DEMANDA Conselho Diretor OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE AMATURÁ/AM”. II - Os itens para a empresa: F E AUTO LOCADORA LTDA (AUTOMIX MOTORS), CNPJ nº 14.173.231/0001-01, vencedora Presidente: ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE, Prefeito do Certame: item 01 com o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) Municipal de Autazes e item 02 com o valor de R$ 115.900,00 (cento e quinze mil e Vice-Presidente: VAGO novecentos reais). Primeiro Secretário: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Maués Segundo Secretário: VAGO III – Publique-se o presente despacho na forma da Lei, para fins de Primeiro Tesoureiro: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito eficácia. -
Boletim Informativo Pauini
secretaria de estado de assitência social DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - DGSUAS BOLETIM INFORMATIVO SOCIOECÔNOMICO N°12/2020 MANAUS - AM 2020 IDENTIFICAÇÃO MUNICÍPIO PAUINÍ Pauini é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, Região Norte do país. Está localizado na mesorregião do Sul Amazonense e na microrregião de Boca do Acre. Sua população é de 19 426 habitantes, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019. TOTAL DA POPULAÇÃO 3.483.985 ESTADO DO AMAZONAS 19.426 0,55% POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 7.176 MULHERES 3.744 Crianças e Adolescentes 52% Do total de moradores 7.898 são do sexo Masculino 15.074 HOMENS TOTAL DE MORADORES 3.855 Crianças e Fonte: IBGE/CENSO2010 Adolescentes Elaborado por Vívia Menezes - Psicóloga - DGSUAS PERFIL SOCIOECONÔMICO MUNICÍPIO PAUINÍ PERFIL DAS FAMÍLIAS 3.974 14.383 TOTAL DE FAMÍLIAS TOTAL DE PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO RENDA CONDIÇÕES DE MORADIA AcimaAcim dea d1/2e S.M1/2 S.M 3913.6%5(9,9%) Até R$ 89,00 3.Até16 R$4 89,00(79%) (26%Alvenaria 30.3% Entre R$ 178,00 1.137) até 1/2 S.M Pode-se destacar 3.974 Total das famílias 268 que o número de 48%Madeira (1.691) (6,7%) famílias com Renda de 00 e 1/2 S.M. Até R$89,00, ou seja, 5% 3.974 que se encontram em 0,1% Outro material TOTAL DE FAMÍLIAS (11) INSERIDAS NO CADASTRO situação de extrema ÚNICO probreza, é de3.164 3.974 das famílias moram em casas de madeira, Entre R$ 89,01 até R$ 178,00 ou seja, a maior parte do total, perfazendo assim 48%. -

Entre Rios E a Cidade: Os Flutuantes De Tapauá No Amazonas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS - ICHL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGEO ENTRE RIOS E A CIDADE: OS FLUTUANTES DE TAPAUÁ NO AMAZONAS ARLAN JUSTINO FROTA MANAUS 2017 ARLAN JUSTINO FROTA ENTRE RIOS E A CIDADE: OS FLUTUANTES DE TAPAUÁ NO AMAZONAS Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Geografia, área de concentração Amazônia: Território e Ambiente. Linha de pesquisa: Espaço, Território e Cultura na Amazônia – UFAM, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Geografia. Orientador: Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira MANAUS 2017 Ficha Catalográfica Ficha catalográfica elaborada automaticamente de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). Frota, Arlan Justino F941e Entre rios e a cidade: os flutuantes de Tapauá no Amazonas / Arlan Justino Frota. 2017 157 f.: il. color; 31 cm. Orientador: Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Amazonas. 1. Amazônia. 2. Bairro Flutuante. 3. Tapauá. 4. Moradia popular. I. Oliveira, Prof. Dr. José Aldemir de II. Universidade Federal do Amazonas III. Título Poder Executivo Ministério da Educação Universidade Federal do Amazonas ICHL/DEGEO/Programa de Pós-Graduação em Geografia Mestrado Conceito 4 - Aprovado pela Resolução nº 009 – CONSUNI de 17/08/95 Credenciado pela CAPES em set/2000 O Reconhecido através da Portaria N 1.077-MEC, de 31 de agosto de 2012 P O R T A R I A No 004/ 2017 O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS -

A Sombra Do Garimpo No Rio Pauini, Sul Do Amazonas. Claudina Maximiano De Azevedo
A sombra do garimpo no rio Pauini, sul do Amazonas. Claudina Maximiano de Azevedo. IFAM. Chris Lopes da Silva. UFAM. Evangelista da Silva de Araújo Apurinã. OPIAJ. Resumo A proposta deste artigo se estrutura a partir das entrevistas e vivências de campo de pesquisa no município de Pauini, região do sul do estado do Amazonas. A discussão faz parte de um recorte da pesquisa de doutorado em andamento sobre histórias de resistência indígena em Pauini e parte, especialmente, das reflexões produzidas a partir de um conjunto de entrevistas publicadas no livro “Mineração e garimpo em terras tradicionalmente ocupadas: conflitos sociais e mobilizações étnicas”. A presença de dragas e flutuantes próximos à comunidade Santa Maria, no rio Pauini, preocupa os povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem naquela região. A área em que o rio se localiza está em processo de reivindicação por comunidades ribeirinhas e também pelos Apurinã da Terra Indígena Kapyra/Kanakury e, mais recentemente, o governo do estado do Amazonas estuda a destinação da área para a criação de uma reserva. O garimpo ilegal surge como uma sombra que ameaça as populações e exige medidas de resistência uma vez que potencializa o desmatamento e os conflitos sociais na região. O material foi coletado em 2019 por entrevistas, análise de documentos públicos e pesquisa de campo. Registro e evidências visuais das dragas foram evitadas por segurança dos envolvidos. Palavras chaves: Garimpo; Indígenas; Ribeirinhos. Introdução O contexto político brasileiro nunca foi tão desfavorável para o meio ambiente e seus povos quanto no governo atual. O sucateamento de órgãos ambientalistas, o afrouxamento da regulamentação ambiental e a franca simpatia com o agronegócio, agravam a vulnerabilidade de áreas públicas, especialmente as não destinadas, e/ou áreas protegidas, como as terras indígenas.