A 'Arte De Sujar Os Sapatos' Com a Pauta Social Grande Reportagem E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Pulitzer Prizes 2020 Winne
WINNERS AND FINALISTS 1917 TO PRESENT TABLE OF CONTENTS Excerpts from the Plan of Award ..............................................................2 PULITZER PRIZES IN JOURNALISM Public Service ...........................................................................................6 Reporting ...............................................................................................24 Local Reporting .....................................................................................27 Local Reporting, Edition Time ..............................................................32 Local General or Spot News Reporting ..................................................33 General News Reporting ........................................................................36 Spot News Reporting ............................................................................38 Breaking News Reporting .....................................................................39 Local Reporting, No Edition Time .......................................................45 Local Investigative or Specialized Reporting .........................................47 Investigative Reporting ..........................................................................50 Explanatory Journalism .........................................................................61 Explanatory Reporting ...........................................................................64 Specialized Reporting .............................................................................70 -

The Case for Imposing Targeted United Nations Sanctions Against Zimbabwean Officials
Fordham Law Review Volume 76 Issue 1 Article 8 2007 Operation "Drive Out the Trash": The Case for Imposing Targeted United Nations Sanctions Against Zimbabwean Officials Katherine Hughes Follow this and additional works at: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr Part of the Law Commons Recommended Citation Katherine Hughes, Operation "Drive Out the Trash": The Case for Imposing Targeted United Nations Sanctions Against Zimbabwean Officials, 76 Fordham L. Rev. 323 (2007). Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol76/iss1/8 This Article is brought to you for free and open access by FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. It has been accepted for inclusion in Fordham Law Review by an authorized editor of FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. For more information, please contact [email protected]. Operation "Drive Out the Trash": The Case for Imposing Targeted United Nations Sanctions Against Zimbabwean Officials Cover Page Footnote J.D. Candidate, 2008, Fordham University School of Law; M.A. Candidate, 2008, International Political Economy and Development, Fordham University Graduate School of Arts and Sciences. I extend my deepest gratitude to the many Zimbabweans who welcomed me into their country. I would also like to thank Jim Leitner; Professors Rachel Vorspan, Jeanmarie Fenrich, and Susanna Chung; and Alasdair Ferguson for their invaluable support and comments. This article is available in Fordham Law Review: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol76/iss1/8 OPERATION "DRIVE OUT THE TRASH": THE CASE FOR IMPOSING TARGETED UNITED NATIONS SANCTIONS AGAINST ZIMBABWEAN OFFICIALS KatherineHughes * In May 2005, representatives of PresidentRobert Mugabe's government initiated a slum-clearance campaign entitled Operation Murambatsvina, which displaced nearly one million Zimbabweans. -

Freedom of the Press 2007
FREEDOM OF THE PRESS 2007 needs updating FREEDOM OF THE PRESS 2007 A Global Survey of Media Independence EDITED BY KARIN DEUTSCH KARLEKAR AND ELEANOR MARCHANT FREEDOM HOUSE NEW YORK WASHINGTON, D.C. ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC. LANHAM BOULDER NEW YORK TORONTO PLYMOUTH, UK ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC. Published in the United States of America by Rowman & Littlefield Publishers, Inc. A wholly owned subsidiary of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, MD 20706 www.rowmanlittlefield.com Estover Road, Plymouth PL6 7PY, United Kingdom Copyright © 2007 by Freedom House All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. ISSN 1551-9163 ISBN-13: 978-0-7425-5435-1 (cloth : alk. paper) ISBN-10: 0-7425-5435-X (cloth : alk. paper) ISBN-13: 978-0-7425-5436-8 (pbk. : alk. paper) ISBN-10: 0-7425-5436-8 (pbk. : alk. paper) Printed in the United States of America The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI/NISO Z39.48-1992. Table of Contents Acknowledgments, vii The Survey Team, ix Survey Methodology, xix Press Freedom in 2006, 1 Karin Deutsch Karlekar Global and Regional Tables, 17 Muzzling the Media: The Return of Censorship in the Common- wealth of Independent States, 27 Christopher Walker Country Reports and Ratings, 45 Freedom House Board of Trustees, 334 About Freedom House, 335 Acknowledgments Freedom of the Press 2007 could not have been completed without the contributions of numerous Freedom House staff and consultants. -

Special 75Th Anniversary Issue
NIEMAN REPORTS SUMMER/FALL 2013 VOL. 67 NO. 2-3 Nieman Reports The Nieman Foundation for Journalism Harvard University One Francis Avenue Cambridge, Massachusetts 02138 VOL. 67 NO. 2-3 SUMMER-FALL 2013 TO PROMOTE AND ELEVATE THE STANDARDS OF JOURNALISM 75 TH ANNIVERSARY ISSUE THE NIEMAN FOUNDATION AT HARVARD UNIVERSITY Special 75th Anniversary Issue Agnes Wahl Nieman The Faces of Agnes Wahl Nieman About the cover: British artist Jamie Poole (left) based his portrait of Agnes Wahl Nieman on one of only two known images of her—a small engraving from a collage published in The Milwaukee Journal in 1916—and on the physical description she provided in her 1891 passport application: light brown hair, bluish-gray eyes, and fair complexion. Using portraits of Mrs. Nieman’s mother and father as references, he worked with cut pages from Nieman Reports and from the Foundation’s archival material to create this likeness. About the portrait on page 6: Alexandra Garcia (left), NF ’13, an Emmy Award-winning multimedia journalist with The Washington Post, based her acrylic portrait with collage on the photograph of Agnes Wahl Nieman standing with her husband, Lucius Nieman, in the pressroom of The Milwaukee Journal. The photograph was likely taken in the mid-1920s when Mrs. Nieman would have been in her late 50s or 60s. Garcia took inspiration from her Fellowship and from the Foundation’s archives to present a younger depiction of Mrs. Nieman. Video and images of the portraits’ creation can be seen at http://nieman.harvard.edu/agnes. A Nieman lasts a year ~ a Nieman lasts a lifetime SUMMER/FALL 2013 VOL. -
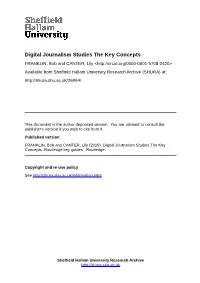
Digital Journalism Studies the Key Concepts
Digital Journalism Studies The Key Concepts FRANKLIN, Bob and CANTER, Lily <http://orcid.org/0000-0001-5708-2420> Available from Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA) at: http://shura.shu.ac.uk/26994/ This document is the author deposited version. You are advised to consult the publisher's version if you wish to cite from it. Published version FRANKLIN, Bob and CANTER, Lily (2019). Digital Journalism Studies The Key Concepts. Routledge key guides . Routledge. Copyright and re-use policy See http://shura.shu.ac.uk/information.html Sheffield Hallam University Research Archive http://shura.shu.ac.uk <BOOK-PART><BOOK-PART-META><TITLE>The key concepts</TITLE></BOOK- PART-META></BOOK-PART> <BOOK-PART><BOOK-PART-META><TITLE>Actants</TITLE></BOOK-PART- META> <BODY>In a special issue of the journal Digital Journalism, focused on reconceptualizsing key theoretical changes reflecting the development of Digital Journalism Studies, Seth Lewis and Oscar Westlund seek to clarify the role of what they term the “four A’s” – namely the human actors, non-human technological actants, audiences and the involvement of all three groups in the activities of news production (Lewis and Westlund, 2014). Like Primo and Zago, Lewis and Westlund argue that innovations in computational software require scholars of digital journalism to interrogate not simply who but what is involved in news production and to establish how non-human actants are disrupting established journalism practices (Primo and Zago, 2015: 38). The examples of technological actants -

The Pirates of Somalia: Opportunistic Predators Or Environmental Prey?
William & Mary Environmental Law and Policy Review Volume 34 (2009-2010) Issue 2 Article 3 February 2010 The Pirates of Somalia: Opportunistic Predators or Environmental Prey? Ranee Kooshie Lal Panjabi Follow this and additional works at: https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr Part of the Transportation Law Commons Repository Citation Ranee Kooshie Lal Panjabi, The Pirates of Somalia: Opportunistic Predators or Environmental Prey?, 34 Wm. & Mary Envtl. L. & Pol'y Rev. 377 (2010), https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/ vol34/iss2/3 Copyright c 2010 by the authors. This article is brought to you by the William & Mary Law School Scholarship Repository. https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr THE PIRATES OF SOMALIA: OPPORTUNISTIC PREDATORS OR ENVIRONMENTAL PREY? DR. RANEE KHOOSHIE LAL PANJABI* INTRODUCTION ........................................... 377 I. THE SCENE ........................................ 383 A. International Law Definition of Piracy........... 383 B. Demography ................................ 386 C. Brief Historical Background I .................. 392 D. Brief Historical Background II—The Role of the United Nations in Somalia .................... 401 II. THE ENVIRONMENTAL CRISIS ......................... 416 A. Introduction: Environmental Degradation of Somalia .................................... 416 B. Ocean Pollution.............................. 419 C. Overfishing by Foreigners ..................... 432 III. POVERTY, PIRACY AND PLENTY ........................ 446 IV. THE PIRACY CRISIS ................................ -

Air Line Pilot May 2018 Canada Post: Return Undeliverables to P.O
May 2018 ALSO IN THIS ISSUE: » Human Trafficking » Sleep Apnea » Brexit Update Air page 50 page 58 page 47 Line PilOt Official Journal of the Air Line Pilots Association, International ALPA-PAC ROLL OF THE DISTINCTION PILOT- page 29 PARTISAN AGENDA 7th Edition page 18 ALPA INSPIRES AT WOMEN PRINTED IN THE U.S.A. IN AVIATION CONFERENCE page 48 TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM twitter.com/wearealpa facebook.com/WeAreALPA instagram.com/we_are_alpa ■ ■ ■ MAY 2018 Contents VOLUME 87, NUMBER 4 COMMENTARY 5 OUR UNION THE PILOT-PARTISIAN AGENDA ALPA-PAC Rules, What Rules? WE NEED A STRONG ALPA-PAC TO PROTECT OUR CAREERS! 6 GUEST COMMENTARY Members of Congress fly thousands of miles each Safety Front and Center year on our aircraft to and from Washington, D.C. alpa-pac helps us 7 GUEST COMMENTARY But not all of them know about the issues that guide, educate, build Fair and Balanced Labour affect our careers. relationships, and inform the decision- Relations makers who control our ABOUT THE COVER industry. From left, F/Os Brendan Cantwell PILOT-PARTISAN (Delta), Alex Cole (United), and Jack AGENDA Lux (FedEx Express) visit Members of ns in Congress c Congress to promote ALPA’s pro-pilot PILOTS mpio an’t a r priorities. Photo by Chris Weaver. ch et Flying Above n ai 18 sa n ti th the Noise r e AIR LINE PILOT (ISSN 0002-242X) IS PUB- pa ir - s LISHED MONTHLY EXCEPT FOR COMBINED t e o a JANUARY/FEBRUARY AND JUNE/JULY ISSUES il t FAA Reauthorization and 19 p s BY THE AIR LINE PILOTS ASSOCIATION, r f Advancing ALPA’s Pilot- u o INTER NATIONAL, AFFILIATED WITH AFL-CIO, o r e e the PAC CLC. -

THE LONG WALK Arcgis and Harvard’S Center for Geographic Analysis Help Tell the Story of an Epic Global Adventure
THE LONG WALK ArcGIS and Harvard’s Center for Geographic Analysis help tell the story of an epic global adventure. By A. J. Mangum It’s the middle of the night in Eden Walk, an eight-year journalistic pro- Embracing a “slow journalism” ap- Baku, Azerbaijan. American journalist Paul ject in which he’s retracing—on foot—the proach—with narratives built on im- Salopek sits in his room in a cheap hotel— path of prehistoric human migration. In the promptu encounters and the quiet, daily a former shoe factory—where he’s at work process, he is writing about the people he lives of his subjects—Salopek produces on a story about his encounters with people meets and the cultures he experiences. articles and photography for the project’s along the contested border between South Salopek’s journey began in January 2013, website (www.outofedenwalk.com) and for Ossetia and the former Soviet Republic of in Ethiopia—widely considered by archae- National Geographic magazine. Geospatial Georgia. As 3:00 a.m. approaches, Salopek ologists to be modern humanity’s point data figures heavily in Salopek’s storytell- reconstructs a scene in which an old of origin—and has, thus far, taken him ing. Maps serve as illustrations for many woman passes him a bowl of food through north, across the Red Sea to the Arabian of his dispatches, while stand-alone maps the concertina wire marking the bound- Peninsula and into the Levant and the offer substantive sidebar material that ary separating Georgia and the breakaway Caucasus. From Azerbaijan, Salopek will puts his travels and experiences in a clear region. -

Pulitzer Prize Winners and Finalists
WINNERS AND FINALISTS 1917 TO PRESENT TABLE OF CONTENTS Excerpts from the Plan of Award ..............................................................2 PULITZER PRIZES IN JOURNALISM Public Service ...........................................................................................6 Reporting ...............................................................................................24 Local Reporting .....................................................................................27 Local Reporting, Edition Time ..............................................................32 Local General or Spot News Reporting ..................................................33 General News Reporting ........................................................................36 Spot News Reporting ............................................................................38 Breaking News Reporting .....................................................................39 Local Reporting, No Edition Time .......................................................45 Local Investigative or Specialized Reporting .........................................47 Investigative Reporting ..........................................................................50 Explanatory Journalism .........................................................................61 Explanatory Reporting ...........................................................................64 Specialized Reporting .............................................................................70 -

ENDNOTES Endnotes
CHAPTER 1 ENDNOTES Endnotes 1 Guantánamo Remarks Cost Policy Chief His Job, CNN (Feb. 2, 2007), available at http://www.cnn. com/2007/US/02/02/gitmo.resignation (“When corporate CEOs see that those firms are representing the very terrorists who hit their bottom line back in 2001, those CEOs are going to make those law firms choose between representing terrorists or representing reputable firms.”). 2 Task Force staff interview with Moazzam Begg, Omar Deghayes, Bisher al-Rawi (Apr. 17, 2012) [hereinafter Begg, Deghayes, al-Rawi Interview]. 3 Neil A. Lewis, U.S. Military Eroding Trust of Detainees, Lawyers Say, N.Y. TIMES (Mar. 9, 2005), available at http://www.nytimes.com/2005/03/08/world/americas/08iht-gitmo.html (“Another lawyer, Marc Falkoff of New York, whose firm represents several Yemenis at the naval base in Cuba, said some of his clients had told him that a person who said he was a lawyer and had civilian clothes had conferred several times with some detainees. That person, Falkoff said his clients had told him, later appeared at the detention center in uniform, leading the inmates to distrust anyone claiming to be a lawyer and acting in their interest.”). See also Neil A. Lewis, Detainee’s Lawyer Says Captors Foment Mistrust, N.Y. TIMES (Dec. 7, 2005), available at http://www.nytimes.com/2005/12/07/international/07hamdan.html (“The Guantánamo authorities violated a court order by moving a prisoner from the general population there and placing him in close contact with a hard-core operative for Al Qaeda known for urging detainees to refuse to cooperate with their lawyers, according to papers filed with the United States District Court here by Lt. -

Russell, James A. : Innovation in the Crucible of War: the United States
INNOVATION IN THE CRUCIBLE OF WAR: THE UNITED STATES COUNTERINSURGENCY CAMPAIGN IN IRAQ, 2005-2007 By James A. Russell War Studies Department King’s College, University of London Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD, July 2009 ABSTRACT This dissertation critically examines the conduct of counterinsurgency operations in Iraq by a series of U.S. Army and Marine Corps units operating in Anbar and Ninewa provinces in Iraq from late 2005 through early 2007. The popular narrative of the American counterinsurgency campaign in Iraq is that military success followed the ‘surge’ of American troops in the spring 2007 and the appointment of General David Petraeus as the ground commander committed to counterinsurgency operations. While both factors were undoubtedly important in America’s counterinsurgency campaign in Iraq, the research in this book demonstrates that this narrative is somewhat misleading. I argue that by the time Petraeus took over command to “rescue” the counterinsurgency campaign in early 2007, American military units had already built successful counterinsurgency competencies and were experiencing battlefield success – most dramatically in the battle for Ramadi in the fall of 2006. The process of successful adaptation in the field began in late 2005 in Anbar and Ninewa provinces and did so with little direction from higher military and civilian authorities. I argue that that the collective momentum of tactical adaptation within the units studied here can be characterized as organizational innovation. I define innovation as the widespread development of new organizational capacities not initially present in these units when they arrived in Iraq and which had only tangential grounding in previous military doctrine. -

2015 Annual Report
Ten years ago this month, the Pulitzer Center opened its doors, a one-person shop with a donated desk, modest seed funding, and high ambitions: to fill gaps in reporting and inspire a new generation of journalists to cover the big global issues that affect us all. We’ve come a long way—building a talented staff, supporting hundreds of journalists, forging partnerships with strong news-media organizations and with educational institutions across the globe. We are contributing in ways that a decade ago we would never have imagined, from the innovative use of video reporting, photography and data interactives to the creation of online curricular materials such as our new Lesson Builder that make Pulitzer Center journalism available to classrooms everywhere. But while proud of our achievements we also know that the challenges have only gotten larger. Every “legacy” news organization is under stress. The explosion of social-media platforms that has knit the world vever closer has also proved a potent fuel for fear, misunderstanding, and demagoguery. Too many of our schools fail to engage students with the world beyond. Over the past year we have tried, as ever, to be a force for engagement. In journalism, through extraordinary projects like Matt Black’s photo essay “Geography of Poverty.” In face-to-face meetings, such as the Ecological Civilization conference we organized in Beijing. And by working with colleagues, including a joint hostile-environment training initiative with Thomson Reuters, to assure the safety of the freelance journalists on whom our knowledge of the world increasingly depends. What follows are highlights from another memorable year.